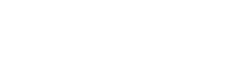PPC Nº 1/CG AGRB ER/UFFS/2012
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA – BACHARELADO
Erechim(RS), outubro de 2012.
IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
A Lei número 12.029, de 15 de setembro de 2009, dispõe sobre a criação da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS. De acordo com o art. 1º a UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul), é de natureza jurídica autárquica, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro no Município de Chapecó, Estado de Santa Catarina. Conforme o art. 2º, a UFFS terá por objetivo ministrar ensino superior, desenvolver pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão universitária, caracterizando sua inserção regional mediante atuação multicampi, abrangendo, predominantemente, o norte do Rio Grande do Sul, com campi nos Municípios de Cerro Largo e Erechim, o oeste de Santa Catarina, com campus no Município de Chapecó, e o sudoeste do Paraná e seu entorno, com campi nos Municípios de Laranjeira do Sul e Realeza.
Endereço da Reitoria:
Avenida Getúlio Vargas, nº. 609, 2º andar/ Edifício Engemed Bairro Centro - CEP 89812-000 – Chapecó/SC.
Reitor: Jaime Giolo
Vice-Reitor: Antonio Inácio Andrioli
Pró-Reitora de Graduação: Claudia Finger-Kratochvil
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação: Joviles Vitório Trevisol
Pró-Reitor de Planejamento: Vicente de Paula Almeida Júnior
Pró-Reitor de Administração e Infraestrutura: Péricles Luiz Brustolin
Pró-Reitor de Cultura e Extensão: Geraldo Ceni Coelho
Coordenadores de Unidades de Chapecó (SC) Unidade Seminário: Darlan Cristiano Kroth Unidade Bom Pastor: Antonio Valmor de Campos
Dirigentes de Cerro Largo (RS)
Diretor de Campus: Edemar Rotta
Coordenador Administrativo: Melchior Mallmann Coordenador Acadêmico: Ivann Carlos Lago
Dirigentes de Erechim (RS)
Diretor de Campus: Ilton Benoni da Silva Coordenador Administrativo: Dirceu Benincá
Coordenador Acadêmico: Luís Fernando Santos Corrêa da Silva
Dirigentes de Laranjeiras do Sul (PR)
Diretor de Campus: Paulo Henrique Mayer Coordenador Administrativo: Fernando Zatt Schardosin Coordenador Acadêmico: Betina Muelbert
Dirigentes de Realeza (PR)
Diretor de Campi: João Alfredo Braida Coordenador Administrativo: Jaci Poli Coordenador Acadêmico: Antônio Marcos Myskiw
Sumário
3 EQUIPE DE COORDENAÇÃO E DE ELABORAÇÃO DO PPC 19
5 REFERENCIAIS ORIENTADORES (ÉTICO-POLÍTICOS, EPISTEMOLÓGICOS, METODOLÓGICOS E LEGAIS) 24
- ESTRUTURACURRIC ULAR DO CURSO DEAGRONOMIA COM ÊNFASE EM AGROECOLOGIA DA UFFS............................................................................................. 31
9 PROCESSO PEDAGÓGICO E DE GESTÃO DO CURSO E PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 185
11 ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 190
12 PERFIL DOCENTE (COMPETÊNCIAS, HABILIDADES, COMPROMETIMENTO, ENTRE OUTROS) E PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO 193
15 ANEXOS 209
QUADRO DE AVALIAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO.............................................................................................................. 209
1 DADOS GERAIS DO CURSO
O curso de Graduação em Agronomia, bacharelado presencial integral, da Universidade Federal da Fronteira Sul, ocorre nos três estados onde está situada, nos campi de: Cerro Largo (RS), Chapecó (SC), Erechim (RS) e Laranjeiras do Sul (PR) iniciou suas atividades em março de 2010. São ofertadas 50 vagas/ano e a carga horária total é de 4515 horas/relógio, o que corresponde a 5418 horas/aula.
O curso de Agronomia foi criado para atender a uma demanda regional onde a agricultura familiar é uma das principais características. Desta forma tem compromisso com o desenvolvimento do espírito científico e com a formação de sujeitos autônomos, com atuação profissional crítica e criativa na identificação e resolução de problemas. Este deverá capacitar o agrônomo com uma visão interdisciplinar do seu campo de conhecimento, possibilitando a interação com outros profissionais das mais diversas áreas do conhecimento. Assim, o curso contribuirá na formação de profissionais, que possam atuar nos segmentos da agricultura, pecuária e meio ambiente, e também sejam capazes de promover o manejo sustentável e a recuperação de ecossistemas bem como a conservação e preservação dos recursos naturais.
O curso tem como ênfase a agroecologia. Entende-se por agroecologia ciência que tem suas raízes nos métodos e práticas tradicionais de manejo produtivo dos ecossistemas pelas populações camponesas, que se baseiam na valorização dos recursos naturais disponíveis em cada localidade. Seus princípios apontam caminhos que evidenciam uma perspectiva clara de construção de uma concepção de sustentabilidade, abrindo as portas para novas práticas sociais, incluindo o manejo da agricultura, pecuária e da organização social.
O profissional formado deverá ter sólido conhecimento técnico científico no campo da agronomia, com ênfase em agroecologia, tendo espírito empreendedor e criativo, apto a avaliar, planejar, manejar e monitorar agroecossistemas, junto com os agricultores e seguindo princípios e processos ecológicos.
1.1 Tipo de curso: Bacharelado
1.2 Modalidade: Presencial
1.3 Denominação do Curso: Agronomia
1.4 Titulação: Bacharel Agronomia
1.5 Local de oferta: Cerro Largo (RS), Chapecó (SC), Erechim (RS) e Laranjeiras do Sul (PR)
1.6 Número de vagas anuais: 50 vagas
1.7 Carga-horária total: 4.515 horas
1.8 Turno de oferta: integral
1.9 Forma de acesso ao curso:
Em conformidade com os critérios estabelecidos pela Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), a seleção dos candidatos nos processos de ingresso para o curso de graduação em Agronomia levará em conta o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou outras formas de acesso, sempre que definidas pela UFFS. Ainda, como critério classificatório, será considerado o tempo de formação do candidato em escolas públicas, tendo em vista o compromisso assumido pela Universidade no que diz respeito ao combate às desigualdades sociais e regionais, incluindo condições de acesso e permanência na Educação Superior, especialmente da população mais excluída do campo e da cidade.
Demais formas de acesso respeitarão as determinações do Regimento Geral da UFFS.
2 HISTÓRICO INSTITUCIONAL
No cenário educacional brasileiro, a chegada ao século XXI está intrinsecamente vinculada às conquistas democráticas expressas em seus documentos oficiais, e indiretamente ligada aos avanços concretos efetuados no sistema de ensino, em todos os níveis, dentre os quais merecem destaque a expansão da oferta de vagas, a sistematização de processos de avaliação e o decorrente compromisso com a busca de qualidade.
Entretanto, nota-se que no período atual a questão educacional passa a ser pautada a partir de um Plano Nacional de Educação - 2000-2010 (PNE) -, cujos objetivos vão além daqueles que orientaram suas primeiras concepções estabelecidas desde a década de 1930 - e de modo muito mais acentuado com a LDB 5692/71 e com a adesão à Teoria do Capital Humano, dos anos 70 e 80 -, que estiveram limitadas a conceber o desenvolvimento educacional em sua acepção econômica, ou seja, que o papel da educação estava circunscrito ao de agente potencializador do desenvolvimento econômico.
Os objetivos do PNE, publicado em 2001, buscam elevar o nível de escolaridade da população, melhorar a qualidade do ensino em todos os níveis, reduzir as desigualdades sociais e regionais no que concerne ao acesso do estudante à escola e à sua permanência nela, e em democratizar a gestão do ensino público. Assim, a concepção imanente ao plano que orienta o desenvolvimento da educação brasileira toma-a como base constitutiva da maturação de processos democráticos, o que indica uma mudança substantiva, porém somente realizável pela superação de problemas que persistem.
Neste sentido, não somente para a educação, mas na política nacional de um modo geral, buscou-se o diálogo mais sistemático com os movimentos sociais. Por vezes até mesmo se realizou a inserção indireta de alguns deles na estrutura do Estado. Apesar de controversa, é possível considerar essa estratégia como um passo, ainda que modesto, no horizonte da democratização do país.
Quanto ao ensino superior, os desafios que se apresentam ainda no século XXI correspondem à reduzida oferta de vagas nas instituições oficiais, a distribuição desigual
das Instituições de Ensino Superior (IES) sobre o território nacional, e a descontrolada oferta de vagas no setor privado, comprometendo, dessa forma, a qualidade geral do ensino superior.
A busca pela superação desse quadro de carências foi gradualmente trabalhada nos últimos 10 anos. Ainda que não se tenham alcançado os objetivos almejados no momento da elaboração do PNE, as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) lograram participar do Programa de Apoio à Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), com vistas a cumprir o que se pretendeu com o PNE. Todavia, durante o período do Plano, permanecemos distantes do seus objetivos quanto ao número de jovens no ensino superior – de 30% – e da participação das matrículas públicas neste total – 40%. Os percentuais atingidos até o momento são de 12,1% e 25,9%, respectivamente1.
Por meio da adesão das IFES ao REUNI, estabeleceu-se uma política nacional de expansão do ensino superior, almejando alcançar a taxa de 30% de jovens entre 18 e 24 anos matriculados no ensino superior, aumentar para 90% a taxa de conclusão de cursos de graduação, e atingir a relação de 18 alunos por professor nos cursos presenciais. Todavia, aspectos qualitativos também foram considerados, quais sejam: a formação crítica e cidadã do graduando e não apenas a formação de novos quadros para o mercado de trabalho; a garantia de qualidade da educação superior por meio do exercício pleno da universidade no que tange às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão; a oferta de assistência estudantil; sem esquecer da interface com a educação básica, que tem suscitado o fortalecimento das licenciaturas.
Dentre as mobilizações pela educação superior, houve aquelas que reivindicavam a expansão das IFES, especialmente no interior dos estados, pois nesses espaços o acesso ao ensino superior implicava dispêndios consideráveis, sejam financeiros, quando se cursava uma universidade privada, sejam de emigração, quando se buscava uma universidade pública próxima aos grandes centros.
Contudo, para cotejar aspectos indicativos das transformações na e da educação superior brasileira na primeira década do século XXI é imprescindível destacar que novas contradições emergiram como resultados do enfrentamento, ainda tateante, de questões estruturais neste âmbito, e que estas merecem ser abordadas com o necessário
1 http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento
vigor democrático para contemplar as adversidades resultantes da pluralidade de concepções acerca do o papel que a educação e a universidade devem cumprir para o nosso país.
Neste contexto de reivindicações democráticas, a história da Universidade Federal da Fronteira Sul começa a ser forjada nas lutas dos movimentos sociais populares da região. Lugar de denso tecido de organizações sociais e berço de alguns dos mais importantes movimentos populares do campo do país, tais características contribuíram para a formulação de um projeto de universidade e para sua concretização. Entre os diversos movimentos que somaram forças para conquistar uma universidade pública e popular para a região, destacam-se a Via Campesina e Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar da Região Sul (Fetraf-Sul) que assumiram a liderança do Movimento Pró-Universidade.
Inicialmente proposta de forma independente nos três estados, a articulação de uma reivindicação unificada de uma universidade pública para toda a região - a partir de 2006 - deu um impulso decisivo para sua conquista.
A Mesorregião Grande Fronteira do MERCOSUL e seu entorno possui características específicas que permitiram a formulação de um projeto comum de universidade. É uma região com presença marcante da agricultura familiar e camponesa e a partir da qual se busca construir uma instituição pública de educação superior como ponto de apoio para repensar o processo de modernização no campo, que, nos moldes nos quais foi implementado, foi um fator de concentração de renda e riqueza.
Para fazer frente a esses desafios, o Movimento Pró-Universidade apostou na construção de uma instituição de ensino superior distinta das experiências existentes na região. Por um lado, o caráter público e gratuito a diferenciaria das demais instituições da região, privadas ou comunitárias, sustentadas na cobrança de mensalidades. Por outro lado, essa proposta entendia que para fazer frente aos desafios encontrados, era preciso mais do que uma universidade pública, era necessário a construção de uma universidade pública e popular.
Esse projeto de universidade aposta na presença das classes populares na universidade e na construção de um projeto de desenvolvimento sustentável e solidário para a região, tendo como seu eixo estruturador a agricultura familiar e camponesa. Busca, portanto, servir à transformação da realidade, opondo-se à reprodução das
desigualdades que provocaram o empobrecimento da região.
Como expressão de seu processo de discussão, o movimento pró-universidade forjou a seguinte definição que expressa os pontos fundamentais de seu projeto, servindo como base a todo o processo de construção da UFFS:
O Movimento Pró-Universidade propõe uma Universidade Pública e Popular, com excelência na qualidade de ensino, pesquisa e extensão, para a formação de cidadãos conscientes e comprometidos na identificação, compreensão, reconstrução e produção de conhecimento para a promoção do desenvolvimento sustentável e solidário da Região Sul do País, tendo na agricultura familiar e camponesa um setor estruturador e dinamizador do processo de desenvolvimento. (UFFS, 2008, p.9)2.
Desde o início a universidade foi pensada como uma estrutura multicampi, para que esta pudesse melhor atingir seus objetivos. Para o estabelecimento dos campi foram considerados diversos fatores, entre os quais: a presença da agricultura familiar e camponesa e de movimentos sociais populares, a distância das universidades federais da região sul, e a carência de instituições federais de ensino, a localização, o maior número de estudantes no Ensino Médio, o menor IDH, a infra-estrutura mínima para as atividades e a centralidade na Mesorregião. Ao final foram definidos os campi de Chapecó-SC (sede), Erechim-RS e Cerro Largo-RS, Realeza-PR e Laranjeiras do Sul- PR, já indicando possibilidades de ampliações futuras.
Neste sentido, o processo de luta pela criação da UFFS foi e tem sido a expressão concreta de parte da democratização brasileira, na medida em que, ao atender reivindicações populares, prioriza a expansão da educação superior pública e gratuita em uma região historicamente negligenciada, possibilitando que as conquistas democráticas e populares adquiram mais força.
Como resultado da mobilização das organizações sociais, o MEC aprovou, em audiência realizada em em 13 de junho de 2006, a proposta de criar uma Universidade Federal para o Sul do Brasil, com abrangência prevista para o Norte do Rio Grande do Sul, o Oeste de Santa Catarina e o Sudoeste do Paraná, e assumiu o compromisso de fazer um estudo para projetar a nova universidade.
2 UFFS. Relatório das atividades e resultados atingidos. Grupo de trabalho de criação da futura universidade federal com campi nos estados do PR, SC e RS. Março de 2008.
Com o projeto delineado pela Comissão Pró-Universidade, nova audiência com o Ministro de Estado da Educação ocorreu em junho de 2007. Na ocasião, o ministro propôs ao Movimento Pró-Universidade Federal a criação de um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnológica (IFET). Todavia, os membros do Movimento defenderam a ideia de que a Mesorregião da Fronteira Sul necessitava de uma Universidade, pois se tratava de um projeto de impacto no desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico da macrorregião sul, além de proporcionar investimentos públicos expressivos no único território de escala mesorregional ainda não contemplado com serviços desta natureza. Diante disso, decidiu-se pela criação de uma Comissão de Elaboração do Projeto, que teria a participação de pessoas indicadas pelo Movimento Pró-Universidade Federal e por pessoas ligadas ao Ministério da Educação.
Durante todo o processo de institucionalização da proposta da Universidade, o papel dos movimentos sociais foi decisivo. Em agosto, mais de quinze cidades que fazem parte da Grande Fronteira da Mesorregião do Mercosul, realizaram, concomitantemente, atos públicos Pró-Universidade, ocasião em que foi lançado o site do Movimento: www.prouniversidade.com.br. No Oeste catarinense, a mobilização ocorreu nas cidades de Chapecó, Xanxerê, Concórdia e São Miguel do Oeste. No Norte do Rio Grande do Sul, aconteceram panfletagem e manifestações nos municípios de Erechim, Palmeira das Missões, Espumoso, Sananduva, Três Passos, Ijuí, Sarandi, Passo Fundo, Soledade, Marau, Vacaria e Lagoa Vermelha. No Sudoeste do Paraná, as cidades de Francisco Beltrão e Laranjeiras do Sul realizaram seus atos públicos anteriormente.
Em outubro de 2007, o Ministro de Estado da Educação firma o compromisso do Governo em criar a Universidade. A partir disso e das discussões empreendidas pelo Movimento Pró-Universidade, a Secretaria de Educação Superior designa a Comissão de Implantação do Projeto Pedagógico Institucional e dos Cursos por meio da Portaria MEC nº 948, de 22 de novembro de 2007. O Grupo de Trabalho definiu o Plano de Trabalho e os critérios para definição da localização das unidades da Universidade. Além disso, a orientação para que a nova universidade mantivesse um alto nível de qualidade de ensino, de pesquisa e de extensão sempre foi uma preocupação no processo de constituição e consolidação da IES.
O Ministério da Educação publica, em 26 de novembro, a Portaria 948, criando
a Comissão de Projetos da Universidade Federal Fronteira Sul, a qual teve três meses para concluir os trabalhos. Em 3 de dezembro, em uma reunião do Movimento Pró- universidade, em Concórdia, o grupo decide solicitar ao Ministério da Educação que a nova universidade tenha sete campi. O MEC, todavia, havia proposto três: um para o Norte gaúcho, outro para o Oeste catarinense e o terceiro para o Sudoeste do Paraná. Chapecó/SC foi escolhida para sediar a universidade pela posição centralizada na área abrangida.
Em 12 de dezembro, pelo projeto de Lei 2.199-07, o ministro da Educação anunciou a criação da Universidade Federal para Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul (UFMM) em solenidade de assinatura de atos complementares ao Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação (PDE), no Palácio do Planalto, em Brasília.
Ainda em dezembro, a Comissão definiu a localização das unidades da Universidade – Erechim e Cerro Largo, no Rio Grande do Sul; Chapecó, em Santa Catarina; Realeza e Laranjeiras do Sul, no Paraná - e iniciou uma discussão sobre áreas de atuação da Instituição e seus respectivos cursos de graduação. Nessa reunião, os representantes do Movimento Pró-Universidade discutiram a localização da sede e dos campi, perfil, estrutura curricular, áreas de atuação e critérios para definição do nome da universidade.
A última reunião da Comissão, realizada em 21 e 22 de fevereiro de 2008, na UFSC, tratou da apreciação de recursos quanto à localização das unidades; processo, demandas e datas a serem cumpridas; áreas de atuação e cursos. Nessa reunião, a Comissão de projeto apreciou pedido de impugnação da Central do Estudante e Comitê Municipal de Santo Ângelo-RS em relação à localização do campus das Missões em Cerro Largo. O Movimento Pró-Universidade Federal havia proposto um campus para a Região das Missões e, a partir disso, os movimentos sociais definiram um processo que culminou com a decisão por Cerro Largo para sediar um dos campi. A Comissão de Projeto, em 13 de dezembro de 2007, homologou a decisão, considerando que todos os critérios definidos para fins de localização das unidades são regionais e não municipais. O pedido de impugnação toma como base os critérios de localização propostos no projeto elaborado pelo Grupo de Trabalho constituído pela Portaria 352/GR/UFSC/2006. Naquele Projeto, os critérios de localização tomam como base o município, diferente dos critérios definidos, que tomam como base a região. A Comissão
de Projeto definiu por referendar a decisão tomada em 13 de dezembro de 2007 e a cidade de Cerro Largo foi mantida como sede do campus missioneiro.
A Comissão também apreciou o pedido de revisão quanto à localização dos campi do Paraná. Recebeu e ouviu uma representação do Sudoeste do Paraná, que questionou a escolha por Laranjeiras do Sul, pelo fato do município estar fora da Mesorregião. Em resposta, a Comissão considerou os manifestos encaminhados ao MEC e todas as exposições feitas nos debates anteriores nos quais ficava evidente que a nova Universidade se localizaria na Mesorregião Fronteira Sul e seu entorno. Nesse sentido, a Região do Cantuquiriguaçu (PR), onde está Laranjeiras do Sul, faz parte do território proposto, não havendo pois razão para rever a decisão tomada em 13 de dezembro de 2007.
Em março de 2008, o Grupo de Trabalho de Criação da Futura Universidade Federal da Fronteira Sul finalizou sua tarefa. Em 16 de julho, o Presidente da República assina o Projeto de Lei de criação da Universidade da Mesorregião, no Palácio do Planalto, em Brasília, para enviar ao Congresso Nacional. O PL 3774/08 (que cria a UFFS) é aprovado em 12 de novembro pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público.
Em 4 de dezembro, uma comitiva dos três estados da Região Sul esteve em audiência na secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC), buscando agilizar os trâmites para a implantação da UFFS. Ficou acertado que as aulas deveriam iniciar no primeiro semestre de 2010. Perseguindo essa meta, o Ministro da Educação, em 11 de fevereiro de 2009, deu posse à Comissão de Implantação da UFFS (Portaria nº 148).
Na definição dos cursos de graduação, a Comissão de Implantação da UFFS priorizou as áreas das Ciências da Agrárias e das Licenciaturas, tendo em vista a importância da agroecologia para a Região, a necessidade de tratamento dos dejetos, os problemas ambientais gerados pelas agroindústrias, as perspectivas da agricultura familiar e camponesa, e a sua centralidade no projeto de desenvolvimento regional proposto pela Instituição etc.; já o foco nas licenciaturas se justifica pela integração às políticas do governo federal de valorizar as carreiras do magistério. Nessa referência, em maio de 2009, foram construídas as primeiras versões dos projetos pedagógicos dos cursos. Em maio de 2009 foram definidas as primeiras versões dos projetos pedagógicos
dos cursos de graduação.
No âmbito da graduação, além das atividades de extensão e de pesquisa, o currículo foi organizado em torno de um domínio comum, um domínio conexo e um domínio específico. Tal forma de organização curricular tem por objetivo assegurar que todos os estudantes da UFFS recebam uma formação ao mesmo tempo cidadã, interdisciplinar e profissional, possibilitando aperfeiçoar a gestão da oferta de disciplinas pelo corpo docente e, como consequência, ampliar as oportunidades de acesso à comunidade.
Em julho, a Comissão de Implantação da UFFS decide usar o Enem – Exame Nacional do Ensino Médio – no processo seletivo, acompanhado de bônus para estudantes das escolas públicas (Portaria nº 109/2009). Para atender ao objetivo expresso no PPI de ser uma “Universidade que estabeleça dispositivos de combate às desigualdades sociais e regionais, incluindo condições de acesso e permanência no ensino superior, especialmente da população mais excluída do campo e da cidade”, a Comissão aprofunda a discussão sobre uma política de bônus que possibilite a democratização do acesso dos estudantes das escolas públicas da região à IES.
No dia 18 de agosto, a criação da UFFS é aprovada pela Comissão de Justiça do Senado e, no dia 25, é aprovada na Comissão de Educação do Senado Federal. Após um longo processo, a lei 12.029 de 15 de setembro de 2009, assinada pelo Presidente da República, criou a Universidade Federal da Fronteira Sul, concretizando, desta forma, o trabalho do Movimento Pró-Universidade alicerçado na demanda apontada pelos movimentos sociais dos três estados da região sul.
A promulgação da lei fez intensificar as atividades de estruturação da nova universidade, já que havia a meta de iniciar as atividades letivas no primeiro semestre de 2010. Em 21 de setembro de 2009, o Ministro da Educação designou o professor Dilvo Ristoff para o cargo de reitor pro-tempore da UFFS. A posse aconteceu no dia 15 de outubro de 2009 em cerimônia realizada no Salão de Atos do Ministério da Educação, em Brasília. A partir desse momento, as equipes de trabalho foram constituídas e ao longo do tempo definiram-se os nomes para constituir as pró-reitorias e as diretorias gerais para os campi de Erechim (RS), Cerro Largo (RS), Realeza (PR) e Laranjeiras do Sul (PR).
O mês de outubro de 2009 foi marcado por tratativas e definições acerca dos locais com caráter provisório para o funcionamento da universidade em cada campus. Também são assinados contratos de doação de áreas e são firmados convênios entre municípios para a compra de terrenos. Para agilizar questões de ordem prática, é feito um plano de compras de mobiliário e equipamentos para equipar a reitoria e os cinco campi, o qual foi entregue no Ministério da Educação. As primeiras aquisições foram realizadas em dezembro, mês em que foi realizada a compra dos primeiros 12 mil exemplares de livros para as bibliotecas da instituição.
O primeiro edital para seleção de professores foi publicado no Diário Oficial da União em 2 de outubro de 2009. Aproximadamente três mil candidatos se inscreveram para o concurso público que selecionou 165 professores para os cinco campi da universidade. Já a seleção dos primeiros 220 servidores técnicos administrativos foi regida por edital publicado no Diário Oficial da União em 3 de novembro de 2009. Quase 6000 candidatos inscreveram-se para as vagas disponibilizadas. A nomeação dos primeiros aprovados nos concursos acontece no final de dezembro de 2009.
A instalação da Reitoria da UFFS na cidade de Chapecó (SC) ocorreu oficialmente em 1º de março de 2010. Até então o gabinete do reitor esteve localizado junto à UFSC (tutora da UFFS). Em 11 de março foi realizada uma cerimônia para apresentação da reitoria à comunidade regional.
Com muita expectativa, no dia 29 de março de 2010, deu-se início ao primeiro semestre letivo. Simultaneamente, nos cinco campi, os 2.160 primeiros alunos selecionados com base nas notas do Enem/2009 e com bonificação para os que cursaram o ensino médio em escola pública, foram recepcionados e conheceram os espaços provisórios que ocuparão nos primeiros anos de vida acadêmica. Essa data simboliza um marco na história da Universidade Federal da Fronteira Sul. Em cada campus foi realizada programação de recepção aos estudantes com o envolvimento de toda comunidade acadêmica. O primeiro dia de aula constituiu-se num momento de integração entre direção, professores, técnicos administrativos, alunos e lideranças locais e regionais.
Desde a chegada dos primeiros professores, um trabalho intenso foi realizado no
sentido de finalizar os projetos pedagógicos dos cursos (PPCs). Importante salientar que o processo de construção coletiva dos PPCs iniciou ainda em 2009, quando foram convidados docentes de outras universidades, os quais delinearam o ponto de partida para elaboração dos dezenove projetos pedagógicos referentes aos cursos oferecidos pela UFFS no ano de 2010. Já com a chegada dos primeiros docentes concursados pela instituição, as discussões passaram a incorporar experiências e sugestões desse grupo de professores. A partir de então, a formatação dos PPCs ficou sob responsabilidade dos colegiados de curso. A organização e as definições dos projetos pedagógicos estiveram pautadas em torno de três eixos: (1) Domínio comum; (2) Domínio Conexo e (3) Domínio Específico, sendo levadas em consideração propostas de cunho multi e interdisciplinar. Por se constituir numa universidade multicampi, um dos desafios, nesse momento, foi a sistematização das contribuições dos colegiados de curso que são ofertados em mais de um campus da instituição. O trabalho foi concluído com êxito.
Outro momento importante da UFFS foi o processo de elaboração do Estatuto Provisório da instituição. Esse processo ocorreu de forma participativa, envolvendo professores, técnicos administrativos e estudantes de todos os campi. Estabeleceu-se um calendário intenso de discussões e ponderações acerca dos pontos que constituem o documento. No final do processo, uma plenária aprovou o estatuto que foi, então, enviado ao MEC. A UFFS foi concebida de modo a promover o desenvolvimento regional integrado, a partir do acesso à educação superior de qualidade e a articulação do ensino, da pesquisa e da extensão voltados para a interação e a integração das cidades e estados que fazem parte da grande fronteira do Mercosul e seu entorno. Nesse sentido, ao longo do primeiro semestre letivo, aconteceu a I Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão (I COEPE) com o tema “Construindo Agendas e Definindo rumos”. Mais uma vez, toda a comunidade acadêmica esteve envolvida. O propósito fundamental da conferência foi aprofundar a interlocução entre a comunidade acadêmica e as lideranças regionais, com o intuito de definir as políticas e as agendas prioritárias da UFFS no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. As discussões ocorridas na conferência foram organizadas em onze fóruns temáticos realizados em cada um dos campi da universidade: (1) Conhecimento, cultura e formação Humana; (2) História e memória regional; (3) Movimentos Sociais, cidadania e emancipação; (4) Agricultura familiar,
agroecologia e desenvolvimento regional; (5) Energias renováveis, meio Ambiente e sustentabilidade; (6) Desenvolvimento regional, tecnologia e inovação; (7) Gestão das cidades, sustentabilidade e qualidade de vida; (8) Políticas e práticas de promoção da saúde coletiva; (9) Educação básica e formação de professores; (10) Juventude, cultura e trabalho; (11) Linguagem e comunicação: interfaces. Após quatro meses de discussões, envolvendo os cinco campi da UFFS e aproximadamente 4.000 participantes (docentes, técnico-administrativos, estudantes e lideranças sociais ligadas aos movimentos sociais), a I COEPE finalizou os trabalhos em setembro de 2010, aprovando em plenária o Documento Final, que estabelece as políticas norteadoras e as ações prioritárias para cada uma das áreas-fim da UFFS (ensino, pesquisa e extensão).
Finalizada a COEPE, diversas ações começaram a ser empreendidas com o propósito de implementar as políticas e as ações firmadas no Documento Final. Entre as ações, cabe destacar o “Plano de Desenvolvimento da Pós-Graduação Stricto Sensu da UFFS” e as “Diretrizes para a Organização das Linhas e dos Grupos de Pesquisa da UFFS”, cujos processos encontram-se em andamento e resultarão na implantação dos primeiros cursos de mestrado e de doutorado.
Com apenas um ano de existência. muitas conquistas foram realizadas. No entanto, vislumbra-se um longo caminho a ser percorrido. Muitas etapas importantes já foram realizadas, algumas precisam ser consolidadas e outras serão definidas e construídas ao longo dos anos. Os espaços físicos começam a ser edificados, projetos de pesquisa e de extensão estão sendo desenvolvidos pelos docentes, e futuros cursos de pós-graduação começam a ganhar forma. O importante é o comprometimento e a capacidade de trabalhar colaborativamente, até então demonstrados por todos os agentes envolvidos neste processo. Muito mais que colocar em prática ideias e processos já pensados, tais agentes são responsáveis por construir uma universidade pública e popular, desenvolvendo ações para o desenvolvimento regional e para a consolidação da UFFS na grande região da fronteira sul.
Angela Derlise Stübe Antonio Alberto Brunetta Antonio Marcos Myskiw
Leandro Bordin
Leonardo Santos Leitão Vicente Neves da Silva Ribeiro
3 EQUIPE DE COORDENAÇÃO E DE ELABORAÇÃO DO PPC
3.1 Coordenação
Josimeire Aparecida Leandrini - Laranjeiras do Sul Benedito Silva Neto – Cerro Largo
Altemir José Mossi – Erechim Ines Claudete Burg - Chapecó
3.2 Elaboração
A elaboração do PPC foi assessorada pelos professores a seguir descritos: Prof. Alfredo Castamann
Prof. Altemir Mossi Profª. Denise Cargnelutti
Prof. Fabio de Oliveira Sanches Prof. Fernando Reimann Skonieski
Profª. Gean Delise Leal Pasquali Vargas Prof. Gismael Francisco Perin
Profª. Helen Treichel
Prof. Lauri Lourenço Radünz Prof. Leandro Galon
Profª. Marilia Hartmann Profª. Tarita Cira Deboni Prof. Ulisses Pereira de Mello
3.3 Núcleo docente estruturante do curso
A RESOLUÇÃO Nº 001/2011 – CONSUNI/CGRAD setembro de 2011, Institui o Núcleo Docente Estruturante no âmbito dos Cursos de Graduação da UFFS.
O NDE possui caráter consultivo e propositivo, sendo composto por docentes indicados pelo colegiado de curso, devendo ministrar, pelo menos, uma disciplina a cada ano no curso. O NDE é composto por, no mínimo 5 (cinco) professores, pertencentes ao Domínio Específico do curso, dentre eles o Coordenador, que tenham experiência de trabalho docente, atuação na extensão e na pesquisa e produção acadêmica na área. Possuindo 1 (um) docente do Domínio Comum e 1 (um) docente do Domínio Conexo.
O Núcleo Docente Estruturante – NDE de um curso de graduação, constitui-se de um grupo de professores, com atribuições acadêmicas de acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua atualização do projeto pedagógico do curso.
Prof. Dr. Alfredo Castamann (Domínio Específico) Prof. Dr. Altemir Mossi (Domínio Específico)
Profª. Dra. Denise Cargnelutti (Domínio Específico)
Prof. Ms. Fabio de Oliveira Sanches (Domínio Específico) Prof. Ms. Fernando Reimann Skonieski (Domínio Específico)
Profª. Dra. Gean Delise Leal Pasquali. Vargas (Domínio Específico) Prof. Ms. Gismael Francisco Perin (Domínio Específico)
Profª. Dra. Helen Treichel (Domínio Específico)
Prof. Dr. Lauri Lourenço Radünz (Domínio Específico) Prof. Dr. Leandro Galon (Domínio Específico)
Profª. Dr. Marilia Hartmann (Domínio Comum) Profª. Ms. Tarita Cira Deboni (Domínio Específico) Prof. Ms. Ulisses Pereira de Mello (Domínio conexo)
3.4 Comissão de acompanhamento pedagógico e curricular
Diretora de organização pedagógica: Adriana Salete Loss Pedagogas: Dariane Carlesso, Adriana Folador e Neuza Maria Franz Técnico em Assuntos Educacionais: Alexandre Luis Fassina Revisor: Robson Luiz Wazlawick (revisão referências).
4 JUSTIFICATIVA DA CRIAÇÃO DO CURSO
A Universidade Federal da Fronteira Sul beneficiará cerca de 3,7 milhões de habitantes da mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul, que compreende o norte e o noroeste do Rio Grande do Sul, o oeste de Santa Catarina e o sudoeste do Paraná, congregando 396 municípios. A região de inserção da universidade apresenta forte perfil agropecuário, destacando-se a produção de soja, trigo, milho, aves, suínos e gado de leite.
O curso de Agronomia da UFFS resultou da compreensão das transformações sociais, culturais, tecnológicas e, principalmente, ambientais que ocorrem no âmbito da exploração agrícola. As mudanças globais demandam novos conhecimentos e novas capacitações que determinam novas formas de atuação profissional no campo das ciências agrárias, num panorama que exige a implementação de ações ambientais voltadas para a sustentabilidade da agricultura. Essa nova postura teve suporte na percepção clara da necessidade urgente de formação de um profissional capacitado no âmbito agronômico, para atuar com tecnologias modernas de produção agrícola num contexto de sustentabilidade ambiental, com ênfase na preservação do meio ambiente e na destinação adequada de resíduos gerados nas atividades agropecuárias, agroindustrial e, principalmente, na produção de alimentos livres de agrotóxicos.
O Rio Grande do Sul é a quarta economia do Brasil considerando o seu Produto Interno Bruto (PIB), chegando a R$ 202,9 bilhões, correspondendo a 6,6% do PIB nacional, superado apenas pelos estados de São Paulo (33,9%), Rio de Janeiro (11,1%) e Minas Gerais (9%). Na relação entre o PIB e a população (PIB per capita) o Estado se mantém em uma posição privilegiada, com um valor de R$ 18.771,001, o que o coloca acima da média nacional que é de R$ 16.332,00 (ATLAS SOCIO ECONÔMICO DO RIO GRANDE DO SUL, 2010).
O Rio Grande do Sul, tradicionalmente, apresenta-se como um Estado que se destaca pela sua produção agrícola e pecuária. A estrutura fundiária do Estado se diferencia de acordo com a região, alternando predomínio de grandes e médias propriedades com médias e pequenas unidades de produção. Do total dos estabelecimentos do Estado 85,71% possuem menos de 50 hectares, ocupando 24,36%
da área utilizada pela agropecuária. As propriedades com mais de 500 hectares representam 1,83% dos estabelecimentos, ocupando 41,66% da área rural. As propriedades entre 50 e 500 há representam 12,46% do número total de estabelecimentos ocupando 33,98% do total da área (ATLAS SOCIO ECONÔMICO DO RIO GRANDE DO SUL, 2010).
Conforme dados do IBGE a Microrregião Geográfica de Erechim é uma das áreas formadoras da Mesorregião Geográfica do Noroeste Rio-Grandense e abrange 31 municípios, envolvendo uma área de 5.729,99 km², que representa 2,03% da área do Estado, com população de 219.832 habitantes (Contagem populacional 2007). Apresen- ta na sua maioria municípios pequenos, com população variando de 2000 a 8000 habi- tantes, sendo Erechim (Centro Local), o único com população acima de 50.000 (90.332 – Urbano: 82.018; Rural 8.314). O município de Erechim é o pólo regional dessa Mi- crorregião Geográfica.
A base econômica concentra-se no setor agropecuário caracterizando-se pela pro- dução, em pequenos estabelecimentos rurais, da policultura de produtos alimentícios e industriais, bem como, na suinocultura, associada à lavoura de milho – claramente no sistema de agricultura familiar. O perfil agrícola microrregional baseia-se nas culturas de feijão, milho, soja, trigo, cevada, centeio, dentre outras. Quanto à pecuária, destacam- se o gado leiteiro, os suínos e as aves. Em síntese, a base é a agricultura familiar.
No Rio Grande do Sul a agricultura familiar assume grande importância, pois segundo a Emater (2006) ela é responsável por 27% do Produto Interno Bruto (PIB) no Estado e produz 89% do leite, milho 74%, soja 58%, aves 74%, suínos 71%, bovinos de
corte 38% e fumo 97%.
Na região, a produção de leite apresenta elevada importância econômica e social. A produção está em torno 530.000 litros de leite ao dia, com média de 8,8 litros por matriz, contando com 6.680 produtores. Na produção de carne, a região se destaca com aves e suínos, que assumem papel importante no desenvolvimento econômico das regiões brasileiras onde estão inseridas. O setor apresenta-se como elemento chave quanto à geração de empregos, renda e exportações. As cadeias produtivas constituem elementos dinâmicos quanto ao desenvolvimento econômico e regional. A suinocultura
brasileira é uma atividade típica das pequenas propriedades rurais, o que não é diferente na região do Alto Uruguai (AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO URUGUAI GAÚCHO, 2010).
O reflorestamento é apenas baseado no plantio de árvores de rápido crescimento (Pinus, Eucalipto e Acacia) que podem substituir em diversos usos as madeiras nativas, que têm crescimento mais lento e extração mais fácil (AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO URUGUAI GAÚCHO, 2010).
No âmbito do ensino superior, um conjunto de conceitos e valores se estabelecem cotidianamente no processo de construção do saber, fazendo com que, ao mesmo tempo em que se desenvolvam pesquisas fundamentadas na possibilidade da melhoria da qualidade de vida, exija-se também a postura ética, consciente, voltada à defesa do papel do cidadão e ao resgate da história e da cultura local.
Assim, este projeto busca orientar a concepção, criação e produção dos conhecimentos a serem trabalhados no curso de Agronomia, de forma a contemplar e integrar os saberes reconhecidamente essenciais à sociedade; os fundamentos teóricos e princípios básicos dos campos de conhecimento; as técnicas, tecnologias, práticas e fazeres destes campos; e o desenvolvimento das aptidões sociais ligadas ao convívio ético e responsável. Para cumprir o seu papel, este projeto prevê a multiplicidade de concepções teóricas e práticas que permitam a aproximação progressiva das ideias constantes no paradigma da complexidade da realidade atual, adotando um enfoque pluralista no tratamento dos inúmeros temas e conteúdos, recusando posicionamentos unilaterais, normativos e doutrinários.
A educação superior, de acordo com a LDB (Lei nº 9.394/96), deve estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, particularmente os regionais e os nacionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.
Nesta sociedade, dinâmica e paradigmática, originária da revolução tecnológica, apresenta características capazes de assegurar à educação superior uma autonomia ainda não alcançada. Essa proposta curricular pretende expressar a contemporaneidade e, considerando a velocidade e dinâmica das mudanças na área do conhecimento e da produção, desenvolver habilidades cognitivas e competências sociais a partir do conhecimento, com a construção de competências, habilidades e atitudes profissionais que sintonizem os alunos com o rigor teórico e ético na reflexão dos fenômenos que são alvo de intervenção profissional.
A defasagem entre a formação agronômica e os problemas das sociedades contemporâneas, aos quais ela deveria contribuir para solucionar, decorre de
dificuldades que são, em última instância, de ordem paradigmática. Em outras palavras, o paradigma atualmente hegemônico na Agronomia constitui-se em um obstáculo que, ao impedir até mesmo que os seus profissionais definam adequadamente o seu campo de atuação, impossibilita-os de tratar os problemas da agricultura sob o ponto de vista do seu desenvolvimento sustentável.
Em contraste com esse paradigma hegemônico, a Universidade Federal da Fronteira Sul propõe um curso de Agronomia que traz como ênfase a agroecologia. Segundo o paradigma atual, a Agronomia é um campo de conhecimento que reúne disciplinas que tem no desenvolvimento econômico e na produtividade das plantas e dos animais (estes últimos em menor proporção) o seu objeto por excelência. Sendo assim, a Agronomia estaria muito mais próxima das ciências da natureza do que das ciências da sociedade. A Agronomia, ainda segundo o paradigma, constitui-se, portanto, essencialmente em uma aplicação “ad hoc de métodos de um conjunto de disciplinas que vão desde a física até a sociologia (embora sua característica mais forte seja a de uma biologia aplicada).
Essa concepção da Agronomia tem profundas consequências sobre o perfil do agrônomo, especialmente quando neste perfil constam características relacionadas à promoção do desenvolvimento sustentável.
Além disso, as concepções epistemológicas positivistas tendem a provocar uma grande dificuldade dos agrônomos em lidar com a complexidade característica do desenvolvimento da agricultura, tornando-os suscetíveis às concepções simplistas, derivadas do senso comum prevalecente entre os leigos neste campo como, por exemplo, que o desenvolvimento consiste essencialmente em aplicação de tecnologia, de que os aumentos dos rendimentos físicos sempre implicam em desenvolvimento da agricultura, etc.
A abordagem interdisciplinar abrange uma compreensão da realidade que deve estar pautada na complexidade como recurso epistemológico. O conhecimento, nesse sentido ,acontece de forma dinâmica. Entende-se assim, que a sua tarefa é integrar as disciplinas, superando esse caráter disciplinar, a partir do diálogo permeado por diferentes configurações epistêmicas.
Este curso de agronomia deverá estar centrado em um ensino que privilegie os princípios da identidade, da autonomia, da diversidade, da interdisciplinaridade, da contextualização e da flexibilidade.
Por fim, este projeto se pauta na relação do curso com a sociedade no qual está inserido, sendo elemento fundamental o constante exercício do analisar, do questionar, do sugerir novos rumos para os experimentos e experiências a serem vivenciadas pela comunidade acadêmica. O conhecimento deve ser concebido como algo socialmente construído e que decorre da interação entre os homens com o mundo.
5.1 Os fundamentos do Curso de Agronomia da UFFS
Há, porém, outra concepção na Agronomia em curso, na qual a Agroecologia têm desempenhado um papel importante. As reflexões que têm sido realizadas no campo da Agroecologia convergem para a construção de uma Agronomia como uma verdadeira "ciência da complexidade". Nesse sentido, o curso de Agronomia da UFFS, utiliza a agroecologia como uma ênfase, e constitui-se assim, esforço consciente de superação do paradigma atual na Agronomia, esforço este que, por meio do aprofundamento da sua cientificidade visa tornar a Agronomia apta a contribuir ao enfrentamento da crise climático ambiental.
De acordo com a concepção da Agronomia da UFFS, o campo da Agronomia abarca o conjunto das relações que os homens mantêm com a natureza e entre eles mesmos com o objetivo de explorar os ecossistemas cultivados. O caráter histórico e evolutivo dessas relações, e as propriedades emergentes por elas originadas, tornam imprescindível que esta Agronomia mantenha o seu foco nos processos e mecanismos subjacentes aos fatos observáveis, e não nos fatos em si. Esta visão é imprescindível para que possamos compreender os processos fundamentais responsáveis pelo caráter evolutivo da biosfera e dos seus subsistemas.
No caso da Agronomia da UFFS, a competência técnica significa a capacidade de um profissional também contribuir positivamente para que os próprios agricultores resolvam os seus problemas, independentemente da proximidade de tais problemas em relação a qualquer uma das disciplinas que compõe a Agronomia. O agrônomo deve ser um educador disposto a ensinar a sua prática, mas também a aprender a partir das
experiências dos agricultores. A competência técnica é, portanto, um aspecto indissociável da atuação do agrônomo a ser formado pela UFFS.
5.2 A inserção social como fundamento da integração entre ensino, pesquisa e extensão no Curso de Agronomia da UFFS
A relação do curso com a sociedade deve ser de análise e compreensão do momento socioeconômico e histórico vigente e, também, de crença nas possibilidades de transformação, de modo que sejam formados agrônomos com as perspectivas: do saber, do saber fazer, do ser, do prever, se desenvolver continuamente e do poder fazer. A matriz curricular proposta buscará uma formação integral e adequada do estudante no processo de uma reflexão crítica alicerçada na realidade local, regional e nacional e que esse processo de ensino esteja afinado com a pesquisa e a extensão.
Os problemas levantados pelo atual padrão de desenvolvimento da agricultura, e pelas dificuldades de assegurar a sua sustentabilidade, que não estão diretamente relacionados ao rendimento físico das culturas e criações, tendem a ser simplesmente ignorados pela maioria dos agrônomos. Tais problemas seriam, assim, considerados como externos ao campo dessa ciência, devendo, de acordo com o paradigma hegemônico, serem tratados por outras disciplinas. O problema, no entanto, é que nenhuma outra ciência tem como objeto específico a agricultura, sendo a Agronomia a única para a qual se coloca a possibilidade da constituição de uma "ciência da agricultura" como um todo.
A formação profissional humanística é fundamental, pela necessidade de promover a participação dos agricultores como agentes dos processos de domesticação, cultivo de plantas, criação de animais e a produção de alimentos de alta qualidade biológica e, mais do que isso, como sujeitos do desenvolvimento local, regional e nacional. Neste aspecto, os processos participativos tanto de condução de pesquisa científica e do desenvolvimento de tecnologias, quanto de tomada de decisões, terão papel preponderante na busca da diminuição das desigualdades sociais e regionais.
Os projetos de pesquisa e extensão, assim como a articulação destes com o ensino, a serem desenvolvidos no âmbito do curso de Agronomia da UFFS deverão estar alicerçados, portanto, em uma larga participação da sociedade em geral.
Na medida em que possibilita tornar disponível diretamente a sociedade o conhecimento gerado pela pesquisa, muitas vezes por meio de atividades desenvolvidas em componentes curriculares, a extensão constituir-se-á, por excelência, na atividade articuladora da pesquisa e do ensino no âmbito do Curso de Agronomia da UFFS. Isto, porém, não significa reduzir as atividades de extensão a um papel passivo, de uma mera “extensão extramuros” do conhecimento gerado na UFFS e de prestação de serviços à população. Embora tais atividades sejam importantes, elas são insuficientes para caracterizar uma extensão de acordo com os pressupostos epistemológicos discutidos anteriormente. A função primordial da extensão, no âmbito do Curso de Agronomia da UFFS, será a de promover um debate público que estimule as demandas da sociedade por uma Agronomia capaz de contribuir positivamente para a solução dos problemas relacionados à agricultura que ameaçam a sua sustentabilidade. É interessante observar que, neste sentido, um papel de destaque será desempenhado pelo programa de estágios curriculares do Curso, na medida em que tais estágios deverão ser desenvolvidos de forma integrada com atividades de extensão e de pesquisa.
6 OBJETIVOS DO CURSO
Objetivo Geral
Formar Engenheiros Agrônomos, com ênfase em agroecologia, que utilizem sólidos conhecimentos técnico-científicos, visando o planejamento, a construção e o manejo de sistemas sustentáveis.
Objetivos específicos
- formar engenheiros agrônomos capacitados técnico e cientificamente para atuar em todas as áreas da agronomia com ênfase em agroecologia e comprometidos com a agricultura familiar.
- Capacitar profissionais para promover o manejo sustentável em agroecossistemas,
- Promover a conservação e preservação e recuperação dos recursos naturais;
- Compreender a realidade social, econômica, técnica, cultural e política da sociedade, em particular o meio rural, visando integrar-se em suas transformações e atuar como sujeito ativo no processo;
- Desenvolver pesquisa e extensão com ênfase na Mesorregião da Grande Fronteira do Mercosul;
- Preparar profissionais com capacidade de atuar em equipes interdisciplinares, para planejar, analisar, executar e/ou monitorar sistemas de produção, processamento, beneficiamento e comercialização agropecuária, visando fortalecer a agroindústria familiar.
- Proporcionar a compreensão dos princípios fundamentais e das técnicas e tecnologias adequadas ao cultivo das plantas e à produção zootécnica integrada às demais atividades do meio rural;
- Recuperar as experiências e o conhecimentos dos agricultores, dos saberes tradicionais,
- Estimular a interação do conhecimento científico e tradicional ,com a realidade da agricultura familiar;
- Tornar público os conhecimentos técnicos, científicos e culturais produzidos no âmbito do curso.
7 PERFIL DO EGRESSO
O egresso do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul deverá ter capacidade técnica científica para atuação profissional em todas as áreas da agronomia considerando valores humanísticos, princípios éticos, capacidade de comunicação e visão socioambiental e econômica. Tais características o habilitará a atuação integrada aos profissionais de outras áreas do conhecimento para atender as demandas do desenvolvimento sustentável.
Para isso, o profissional necessitará de formação humanística e técnico- científica integradas, com o objetivo de estabelecer relações participativas com os sujeitos sociais dos territórios ou das cadeias produtivas. Também deverá ter habilidade para integrar sua atividade profissional a princípios ambientais e socioeconômicos que promovam a sustentabilidade numa perspectiva multidimensional.
Enfim, um profissional comprometido com o desenvolvimento rural participativo, sustentável e solidário, respeitando o ambiente e os agricultores.
O Curso está organizado para ser integralizado em dez (10) semestres no turno integral, em forma sequencial. Os componentes curriculares serão ministrados em aulas teóricas e práticas (laboratório, práticas de campo, visitas técnicas, viagens de estudos, encontros técnico-científicos, entre outros). Serão oferecidos componentes curriculares obrigatórios, optativos e eletivos. Componentes curriculares obrigatórios são aqueles que os acadêmicos devem cursar obrigatoriamente para adquirir o título, os quais permitem a valorização de grandes áreas do conhecimento da Agronomia, com maior igualdade de pesos entre estas. Os componentes curriculares optativos fazem parte da matriz curricular do curso e são aqueles que complementam a formação do acadêmico, podendo ele optar quais componentes curriculares cursará, totalizando no mínimo 330 horas. Dentre os componentes curriculares eletivos será disponibilizada a carga horária livre, dentro da qual o acadêmico poderá se matricular em componentes curriculares ofertados em outros cursos ou IES e que não compõe a matriz curricular do curso. Os mesmos serão avaliados, podendo ser computados como Atividades Curriculares Complementares (ACC) ou como componente extracurricular no histórico. Para posterior avaliação e validação, o estudante somente pode se matricular em componente curricular eletivo após orientação acadêmica. O acadêmico poderá validar no máximo 240 horas/aula de componentes curriculares eletivos no decorrer de todo o curso. Os pedidos de validação devem ser encaminhados ao colegiado do curso, que analisará e encaminhará à Diretoria de Organização Pedagógica e à Diretoria de Registro Acadêmico o pedido de inclusão do optativo no rol, caso seja deferido o parecer sobre o aproveitamento.
Atendendo a determinação da Pró-Reitoria de Graduação da UFFS a matriz curricular do Curso de Agronomia possui componentes curriculares de Domínio Comum, Domínio Conexo e de Domínio Específico.
O Domínio Comum constitui-se em um conjunto de componentes curriculares obrigatórios a todos os cursos de graduação da UFFS, tendo como finalidade
desenvolver em todos os estudantes da UFFS as habilidades e competências instrumentais consideradas fundamentais para o bom desempenho de qualquer profissional, assim como despertar nos estudantes a consciência sobre as questões que dizem respeito ao convívio humano em sociedade, às relações de poder, às valorações sociais, e à organização sócio-político-econômica e cultural das sociedades.
O Domínio Conexo constitui-se em conjunto de disciplinas comuns à vários cursos, sem, no entanto, poderem ser caracterizadas como exclusivas de um ou de outro, tendo como finalidade promover a interdisciplinaridade entre os cursos de graduação da UFFS.
O Domínio Específico é caracterizado por um conjunto de disciplinas nitidamente identificadas como próprias de um determinado Curso e fortemente voltadas à sua dimensão profissionalizante, isto é, às habilidades, competências e conteúdos especificamente definidos nas Diretrizes Curriculares Nacionais.
A organização dos componentes curriculares em domínios, de acordo com o Projeto Institucional da UFFS, apesar de introduzir elementos imprescindíveis na formação oferecida pelo Curso de Agronomia desta Universidade, é insuficiente para proporcionar uma organização curricular plenamente satisfatória diante dos objetivos do Curso de Agronomia com ênfase em Agroecologia. Mais especificamente, considerou-se necessária a elaboração de uma organização curricular, em sobreposição aos núcleos de disciplinas na forma de domínios definidos pela Universidade, que explicitasse claramente as especificidades da formação agronômica com ênfase em Agroecologia oferecida, de forma, inclusive, a respeitar os núcleos de conteúdos definidos nas Diretrizes Curriculares para os cursos de graduação em Agronomia do Ministério da Educação. Sendo assim, o Curso de Agronomia da UFFS está estruturado em três linhas curriculares, sendo uma de formação básica, outra de formação aplicada, e uma terceira linha curricular de formação metodológica, cujos objetivos são descritos nos parágrafos seguintes.
8.1. A linha curricular de formação básica
O principal objetivo desta linha curricular é proporcionar aos estudantes uma sólida cultura científica que o habilite a compreender os conhecimentos básicos a partir dos quais são desenvolvidas as disciplinas mais diretamente relacionadas à agricultura. Ela compreende disciplinas dos mais diversos campos que vão desde a Matemática até a Sociologia. Os componentes curriculares do Domínio Comum estão contidos nesta linha curricular.
8.2. A linha curricular de formação aplicada
Esta linha curricular tem como objetivo proporcionar aos estudantes os conhecimentos necessários para que eles analisem diretamente a agricultura, especialmente os aspectos que dizem respeito à produção agropecuária. Ela compreende áreas como Ciência do Solo, Fitotecnia, Fitossanidade, Engenharia Rural, Zootecnia, Tecnologia Agroindustrial e Desenvolvimento Rural.
Uma característica importante das disciplinas dessa linha curricular é o enfoque analítico, com cada aspecto da produção agropecuária sendo estudado de forma específica. Isto tende a proporcionar ao estudante uma visão multidisciplinar, da Agronomia. Sendo assim, são enfatizados os aspectos interdisciplinares dos conteúdos, na medida em que os mesmos muitas vezes possuem fortes relações entre si, pelo menos no que diz respeito as suas grandes áreas (Ciência do Solo, Fitotecnia, etc.). Os componentes curriculares do Domínio Conexo estão contidos nesta linha curricular.
8.3. A linha curricular de formação metodológica
O objetivo desta linha curricular é tornar os estudantes capazes de integrar conteúdos das diferentes áreas que constituem a Agronomia para que eles possam atuar sobre a realidade agrária de forma metódica e objetiva, de acordo com as características específicas do Curso (ênfase na Agroecologia). Ela compreende componentes curriculares como Enfoque Sistêmico na Agricultura, Agroecologia, Extensão Rural, assim como um dos estágios obrigatórios. Esta linha curricular possui, portanto, um caráter metodológico sendo, também formulada em função das especificidades do Curso de Agronomia com ênfase em Agroecologia da UFFS. Cabe salientar, porém, que, assim como nas demais linhas curriculares o caráter metodológico não está ausente, também as disciplinas desta linha curricular não são isentas de conteúdos específicos.
Uma característica importante desta linha curricular é que os seus componentes curriculares são focados no estabelecimento de estratégias de transição agroecológica a partir do estudo de situações agrárias preferencialmente concretas. Sendo assim, parte da carga horária dos componentes curriculares desta linha curricular poderá ser ministrada em condições de campo. O foco na reflexão sobre estratégias de transição agroecológica a partir de situações concretas permite que a Agroecologia seja enfatizada no Curso sem que se perca de vista a dinâmica atual da agricultura. Amatri transição agroecológica, assim, em conformidade com os referenciais orientadores do Curso, é entendida como um processo “sócio-técnico-ambiental” cuja compreensão requer conhecimentos de todas as áreas da Agronomia, e não como um aspecto isolado em relação a outros conteúdos da formação.
8.4. A organização das linhas curriculares ao longo do Curso
Os componentes curriculares de suas respectivas linhas são predominantemente ministrados conforme a ordem em que elas foram descritas nos itens anteriores. Porém, assim como a formação voltada para a assimilação de conteúdos não é rigidamente separada da formação metodológica em nenhuma das linhas curriculares (embora estes dois aspectos da formação tenham características diferentes em cada linha curricular, conforme discutido acima), também a presença de componentes das três linhas curriculares não deve ser rigidamente delimitada ao longo do Curso. A diversificação do caráter dos componentes curriculares foi, portanto, mantida para que os estudantes possam ter uma visão mais integrada do Curso desde o seu início, assim com não deixem de se dedicar a aspectos mais básicos da sua formação, mesmo em etapas mais avançadas da mesma.
8.5 Atividade de Conclusão de Curso (TCC)
Normas para o Trabalho de Conclusão de Curso
CAPÍTULO I – Do Objetivo
Art. 1º O objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é integrar e consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, demonstrados através de pesquisas científicas, estudos de caso, revisão de literatura que revele o domínio do tema e a capacidade de síntese, sistematização e aplicação de conhecimentos adquiridos no curso de graduação. Com a finalidade de obter o grau de Bacharel em Agronomia, o acadêmico deverá realizar, individualmente, um TCC voltado ao estudo de uma área específica da Agronomia.
CAPÍTULO II – Das Disposições Preliminares
Art. 2º Trabalho de Conclusão de Curso refere-se ao conjunto de dois Componentes Curriculares semestrais, aqui denominados TCC I e TCC II, com objetivo e funcionamento definidos na presente norma.
Art. 3º Poderá iniciar o TCC, o acadêmico que tenha completado, com aproveitamento, 50% (cinquenta por cento) da carga horária do curso e o CCR de Experimentação Agrícola.
- 1ºObrigatoriamente o TCC deverá ser cursado pelo acadêmico no curso de Agronomia em que está matriculado.
- 2ºNão será validado TCC cursado em outros cursos.
Art. 4º O TCC é individual podendo abordar tema teórico ou teórico-prático, com orientação dos docentes da UFFS e relatado sob a forma de uma MONOGRAFIA ou ARTIGO CIENTÍFICO.
- 1ºno caso de monografia deverá seguir as normas atualizadas de TCC da UFFS.
- 2ºno caso de artigo científico deverão ser utilizadas no TCC as normas técnicas adotadas pela revista para a qual será submetida para publicação, devendo ser anexada as normas adotadas ou informar a revista científica a qual o artigo será submetido.
CAPÍTULO III – Da Realização
Art. 5º O acadêmico deve adotar os seguintes procedimentos para TCC I:
I – realizar a matrícula do Componente Curricular;
II – procurar um orientador que aceite a responsabilidade de sua orientação, de acordo com a área e o tema do trabalho;
III – providenciar o termo de aceite de orientação;
IV – providenciar o termo de uso de laboratórios e de área experimental, caso necessário;
V – acompanhar e apresentar as atividades determinadas pelo professor do Componente Curricular;
VI – elaborar, em comum acordo com o Orientador, o Projeto do TCC, que seja viável em termos acadêmicos, éticos, de recursos e de tempo;
VII – preparar e entregar o Projeto do TCC para avaliação, conforme procedimentos determinados pelo professor do Componente Curricular de TCC I.
Art. 6º O acadêmico, depois de aprovado em TCC I, deve adotar os seguintes procedimentos para TCC II:
I – realizar a matrícula do Componente Curricular;
II – realizar as atividades pertinentes ao trabalho, as quais recomenda-se serem iniciadas antes mesmo da matrícula no Componente Curricular de TCC II;
III – preparar e entregar impressos três exemplares do TCC na forma escolhida pelo discente e orientador, mediante protocolo da instituição, remetido aos membros da banca examinadora;
IV – defender o TCC em sessão pública perante a Banca Examinadora;
V – após a defesa entregar a versão final do texto, em formato eletrônico (duas cópias) e impresso (uma cópia) definido pelo Colegiado, com a incorporação, a critério do orientador, de correções e sugestões da Banca Examinadora;
VI – providenciar e assinar o termo de cessão de direitos autorais total ou parcial do conteúdo do TCC no formato digital.
CAPÍTULO IV Dos Prazos
Art. 7º A matrícula em TCC I e TCC II deve ser feita de acordo com o Calendário Acadêmico da Universidade Federal da Fronteira Sul.
Art. 8º O termo de aceite de orientação, assinado pelo Orientador e pelo acadêmico deve ser entregue ao professor responsável de TCC I, até o último dia útil da terceira semana letiva do semestre em que estiver sendo cursado TCC I.
Art. 9º O Projeto de TCC I e a monografia e/ou artigo do TCC II, após ser redigido pelo acadêmico com a orientação do professor Orientador, deve ser entregue aos professores responsáveis pelo Componente Curricular e demais membros avaliadores, até 15 (quinze) dias antes da realização da defesa do Projeto de TCC I e II.
Art. 10 As definições da data de Defesa e da Banca Examinadora serão feitas pelos professores responsáveis pelos Componentes Curriculares de TCC I e II em conjunto com os orientadores.
Art. 11 As Defesas deverão acontecer até 20 (vinte) dias antes do final do semestre determinado pelo Calendário Acadêmico, visando a possibilidade de recuperação.
Parágrafo único – As atividades de recuperação serão definidas pelo professor responsável pelos CCR´s em conjunto com o professor-orientador.
CAPÍTULO V Do Professor Responsável Art. 12 Compete ao Professor Responsável pelo TCC:
I – organizar e operacionalizar as diversas atividades de desenvolvimento e avaliação dos Componentes Curriculares de TCC I e II;
II – elaborar o calendário das apresentações e efetuar a divulgação das defesas e Projeto de TCC e monografia e/ou artigo;
III – solicitar a confecção de atestados de orientação em andamento (TCC I) e de orientação concluída (TCC II);
IV – solicitar a confecção de atestados de participação da banca examinadora da monografia e/ou artigo;
V – providenciar cópias impressas da Folha de Avaliação para anotações da Banca Examinadora na ocasião da Defesa;
VI – providenciar cópia impressa da Ata de Defesa e da Folha de Aprovação, devidamente preenchidas;
VII – atribuir as notas dos Componentes Curriculares através das atividades preconizadas dentro do plano de ensino, onde a defesa do Projeto de TCC e a defesa da Monografia e/ou Artigo apresente pelo menos 70% da nota final, sendo os outros 30% sejam distribuídos de acordo com as demais atividades previstas.
CAPÍTULO VI Do Orientador e Coorientador
Art. 13 O Orientador do TCC será necessariamente um professor em exercício da UFFS.
Art. 14 As orientações de TCC que não estão diretamente vinculadas ao curso de Agronomia, deverão ser apreciadas e aprovadas pelo colegiado do curso.
Art. 15 O número mínimo de orientados por docentes é 3 (três) discentes, contados concomitantemente os Componentes Curriculares TCC I e TCC II de todos os cursos em que atuar.
Parágrafo único – Em caso de não haver demanda por parte dos discentes o orientador fica desobrigado a orientar os três discentes.
Art. 16 São deveres do orientador:
I – supervisionar os seus orientados nas atividades acadêmicas relacionadas ao TCC;
II – zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos;
III – avisar ao professor responsável sobre o abandono ou negligência do acadêmico no desenvolvimento do trabalho;
IV – corrigir o Projeto (TCC I) e a Monografia e/ou Artigo;
V – marcar a sessão de Defesa, indicando a Banca Examinadora, dentro do calendário estabelecido pelo professor responsável do Componente Curricular;
VI – participar da defesa do Projeto (TCC I) e a Monografia e/ou Artigo ou avisar o co- orientador, caso exista, sobre a necessidade da participação do mesmo nestas avaliações em caso de ausência justificada;
VII – capacitar o discente em caso de utilização de laboratórios didáticos utilizados no TCC.
Art. 17 Quando for conveniente, o acadêmico poderá contar com um co-orientador para o TCC.
- 1ºO TCC que for desenvolvido externamente à UFFS -Campus Erechim deverá formalizar como coorientador o responsável pelo seu acompanhamento no local de realização.
- 2ºO TCC que for desenvolvido com auxílio de um pesquisador, profissional especializado, mentor ou assemelhado externo UFFS -Campus Erechim, deverá formalizá-lo como coorientador.
Art. 18 Podem ser coorientadores:
I – professores da UFFS em efetivo, de qualquer Campus;
II – professores e pesquisadores de outras instituições;
III – mestrandos ou doutorandos regularmente matriculados em cursos de Pós- Graduação reconhecidos pela CAPES;
Art. 19 São deveres do coorientador:
I – supervisionar os seus orientados nas atividades acadêmicas relacionadas ao TCC;
II – zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos;
III – auxiliar o Orientador nas atividades de avaliação;
IV – substituir o Orientador nos casos de impedimento deste.
CAPÍTULO VII Das Responsabilidades do acadêmico Art. 20 São deveres do acadêmico matriculado no Componente Curricular TCC I:
I – agendar com o Orientador as datas e horários para o acompanhamento do projeto;
II – tomar conhecimento integral do conteúdo das Normas do TCC;
III – elaborar e entregar nos devidos prazos e formas o Projeto de TCC;
IV – participar das atividades propostas pelo professor do CCR;
V – solicitar a substituição do orientador e da proposta de trabalho (projeto) até 15 (quinze) dias após o início do semestre letivo, sendo que neste caso não caberá recurso em relação à proposta de trabalho. E no caso do indeferimento pelo professor responsável pelo Componente Curricular de TCC I terá a matrícula suspensa.
Art. 21 São deveres do acadêmico matriculado no Componente Curricular TCC II:
I – agendar com o Orientador as datas e horários para o acompanhamento do projeto;
II – tomar conhecimento integral do conteúdo das Normas do TCC;
III – elaborar e entregar nos devidos prazos os exemplares da Monografia e/ou artigo para Defesa;
IV – defender o TCC perante Banca Examinadora em sessão pública;
V – entregar texto final da Monografia e/ou Artigo em uma cópia impressa e duas cópias no formato eletrônico e eletronicamente;
VI – participar das atividades propostas pelo professor da CCR.
CAPÍTULO VIII Do Formato da Monografia
Art. 22 A quantidade de páginas e formatação do TCC será definida de acordo com a modalidade escolhida pelo/a orientador/a, respeitados os seguintes limites:
- 1ºO Projeto de TCC a ser apresentado no TCC I deve conter: elementos textuais, introdução, revisão de literatura, material e métodos, resultados esperados, referências bibliográficas e cronograma de desenvolvimento, disponíveis no site da UFFS.
- 2ºpara Artigo Científico, o número de páginas, a formatação e itens necessários no corpo do texto devem seguir as normas de edição da Revista Científica a ser enviado o artigo. O modelo de formatação das páginas pré-textuais doArtigo Científico seguem o mesmo modelo e formatos para a monografia. As normas da revista devem constar como anexo no final do TCC.
CAPÍTULO IX Da Banca Examinadora
Art. 23 A Banca Examinadora será composta de 3 membros, o Orientador e dois avaliadores convidados, sem suplentes, não sendo necessário a participação obrigatória do professor responsável pelo Componente Curricular na Banca.
Art. 24 O Orientador presidirá a Banca Examinadora.
Art. 25 Um dos avaliadores convidados deve atender a pelo menos uma das condições a seguir:
I – ser professor do ensino superior com título de mestre ou de doutor;
II – ser pesquisador com título de mestre ou de doutor.
Art. 26 Um dos avaliadores convidados deve apresentar uma das condições a seguir: I – possuir o título de mestre ou de doutor na área de ciências agrárias ou correlatas;
II – ser mestrando ou doutorando regularmente matriculado em cursos de Pós- Graduação reconhecidos pela CAPES.
Art. 27 O coorientador pode participar da Defesa, realizar parte da Arguição e atribuir conceito, nestes casos a banca poderá ter quatro membros.
Art. 28 Em caso de impedimento do orientador, o coorientador o substitui na Banca.
- 1ºNão havendo coorientador ou estando este impedido, o presidente da banca será o professor responsável pelo Componente Curricular de TCC II.
Art. 29 Será considerado aprovado o acadêmico que atingir nota igual ou superior a 6,0 (seis). O Componente Curricular de TCC será constituído por duas avaliações sendo: avaliação da monografia escrita (peso 7,0) e avaliação da apresentação (peso 3,0).
CAPÍTULO X Das Disposições Finais
Art. 30 Casos omissos nessa Norma são resolvidos pelo Colegiado de Curso.
Art. 31 Fica revogado o Ato Deliberativo Nº 1/CCA-ER/UFFS/2016 e demais disposições em contrário.
Regulamento atualizado conforme RESOLUÇÃO Nº 3/CCA-ER/UFFS/2021
8.6. Estágio curricular supervisionado
Normas de Estágios Curriculares
O estágio é o período de exercício pré-profissional, no qual o acadêmico do Curso de Agronomia permanece em contato direto com o ambiente de trabalho, desenvolvendo atividades profissionalizantes, programadas ou projetadas, avaliáveis, com duração limitada e supervisionadas por docente orientador.
O Estágio é encarado como uma experiência pré-profissional no Curso de Agronomia, pretendendo-se que proporcione uma efetiva vivência junto às condições de trabalho, condições estas que constituem os futuros campos profissionais como cooperativas de produção, órgãos de ensino, pesquisa e extensão, propriedades rurais, laboratórios e empresas públicas e privadas.
Além da experiência, ele permite um fluxo maior de informações entre a Universidade e a comunidade, nos dois sentidos. De uma parte a comunidade poderá beneficiar-se com a introdução e/ou divulgação de novas tecnologias e com a possibilidade do estagiário tornar-se conhecido pelas empresas empregadoras, futuros mercados de trabalho para os agrônomos e pela sociedade em geral. Por outro lado, o estágio fora da Universidade, pode constituir-se num excelente instrumento de retroalimentação do ensino, fornecendo subsídios para que os professores reajustem seus programas de ensino à realidade dos diversos sistemas produtivos do país.
Deste modo, o estágio no Curso de Agronomia da UFFS tem por objetivos:
- a)Proporcionar ao estagiário a vivência de situações pré-profissionais nas diferentes áreas de atuação do agrônomo;
- b)Preparar o estagiário para o pleno exercício profissional através do desenvolvimento de atividades agronômicas referentes à área de opção do estágio;
- c)Proporcionar uma oportunidade de retroalimentação aos docentes e incorporação de situações-problemas e experiências profissionais dos alunos no processo de ensino- aprendizagem, visando a permanente atualização da formação proporcionada pelo
Os campos de estágio previstos são empresas públicas, privadas, autarquias, estatais, paraestatais e de economia mista que desenvolvem atividades relacionadas as
áreas agronômicas e de técnico de nível superior na área objeto de estágio. O Estágio Supervisionado em Agronomia será coordenado pelo Coordenador de Estágio. Os orientadores serão professores lotados no(s) Curso(s), contando com a participação de supervisores de nível técnico ou superior que serão os supervisores nas empresas que se constituírem campos de atuação para os estagiários.
O planejamento das atividades de estágio será efetuado em conjunto pelo estagiário, supervisor e orientador do estágio. Estas atividades compõem-se de orientação, sob a forma de reuniões e da elaboração do plano de estágio, objetivando:
- a)orientar a consulta do estagiário durante o período de realização do estágio;
- b)orientar o estagiário para o aproveitamento máximo de todas as oportunidades de treinamento que o campo lhe oferece;
- c)orientar o estagiário sobre a seleção e anotação de dados essenciais que devem constar no relatório ou que auxiliarão no momento de apresentação (defesa) do mesmo;
- d)orientar o estagiário sobre a forma de elaboração e apresentação do plano e do relatório do estágio.
A execução das atividades do estágio propriamente ditas referentes ao exercício profissional serão atividades de pesquisa, extensão ou produção inerentes à experiência pré-profissional, de acordo com o plano de estágio proposto e aprovado pela Coordenação do Estágio.
A elaboração do relatório será realizada pelo aluno sob a orientação do Professor Orientador e se constituirá na descrição de todas as atividades do estágio propriamente ditas.
O estágio do curso de Agronomia poderá ser desenvolvido sob duas modalidades:
-estágio obrigatório (estágio curricular supervisionado)
-estágio não obrigatório (estágio extracurricular)
1- Obrigatório
O Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório é o estágio definido como pré- requisito para aprovação e obtenção do diploma, assim definido na Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008. Os estágios supervisionados visam a assegurar o contato do
formando com situações, contextos e instituições, permitindo que conhecimentos, habilidades e atitudes se concretizem em ações profissionais e seguirá as disposições da referida Lei, bem como as normativas institucionais.
O Estágio Curricular Obrigatório no Curso de Agronomia tem caráter curricular obrigatório e será realizado após o acadêmico ter cursado todas as disciplinas profissionalizantes essenciais, envolvendo o estágio propriamente dito e a defesa do relatório de estágio. A carga horária mínima é de 300 horas, onde deverá haver o planejamento e o estágio efetivo no campo de atuação profissional, compartilhamento de suas experiências com professores e colegas, elaborar o relatório de estágio e defendê-lo. Neste sentido, o caráter do estágio é formativo, ou seja, o aluno terá ainda no decorrer do curso a oportunidade de discutir e avaliar com colegas e professores as situações de aprendizagem e dúvidas que vivenciou durante sua atuação como “estagiário”. Pretende-se, assim, uma incorporação no processo de aprendizagem/formação da vivência e experiência de situações-problema dos “estagiários” para a colaboração na melhor formação dos demais alunos, visando assim um processo amplo de melhor preparação de todos os egressos para atuar no campo profissional.
A frequência mínima a ser exigida para a aprovação no Estágio será de 75%, devendo, no entanto, o estagiário submeter-se, ainda, no que diz respeito à assiduidade, às exigências dos locais que se constituírem campos de estágio.
O estagiário deverá apresentar à Coordenação do Estágio, o relatório digitado, em 3 vias, no prazo mínimo de 15 dias úteis antes da data da defesa. A avaliação do estágio se dará mediante a apresentação do relatório do estágio perante uma banca de 3 (três) professores, presidida pelo Orientador do Estágio, na qual o estagiário deverá fazer uma exposição oral de 20±5 minutos sobre as atividades desenvolvidas, sendo, após, questionado sobre o conteúdo e os aspectos técnicos do relatório, objetivando:
- a)verificar o desempenho do estagiário;
- b)realimentar o currículo do curso;
- c)detectar problema inerente ao estágio;
- d)detectar problemas inerentes ao campo de estágio.
Após a apresentação e/ou arguição, a banca examinadora, sem a presença do estagiário, deverá reunir-se para atribuir as notas obtidas. A média final corresponderá à média ponderada, levando-se em consideração os seguintes pesos:
- I)4,0 (quatro), para desempenho na apresentação e no estágio (verificação de conhecimentos pertinentes às atividades desenvolvidas);
- II)3,0 (três), para o relatório escrito;
III) 3,0 (três), para a avaliação prática, realizada pelo supervisor do estágio.*
*Alterado pelo Ato Deliberativo N° 2/CCA-ER/UFFS/2017
O estagiário estará aprovado se tiver alcançado média final igual ou superior a 6,0 (seis). Não haverá realização de exames de recuperação para os alunos que não lograrem aprovação nos moldes acima descritos, devendo os mesmos, em tais circunstâncias, cursarem novamente a disciplina de Estágio Supervisionado em Agronomia.
O presidente da banca examinadora solicitará ao estagiário, no caso de aprovado, que o mesmo entregue na coordenação de estágio, 1 (uma) cópia, no formato digital (PDF), corrigida do relatório do estágio até o penúltimo dia destinado às avaliações finais conforme o calendário escolar. Em caso de o estagiário não entregar a cópia corrigida, nos prazos específicos ficará na situação de “Reprovado”.
Será elaborada, segundo formulário próprio, uma Ata da Avaliação que será assinada pelos membros da banca examinadora e pelo estagiário. O presidente dos trabalhos encaminhará a ata ao Coordenador de Estágio que providenciará o envio dos resultados da avaliação para os devidos fins, 10 (dez) dias úteis após a realização da avaliação final.
A coordenação de estágio será realizada pelo Coordenador de Estágio, que após ter tomado conhecimento da opção feita pelo estagiário, solicitará ao Coordenador do Curso, que o mesmo designe o professor que supervisionará às atividades de estágio. Caberá, também, ao Coordenador de estágios a designação de um ou outro Orientador Substituto no impedimento do Orientador Titular. Os critérios norteadores para a constituição da equipe responsável pela supervisão e orientação dos estagiários, a cada semestre, serão decorrentes da natureza das atividades curriculares e dos campos de estágio selecionados.
O orientador e os supervisores do Estágio, no que disser respeito ao desenvolvimento das atividades de estágio, ficarão subordinados ao Coordenador de Estágios.
São atribuições do Coordenador de Estágio:
- a)coordenar todas as atividades inerentes ao desenvolvimento do estágio supervisionado;
- b)providenciar no cadastramento dos campos de estágio, mantendo contato com os mesmos;
- c)manter contato com os Supervisores e Orientadores, procurando dinamizar o funcionamento do estágio;
- d)manter contato com os estagiários e orientar suas atividades conforme as normas de estágio vigentes;
- e)enviar ao Supervisor o plano do estágio para que o programa de atividades seja elaborado;
- f)solicitar ao Coordenador do Curso a designação dos Professores Orientadores de Estágio;
- g)marcar as datas das avaliações;
- h)avaliar as condições de exequibilidade do estágio, bem como as atividades desenvolvidas com a participação dos Supervisores, Orientadores e/ou estagiário;
- i)encaminhar os resultados das avaliações, para os devidos fins;
- j)organizar, na Coordenação do Estágio, um banco de relatórios devidamente
São atribuições do Orientador do Estágio:
- a)orientar o estagiário na elaboração do plano de atividades a ser desenvolvido;
- b)submeter o plano do estágio ao Coordenador do Estágio para aprovação;
- c)supervisionar e avaliar o desempenho do estagiário de acordo com o programa a ser desenvolvido nos campos de estágio;
- d)avaliar as condições de realização do estágio;
- e)assessorar o estagiário na elaboração do relatório do estágio;
- f)manter a Coordenação de Estágio informada sobre o desenvolvimento das atividades do Estágio;
- g)presidir a banca examinadora por ocasião da avaliação;
- h)designar os componentes da Banca Examinadora destinada às avaliações;
- i)encaminhar ao Coordenador do Estágio uma cópia corrigida do relatório do estágio;
- j)utilizar, se for o caso, os relatórios corrigidos como subsídios para o aprimoramento do estágio;
- k)auxiliar o Coordenador do Estágio mediante solicitação do
- l)O número de orientações por professor será definido pelo colegiado de
- m)Conhecer e cumprir o a presente norma, o Regulamento de Estágio da UFFS e a Lei Federal de Estágios.
São atribuições do Supervisor do Estágio:
- a)participar da elaboração do programa de estágio;
- b)orientar o estagiário no desenvolvimento das atividades práticas de acordo com o plano pré-estabelecido, necessidades e infra-estrutura de cada campo de estágio;
- c)enviar, por escrito, o resultado da avaliação das atividades desenvolvidas pelo estagiário, sempre que solicitado pelo Orientador do mesmo;
- d)respeitar a hierarquia funcional das empresas que se constituem campos de estágio.
Ao Coordenador do estágio será consignada uma carga horária semanal de 20 (vinte) horas, destinadas ao exercício de suas atribuições. A supervisão das atividades do estágio será realizada em nível individual.
O corpo discente será constituído pelos alunos que tenham integralizado todas as disciplinas do curso e o trabalho de conclusão de curso e, portanto, com acesso à disciplina Estágio Supervisionado e tiverem autorização da Coordenação do Estágio para a realização do mesmo.
Os princípios éticos profissionais, que regerão a conduta dos estagiários, serão aqueles constantes das resoluções CREA. Os estagiários, além de estarem sujeitos ao regime disciplinar e de possuírem os direitos e deveres estabelecidos no Regimento Geral da Universidade, deverão, também, estar sujeitos às normas que regem as empresas que se constituírem em campos de estágio.
São Direitos do estagiário:
- a)Receber a orientação necessária para realizar as atividades de estágio dentro da opção escolhida;
- b)apresentar qualquer proposta ou sugestão que possa contribuir para o aprimoramento das atividades de estágio;
- c)estar segurado contra acidentes pessoais que possam ocorrer durante o cumprimento das atividades da disciplina Estágio Supervisionado.
São Deveres do estagiário:
- a)assinar Termo de Compromisso de Estágio;
- b)demonstrar interesse e boa vontade para cumprir o estágio em uma das suas opções, com responsabilidade e trabalho;
- c)zelar e ser responsável pela manutenção das instalações e equipamentos utilizados durante o desenvolvimento do estágio;
- d)tomar conhecimento e cumprir as presentes normas, o Regulamento de Estágio da UFFS e a Legislação Federal de Estágios ;
- e)respeitar a hierarquia funcional da Universidade e a dos demais campos de estágio, obedecendo ordens de serviços e exigências do local de atuação;
- f)manter elevado padrão de comportamento e de relações humanas, condizentes com as atividades a serem desenvolvidas;
- g)participar de outras atividades correlatas que venham a enriquecer o estágio, quando solicitado pelo supervisor;
- h)comunicar e justificar, com a possível antecedência, ao supervisor do estágio sua ausência nas atividades da disciplina;
- i)usar vocabulário técnico e manter postura
2- Não-Obrigatório
O estágio não obrigatório é uma atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória e regido pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, e pelo Regulamento de Estágios da UFFS.
À exemplo do estágio-obrigatório, os orientadores serão professores lotados no(s) Curso(s), contando com a participação de técnicos de nível superior que serão os supervisores nas empresas que se constituírem campos de atuação para os estagiários.
A carga horária do estágio não-obrigatório será computada como atividades complementares de graduação, sendo sua proporção em horas definida na grade equivalência hora das atividades complementares de graduação.
Os casos omisso serão resolvidos pela coordenação de estágio do curso cabendo recurso ao colegiado do curso
Anexo II: Ata de defesa pública do relatório de Estágio Supervisionado em Agronomia II
8.7 Atividades curriculares complementares
Normas para Atividades curriculares complementares
As Atividades Curriculares Complementares (ACCs) são caracterizadas pelo aproveitamento de conhecimentos adquiridos pelo estudante através de estudos e práticas independentes, presenciais e/ou à distância, que visam à complementação do processo ensino aprendizagem, sendo desenvolvidas ao longo do Curso de Agronomia.
Na condição de requisito obrigatório, as ACCs respondem ao princípio da flexibilidade, pelo qual o estudante tem a oportunidade de decidir sobre uma parte do currículo. O discente deverá cumprir um número mínimo de créditos em cada atividade, totalizando, pelo menos, 210 horas em atividades complementares, equivalendo a 14 créditos.
Ao final de cada semestre, os alunos devem fornecer os documento comprobatórios conforme Memorando circula N°020/2012-DRA-DCA, para que sejam computadas as horas complementares realizadas, conforme Quadro 1. Atividades complementares não mencionadas serão avaliadas pelo colegiado do curso de Agronomia do respectivo campus.
|
Grupo |
ACCs |
Carga horária realizada |
HI |
MHI |
Cert. |
|
|
Bolsista ou voluntário de Iniciação Científica |
480 |
15 |
60 |
IP |
|
Participação em eventos científicos (congressos, simpósios e outros) |
Para cada 2 horas Por evento |
1 |
40 |
IP |
|
|
Resumos em eventos científicos |
Por participação |
7 |
35 |
IP |
|
|
Publicação de artigos em periódicos |
Por artigo |
15 |
60 |
IP |
|
|
Publicação de livro ou capítulos de livros |
Por livro ou capítulo |
15 |
45 |
IP |
|
Atividades complemAentitvairdeasddees ecxotmenpsleã |
Participação na elaboração de cursos de extensão |
Por evento |
10 |
40 |
IP |
|
Representação discente efetivo junto a órgãos colegiados ou outros órgãos acadêmicos |
Por ano |
5 |
15 |
IP |
|
|
Participação de dia de campo |
Por participação |
2 |
24 |
IP |
|
|
Bolsista ou voluntário de projeto de extensão |
480 |
15 |
60 |
IP |
|
|
Participação em comissão organizadora de evento |
Por evento |
10 |
40 |
IP |
|
|
Atividades complementares de Ensino |
Realização de estágio extracurricular orientado |
40 |
10 |
40 |
IP |
|
Disciplinas oferecidas por outras instituições de ensinos |
Disciplina eletiva |
IC H |
60 |
IP |
|
|
Realização de visitas técnicas a propriedade rural ou empresa, desde que sejam sob orientação de professor e independente de disciplina |
Por visita |
2 |
24 |
IP |
|
|
Participação de evento curta duração ou até 4 horas (palestra, seminário e outros) |
Por evento |
1 |
20 |
IP |
|
|
Participação de evento longa duração ou mais de 4 horas (semana acadêmica, ciclo de |
Para cada 2 horas |
1 |
60 |
IP |
|
|
palestras e outros) |
|
|
|
|
|
Monitoria de disciplina de graduação |
Por disciplina semestral |
10 |
30 |
IP |
|
|
Participação de cursos ou minicursos |
Por curso ou minicurso (Para cada 2 horas) |
1 |
30 |
IP |
|
|
Realização de curso de língua estrangeira |
Por semestre |
10 |
20 |
IP |
Quadro 1: Relação de atividades e carga horária equivalente para aproveitamento das Atividades Curriculares Complementares (ACCs)
HI= Horas integralizadas, MHI = Máximo de horas a ser integralizado e ICH= Igual carga horária e IP= Instituição Promotora.
8.8 Matriz curricular
|
Fase |
Ordem |
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
Pré- requisitos |
|
1a |
01 |
GLA001 |
Leitura e produção textual I |
4 |
60 |
|
|
02 |
GEX002 |
Introdução à informática |
4 |
60 |
|
|
|
03 |
GEX001 |
Matemática instrumental |
4 |
60 |
|
|
|
04 |
GCH029 |
História da fronteira sul |
4 |
60 |
|
|
|
05 |
GEX007 |
Química geral |
4 |
60 |
|
|
|
06 |
GCS010 |
Direitos e cidadania |
4 |
60 |
|
|
|
07 |
GCH002 |
História da agricultura |
2 |
30 |
|
|
|
08 |
GCA219 |
Introdução à agronomia |
2 |
30 |
|
|
|
09 |
GCB012 |
Introdução à ecologia |
3 |
45 |
|
|
|
Subtotal |
31 |
465 |
|
|||
|
2a |
10 |
GCH011 |
Introdução ao pensamento social |
4 |
60 |
|
|
11 |
GEX017 |
Física geral |
4 |
60 |
|
|
|
12 |
GLA004 |
Leitura e produção textual II |
4 |
60 |
|
|
|
13 |
GCS005 |
Desenho técnico |
3 |
45 |
|
|
|
14 |
GEX008 |
Cálculo I |
4 |
60 |
|
|
|
15 |
GCB122 |
Histologia e embriologia vegetal |
3 |
45 |
|
|
|
16 |
GEX006 |
Estatística básica |
4 |
60 |
|
|
|
17 |
|
Optativo I |
3 |
45 |
|
|
|
Subtotal |
29 |
435 |
|
|||
|
3a |
18 |
GEX172 |
Agroclimatologia |
4 |
60 |
|
|
19 |
GCS027 |
Realidade do campo brasileiro |
3 |
45 |
|
|
|
20 |
GCB105 |
Bioquímica |
4 |
60 |
05 |
|
|
21 |
GCB132 |
Organografia e sistemática de espermatófitos |
4 |
60 |
15 |
|
|
22 |
GCB040 |
Genética e evolução |
3 |
45 |
|
|
|
23 |
GCA034 |
Experimentação agrícola |
3 |
45 |
16 |
|
|
24 |
GCB111 |
Ecologia agrícola |
3 |
45 |
09 |
|
|
25 |
GCB030 |
Microbiologia |
3 |
45 |
|
|
|
26 |
GEX116 |
Geomorfologia e pedologia |
3 |
45 |
|
|
|
Subtotal |
30 |
450 |
|
|||
|
4a |
27 |
GCH012 |
Fundamentos da crítica social |
4 |
60 |
|
|
28 |
GCA035 |
Fundamentos de zootecnia |
2 |
30 |
|
|
|
29 |
GCB131 |
Nutrição vegetal |
2 |
30 |
20 |
|
|
30 |
GCA025 |
Agroecologia I |
4 |
60 |
|
|
|
31 |
GCA209 |
Bromatologia |
2 |
30 |
20 |
|
|
32 |
GCB054 |
Biotecnologia |
2 |
30 |
|
|
|
33 |
GCB114 |
Fisiologia vegetal |
4 |
60 |
15, 21, 20 |
|
|
34 |
GEN082 |
Topografia Básica |
4 |
60 |
|
|
|
35 |
GCA247 |
Levantamento e classificação de solos |
3 |
45 |
26 |
|
|
36 |
|
Optativo II |
2 |
30 |
|
|
|
Subtotal |
29 |
435 |
|
|||
|
5a |
37 |
GCA213 |
Entomologia agrícola |
4 |
60 |
24 |
|
38 |
GCB065 |
Fisiologia e nutrição animal |
3 |
45 |
31 |
|
|
39 |
GCB052 |
Melhoramento vegetal |
3 |
45 |
22 |
|
|
40 |
GCA039 |
Saúde de plantas |
5 |
75 |
25 |
|
|
41 |
GCB135 |
Biologia e ecologia do solo |
3 |
45 |
35 |
|
|
42 |
GCA254 |
Mecanização e máquinas agrícolas |
4 |
60 |
|
|
|
43 |
GCA069 |
Ecofisiologia agrícola |
2 |
30 |
33 |
|
|
44 |
GCA215 |
Forragicultura |
4 |
60 |
31 |
|
|
45 |
|
Optativo III |
2 |
30 |
|
|
|
Subtotal |
30 |
450 |
|
|||
|
6a |
46 |
GCS243 |
Economia rural |
3 |
45 |
|
|
47 |
GCA037 |
Química e Fertilidade do Solo |
3 |
45 |
41 |
|
|
48 |
GEN090 |
Hidráulica aplicada |
4 |
60 |
|
|
|
49 |
GCA235 |
Culturas de verão |
3 |
45 |
43 |
|
|
50 |
GCA251 |
Manejo de plantas espontâneas |
3 |
45 |
33 |
|
|
51 |
GCA271 |
Suinocultura |
2 |
30 |
38 |
|
|
52 |
GCA045 |
Propagação de plantas |
2 |
30 |
33 |
|
|
53 |
GCA222 |
Avicultura |
2 |
30 |
38 |
|
|
54 |
GEX080 |
Geodésia e Sensoriamento remoto |
4 |
60 |
|
|
|
55 |
|
Optativo IV |
3 |
45 |
|
|
|
Subtotal |
29 |
435 |
|
|||
|
7a |
56 |
GCS056 |
Administração e análise de projetos |
4 |
60 |
|
|
57 |
GCA232 |
Culturas de inverno |
3 |
45 |
43 |
|
|
58 |
GCS085 |
Responsabilidade socioambiental |
2 |
30 |
|
|
|
59 |
GCA048 |
Manejo e conservação de solo e da água |
4 |
60 |
35 |
|
|
60 |
GCA049 |
Fruticultura |
4 |
60 |
52 |
|
|
61 |
GCA054 |
Irrigação e drenagem |
4 |
60 |
48 |
|
|
62 |
GCA229 |
Construções rurais e infraestrutura |
3 |
45 |
13 |
|
|
63 |
GCS073 |
Teoria cooperativista I |
4 |
60 |
|
|
|
64 |
|
Optativo V |
3 |
45 |
|
|
|
Subtotal |
31 |
465 |
|
|||
|
8a |
65 |
GCS011 |
Meio ambiente, economia e sociedade |
4 |
60 |
|
|
66 |
GCA026 |
Agroecologia II |
4 |
60 |
|
|
|
67 |
GCA055 |
Olericultura |
4 |
60 |
52 |
|
|
68 |
GCA261 |
Pós-colheita de Grãos |
3 |
45 |
37, 40, 49, 57 |
|
|
69 |
GCH008 |
Iniciação a prática científica |
4 |
60 |
|
|
|
70 |
GCS248 |
Gestão de unidades de produção e vida familiar |
3 |
45 |
|
|
|
71 |
GCA108 |
Trabalho de Conclusão de Curso I |
2 |
30 |
*23 e 50% da carga horária do |
|
|
|
|
|
|
|
|
curso |
|
72 |
|
Optativo VI |
2 |
30 |
|
|
|
73 |
|
Optativo VII |
3 |
45 |
|
|
|
Subtotal |
29 |
435 |
|
|||
|
9a |
74 |
GCA058 |
Processamento de produtos de origem animal e vegetal |
4 |
60 |
|
|
75 |
GCA267 |
Sistemas agroflorestais |
4 |
60 |
|
|
|
76 |
GCA059 |
Soberania e segurança alimentar e nutricional |
2 |
30 |
|
|
|
77 |
GCA095 |
Extensão rural |
3 |
45 |
|
|
|
78 |
GCA284 |
Produção e Tecnologia de Sementes |
3 |
45 |
50, 68 |
|
|
79 |
GCS245 |
Enfoque sistêmico na agricultura |
3 |
45 |
|
|
|
80 |
GCA228 |
Bovinocultura de leite |
4 |
60 |
38 |
|
|
81 |
GCA109 |
Trabalho de Conclusão de Curso II |
2 |
30 |
*71 |
|
|
82 |
|
Optativo VIII |
2 |
30 |
|
|
|
83 |
|
Optativo IX |
2 |
30 |
|
|
|
Subtotal |
29 |
435 |
|
|||
|
10a |
84 |
GCA285 |
Estágio curricular supervisionado |
20 |
300 |
*Conclusã o de todos os CCRs |
|
Subtotal |
20 |
300 |
|
|||
|
Subtotal geral |
287 |
4305 |
|
|||
|
|
85 |
|
Atividades curriculares complementares |
14 |
210 |
|
|
TOTAL GERAL |
301 |
4515 |
|
|||
* Alteração de pré-requisitos conforme Ato Deliberativo Nº 1/2015 - CCA-ER
8.9 Componentes curriculares optativos
|
Ordem |
Código |
COMPONENTES CURRICULARES |
Créditos |
Horas |
Pré-Requ |
|
86 |
GCA133 |
Correntes da agricultura |
2 |
30 |
|
|
87 |
GEN212 |
Projeto e construção de estradas |
2 |
30 |
|
|
88 |
GCA289 |
Apicultura |
2 |
30 |
|
|
89 |
GCA135 |
Permacultura |
2 |
30 |
|
|
90 |
GCA314 |
Fisiologia pós colheita |
2 |
30 |
|
|
91 |
GCA315 |
Floricultura e Paisagismo |
3 |
45 |
52 |
|
92 |
GCA134 |
Plantas medicinais |
3 |
45 |
|
|
93 |
GEN190 |
Recursos naturais e energias renováveis |
3 |
45 |
11 |
|
94 |
GCA230 |
Controle ecológico de pragas e doenças |
2 |
30 |
37, 40 |
|
95 |
GEN211 |
Modelagem em sistemas de produção |
3 |
45 |
20 |
|
96 |
GCA297 |
Avaliações e perícias rurais |
2 |
30 |
|
|
97 |
GCA298 |
Tópicos especiais em mecanização e máquinas agrícolas |
3 |
45 |
|
|
98 |
GCA324 |
Tópicos em Pós-colheita |
3 |
45 |
* |
|
99 |
GCA325 |
Tópicos especiais em fruticultura |
2 |
30 |
61 |
|
100 |
GCA317 |
Tópicos especiais em olericultura |
2 |
30 |
|
|
101 |
GCA301 |
Planejamento e Gestão de recursos hídricos |
3 |
45 |
|
|
102 |
GEX133 |
Química orgânica |
3 |
45 |
|
|
103 |
GLA045 |
Língua brasileira de sinais (Libras) |
4 |
60 |
|
|
104 |
GCA318 |
Ovinocultura e caprinocultura |
3 |
45 |
|
|
105 |
GCA290 |
Tecnologia de aplicação de agrotóxicos |
2 |
30 |
|
|
106 |
GCA331 |
Impacto ambiental de agrotóxicos |
2 |
30 |
|
|
107 |
GCA288 |
Zoologia Aplicada |
2 |
30 |
|
|
108 |
GCA334 |
Legislação e receituário Agronômico |
2 |
30 |
|
|
109 |
GCA335 |
Tópicos especiais em plantas daninhas |
2 |
30 |
|
|
110 |
GCA336 |
Vistoria, avaliação e perícias rurais |
2 |
30 |
|
|
111 |
GCA337 |
Sistemas agroindustriais |
3 |
45 |
|
*Exclusão de pré-requisito conforme Ato Deliberativo nº 5/2015-CCA-ER.
8.10 Totais de créditos e horas por modalidades
|
CONJUNTO |
Créditos |
Horas-aula |
Horas- relógio |
|
Domínio comum |
44 |
792 |
660 |
|
Disciplinas de domínio conexo |
10 |
180 |
150 |
|
Formação profissional |
191 |
3438 |
2865 |
|
Optativas |
22 |
396 |
330 |
|
Subtotal |
267 |
4806 |
4005 |
|
Estágio curricular supervisionado |
20 |
360 |
300 |
|
Atividades Curriculares Complementares (ACCs) |
14 |
252 |
210 |
|
TOTAL |
301 |
5418 |
4515 |
8.11 Totais de créditos e horas por modalidades
|
MODALIDADE |
Créditos |
Carga Horária/R |
|
Disciplinas |
267 |
4005 |
|
Trabalho conclusão de curso |
20 |
300 |
|
Atividades Curriculares Complementares (ACCs) |
14 |
210 |
|
TOTAL |
301 |
4515 |
8.12 Domínios formativos
|
DOMINIO COMUM |
|
|
|
Componente Curricular |
|
Leitura e produção textual I |
|
|
Introdução à informática |
|
|
Matemática instrumental |
|
|
História da fronteira Sul |
|
|
Meio ambiente, economia e sociedade |
|
|
Direitos e cidadania |
|
|
Leitura e produção textual II |
|
|
Introdução ao pensamento social |
|
|
Fundamentos da crítica social |
|
|
Iniciação a prática científica |
|
|
Estatística básica |
|
|
Subtotal |
|
|
DOMÍNIO CONEXO |
|
|
|
Componente Curricular |
|
Responsabilidade socioambiental |
|
|
Teoria cooperativista I |
|
|
Administração e análise de projetos |
|
|
Subtotal |
|
|
DOMINIO ESPECIFICO |
|
|
Código |
Componente Curricular |
|
Química geral |
|
|
Introdução à agronomia |
|
|
Física geral |
|
|
História da agricultura |
|
|
Introdução à ecologia |
|
|
Cálculo I |
|
|
Histologia e embriologia vegetal |
|
|
Bioquímica |
|
|
Desenho técnico |
|
Agroclimatologia |
|
Realidade do campo brasileiro |
|
Organografia e sistemática de espermatófitos |
|
Genética e evolução |
|
Fisiologia vegetal |
|
Ecologia agrícola |
|
Microbiologia |
|
Fundamentos de zootecnia |
|
Iniciação a prática científica |
|
Nutrição vegetal |
|
Experimentação agrícola |
|
Bromatologia |
|
Biotecnologia |
|
Geomorfologia e pedologia |
|
Química e Fertilidade do solo |
|
Optativa I |
|
Entomologia agrícola |
|
Topografia Básica |
|
Fisiologia e nutrição animal |
|
Melhoramento vegetal |
|
Saúde de plantas |
|
Biologia e ecologia do solo |
|
Forragicultura |
|
Economia rural |
|
Geodésia e Sensoriamento remoto |
|
Ecofisiologia agrícola |
|
Agroecologia I |
|
Culturas de verão |
|
Manejo de plantas espontâneas |
|
Levantamento e classificação de solos |
|
Propagação de plantas |
|
Optativa II |
|
Optativa III |
|
Bovinocultura de leite |
|
Mecanização e máquinas agrícolas |
|
Hidráulica aplicada |
|
Culturas de inverno |
|
Responsabilidade socioambiental |
|
Manejo e conservação de solo e da água |
|
Fruticultura |
|
Optativa IV |
|
Suinocultura |
|
Avicultura |
|
Gestão de unidades de produção e vida familiar |
|
Irrigação e drenagem |
|
Administração e análise de projetos |
|
Agroecologia II |
|
Olericultura |
|
Pós-colheita de Grãos |
|
Trabalho de conclusão de curso I |
|
Optativa V |
|
Processamento de produtos de origem animal e vegetal |
|
Soberania e segurança alimentar e nutricional |
|
Construções rurais e infraestrutura |
|
Sistemas agroflorestais |
|
Teoria cooperativista I |
|
Extensão rural |
|
Produção e Tecnologia de Sementes |
|
Enfoque sistêmico na agricultura |
|
Trabalho de conclusão de curso II |
|
Optativa VI |
|
Optativa VII |
|
Subtotal |
8.13 Análise vertical e horizontal da matriz curricular
|
|
Comp.Curric ular |
Comp.Curricular |
Comp. Curricular |
Comp.Curric ular |
Comp. Curricular |
Comp.Curricular |
Comp.Curri cular |
Comp.Curricular |
Comp.Curricular |
Comp.Curricular |
|
Cód. N.° |
Cód. N.° |
Cód. N.° |
Cód. N.° |
Cód. N.° |
Cód. N.° |
Cód. N.° |
Cód. N.° |
Cód. N.° |
Cód. N.° |
|
|
Créditos/Horas |
Créditos/Horas |
Créditos/Horas |
Créditos/Horas |
Créditos/Horas |
Créditos/Horas |
Créditos/ Horas |
Créditos/Horas |
Créditos/Horas |
Créditos/Horas |
|
|
1.° |
Leitura e produção textual I |
Introdução à informática |
Matemática instrumental |
História da fronteira Sul |
Introdução à ecologia |
Direitos e cidadania |
Química geral |
Introdução à agronomia |
História da agricultura |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/60 |
4/60 |
4/60 |
4/60 |
3/45 |
4/60 |
4/60 |
2/30 |
2/30 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
2.° |
Leitura e produção textual II |
Introdução ao pensamento social |
Física geral |
Estatística básica |
Desenho técnico |
Cálculo I |
Histologia e embriologia vegetal |
Optativa I |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/60 |
4/60 |
4/60 |
4/60 |
3/45 |
4/60 |
3/45 |
3/45 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
3.° |
Bioquímica |
Agroclimatologia |
Realidade do campo brasileiro |
Experimenta ção agrícola |
Organografia e sistemática de espermatófito s |
Genética e evolução |
Geomorfolo gia e pedologia |
Ecologia agrícola |
Microbiologia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/60 |
4/60 |
3/45 |
3/45 |
4/60 |
3/45 |
3/45 |
3/45 |
3/45 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
4.° |
Fundamento s de zootecnia |
Fundamentos da crítica social |
Topografia Básica |
Nutrição vegetal |
Agroecologia I |
Bromatologia |
Biotecnolo gia |
Fisiologia vegetal |
Levantamento e classificação de solos |
Optativo II |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2/30 |
4/60 |
4/60 |
2/30 |
4/60 |
2/30 |
2/30 |
4/60 |
3/45 |
2/30 |
|
|
|
|
|||||||||
|
5.° |
Entomologia agrícola |
Mecanização e máquinas agrícolas |
Fisiologia e nutrição animal |
Melhoramen to vegetal |
Saúde de plantas |
Biologia e ecologia do solo |
Forragicult ura |
Ecofisiologia agrícola |
Optativo III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/60 |
4/60 |
3/45 |
3/45 |
5/75 |
3/45 |
4/60 |
2/30 |
2/30 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
6.° |
Economia rural |
Geodésia e sensoriamento remoto |
Química e Fertilidade do solo |
Hidráulica aplicada |
Culturas de verão |
Manejo de plantas espontâneas |
Suinocultur a |
Avicultura |
Propagação de Plantas |
Optativo IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3/45 |
4/60 |
3/45 |
4/60 |
3/45 |
3/45 |
2/30 |
2/30 |
2/30 |
3/45 |
|
|
|
|
|||||||||
|
7.° |
|
Administração e análise de projetos |
Irrigação e drenagem |
Culturas de inverno |
Responsabilid ade socioambienta l |
Manejo e conservação de solo e da água |
Fruticultura |
Construções rurais e infraestrutura |
Teoria cooperativista I |
Optativo V |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/60 |
4/60 |
3/45 |
2/30 |
4/60 |
4/60 |
3/45 |
4/60 |
3/45 |
|
|
|
|
|||||||||
|
8.° |
Meio ambiente, economia e sociedade |
Iniciação a prática científica |
Gestão de unidades de produção e vida familiar |
Agroecologi a II |
Pós-colheita de grãos |
Olericultura |
Trabalho de conclusão de curso I |
Optativo VI |
Optativo VII |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/60 |
4/60 |
3/45 |
4/60 |
3/45 |
4/60 |
2/30 |
2/30 |
3/45 |
|
|
|
|
|
|||||||||
|
9.° |
Processamen to de produtos de origem animal e vegetal |
Soberania e segurança alimentar e nutricional |
Extensão rural |
Sistemas agroflorestai s |
Enfoque sistêmico na agricultura |
Produção e Tecnologia de Sementes |
Trabalho de conclusão de curso II |
Optativo VIII |
Optativo XI |
Bovinocultura de leite |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4/60 |
2/30 |
3/45 |
4/60 |
3/45 |
3/45 |
2/30 |
2/30 |
2/30 |
4/60 |
|
|
|
|
|||||||||
|
10.° |
Estágio curricular supervisiona do |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20/300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.14 Ementários, objetivos, bibliografias básicas e complementares dos componentes curriculares
Os componentes curriculares poderão ser ministrados na forma de aulas teóricas e práticas. As práticas consistirão em atividades de laboratório, práticas de campo, visitas técnicas, viagens de estudos, encontros técnico-científicos, entre outros.
1° FASE
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GLA001 |
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL I |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Língua e Linguagem. Compreensão, produção e circulação de textos orais e escritos de diferentes gêneros. Texto e textualidade. Resumo. Debate. Revisão textual. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Desenvolver a competência textual-discursiva de modo a fomentar a habilidade de leitura e produção de textos orais e escritos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FARACO, Carlos A.; TEZZA, Cristovão. Prática de textos para estudantes universitários. Petrópolis: Vozes, 2008. MACHADO, Anna R.; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lilia S. Resumo. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. MEDEIROS, João B. Redação científica. A prática de fichamento, resumos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. PLATÃO, Francisco; FIORIN, José L. Para entender o texto. São Paulo: Ática, 2007. SQUARISI, Dad; SALVADOR, Arlete. Escrever melhor: guia para passar os textos a limpo. São Paulo: Contexto, 2008. VIANA, Antonio C. Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 1997. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES. |
|||
|
ABREU, Antônio S. Curso de Redação. 12. ed. São Paulo: Ática, 2003. COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e Textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991. COSTE, D. et al. O texto: leitura e escrita. (Organização e revisão técnica da tradução por Charlotte Galvez, Eni Puccinelli Orlandi e Paulo Otoni). 2. ed. rev. Campinas-SP: Pontes, 2002. FARACO, Carlos A.; TEZZA, Cristovão. Oficina de texto. Petrópolis-RJ: Vozes, 2003. GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2008. GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna. 17. ed. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1998. MOTTA-ROTH, Desirré (Org.). Redação Acadêmica: princípios básicos. Santa Maria: Imprensa Universitária, 2001. MOYSÉS, Carlos A. Língua Portuguesa: atividades de leitura e produção de textos. São Paulo: Saraiva, 2008. OLIVEIRA, José P. M. de; MOTTA, Carlos A. P. Como escrever textos técnicos. São Paulo: Thompson, 2005. SILVEIRA MARTINS, Dileta; ZILBERKNOP, Lúbia S. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. 27 ed. São Paulo: Atlas, 2010. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX002 |
INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Fundamentos de informática. Conhecimentos de sistemas operacionais. Utilização da rede mundial de computadores. Acesso a ambientes virtuais de aprendizagem. Conhecimentos de editor de texto, planilha eletrônica e software de apresentação (textos, gráficos, tabelas, áudios, vídeos e imagens). |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Operar as ferramentas básicas de informática de forma a poder utilizá-las interdisciplinarmente, de modo crítico, criativo e pró-ativo. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ANTONIO, João. Informática para Concursos: teoria e questões. Rio de Janeiro: Campus-Elsevier, 2009. CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. 8. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. NORTON, P. Introdução à Informática. 1. ed. Rio de Janeiro: Makron Books, 1997. VELLOSO, Fernando de C. Informática: conceitos básicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2004. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
FEDELI, Ricardo D.; POLLONI, Enrico G. P.; PERES, Fernando E. Introdução à ciência da computação. 2. ed. São Paulo: CENGAGE Learning, 2010. HILL, Benjamin Mako; BACON, Jono. O livro oficial do Ubuntu. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. LANCHARRO, Eduardo Alcalde; LOPEZ, Miguel Garcia; FERNANDEZ, Salvador Peñuelas. Informática básica. São Paulo: Pearson Makron Books, 2004. MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de informática básica. 7. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Érica, 2007. MANZANO, André Luiz N. G.; TAKA, Carlos Eduardo M. Estudo dirigido de Microsoft Windows 7 Ultimate. São Paulo: Érica, 2010. MEYER, M.; BABER, R.; PFAFFENBERGER, B. Nosso futuro e o computador. Porto Alegre: Bookman, 1999. MONTEIRO, M. A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. OLIVEIRA, Ramon de. Informática educativa. 12. ed. Campinas: Papirus, 2007. SCHECHTER, Renato. BROffice Calc e Writer: trabalhe com planilhas e textos em software livre. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX001 |
MATEMÁTICA INSTRUMENTAL |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Noções de lógica. Noções de conjuntos. Relações. Funções. Trigonometria. Matrizes e Sistemas Lineares. Noções de Matemática Financeira. Sistemas de medidas. Geometria Plana e Espacial. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Utilizar conceitos e procedimentos em situações-problema para analisar dados, elabo- rar modelos, resolver problemas e interpretar suas soluções; sintetizar, criticar, dedu- zir, construir hipóteses, estabelecer relações e comparações, detectar contradições, de- cidir, organizar, expressar-se e argumentar com clareza, coerência e coesão. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BATSCHELET, E. Introdução à Matemática para Biocientistas. São Paulo: Inteciência e EDUSP, 1978. IEZZI, G.; MURAKAMI, C. et al. Fundamentos de matemática elementar. 7. ed. São Paulo: Atual, 1999. 11 v. LEITHOLD, L. O. Cálculo com Geometria Analítica. São Paulo: Editora HARBRA, 1994. v. 1. LIMA, Elon Lages; CARVALHO, P. C. P.; WAGNER, E. et al. A matemática do ensino médio. 5. ed. Rio de Janeiro: SBM, 2001. 3 v. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BASSANEZI, R. C. Ensino-aprendizagem com modelagem matemática. São Paulo: Contexto, 2004. CARVALHO, Paulo César Pinto. Introdução à geometria espacial. Rio de Janeiro: SBM, 1993. EVES, H. Introdução à história da matemática. 3. ed. Campinas: Unicamp, 2002. HEFEZ, Abramo. Elementos de Aritmética. Rio de Janeiro: Textos Universitários - IMPA, 2005. LIMA, Elon Lages. Medida e forma em geometria. Rio de Janeiro: SBM, 1991. MILIES, Francisco César Polcino; COELHO, Sônia Pitta. Números: uma introdução à matemática. São Paulo: EDUSP, 2003. MOREIRA, Plínio; DAVID, Maria Manuela. A formação matemática do professor, licenciatura e prática docente escolar. Belo Horizonte: Autêntica, 2005. NEWTON-SMITH, W. H. Lógica: um curso introdutório. Lisboa: Editora Gradiva, 1998. SCHLIEMANN, Ana Lúcia; CARRAHER, David. Na vida dez, na escola zero. 10. ed. São Paulo: Cortez, 1995. SÉRATES, J. Raciocínio lógico: lógico matemático, lógico quantitativo, lógico numérico, lógico analítico, lógico crítico. 5. ed. Brasília: Gráfica e Editora Olímpica Ltda, 1997. WAGNER, Eduardo. Construções geométricas. Rio de Janeiro: SBM, 1993. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCH029 |
HISTÓRIA DA FRONTEIRA SUL |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Estudo da história da Região Sul do Brasil com ênfase nos diferentes aspectos que abrangem a dinâmica de desenvolvimento dos três estados. Questões fronteiriças. Processos de povoamento, despovoamento e colonização. Construções socioculturais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender o processo de formação da Região Sul do Brasil por meio da análise de aspectos históricos do contexto de povoamento, despovoamento e colonização. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AXT, Gunter. As guerras dos gaúchos: história dos conflitos do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Nova Prova, 2008. BOEIRA, Nelson; GOLIN, Tau. História Geral do Rio Grande do Sul. Passo Fundo: Méritos, 2006. 6 v. CEOM. Para uma história do Oeste Catarinense. 10 anos de CEOM. Chapecó: UNOESC, 1995. MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do Contestado: a formação e a atuação das chefias caboclas (1912-1916). Campinas: UNICAMP, 2004. RENK, Arlene. A luta da erva: um ofício étnico da nação brasileira no oeste catarinense. Chapecó: Grifos, 1997. WACHOWICZ, Ruy Christovam. História do Paraná. Curitiba: Gráfica Vicentina, 1988. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALEGRO, Regina Celia et al. (Org.). Temas e questões: para o ensino de história do Paraná. Londrina: EDUEL, 2008. BRANCHER, Ana (Org.). História de Santa Catarina: estudos contemporâneos. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1999. CABRAL, Oswaldo Rodrigues. História de Santa Catarina. Florianópolis/Rio de Janeiro: Sec/Laudes, 1970. GOMES, Iria Zanoni. 1957, a revolta dos posseiros. Curitiba: Edições Criar, 1987. HEINSFELD, Adelar. A questão de Palmas entre Brasil e Argentina e o início da colonização alemã no baixo vale do Rio do Peixe/SC. Joaçaba: Edições UNOESC, 1996. LINO, Jaisson Teixeira. Arqueologia guarani no vale do Rio Araranguá, Santa Catarina: aspectos de territorialidade e variabilidade funcional. Erechim: Habilis, 2009. MOTA, Lucio Tadeu. As guerras dos índios Kaingang: a história épica dos índios Kanigang no Paraná (1769-1924). Maringá: EDUEM, 1994. RADIN, José Carlos. Representações da colonização. Chapecó: Argos, 2009. SANTOS, Sílvio Coelho dos. Índios e brancos no Sul do Brasil. Florianópolis: Lunardelli, 1973. VALENTINI, Delmir José. Atividades da Brazil Railway Company no sul do Brasil: a instalação da Lumber e a guerra na região do contestado: 1906-1916. Porto Alegre: PUC/RS, 2009. Originalmente apresentado como tese de doutorado. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX007 |
QUÍMICA GERAL |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Estrutura atômica e tabela periódica. Ligações químicas. Reações químicas e estequiometria. Teoria ácido-base. Soluções. Experimental: matéria. Conceitos gerais. Teoria atômica. Estrutura atômica. Configuração eletrônica. Orbital atômica. Ligações químicas: iônicas, covalentes, metálicas. Leis dos gases. Conceito de Mol. Funções químicas. Misturas. Soluções. Concentração de soluções. Equações químicas. Reações redox. Introdução ao equilíbrio químico: ácidos e bases. pH. Calor de reação. Introdução à Termoquímica. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Obter os subsídios fundamentais da Química, de modo a compreender e executar as técnicas e operações básicas de laboratório, aplicando-as em trabalhos experimentais, envolvendo análises estequiométricas, equilíbrios e variações energéticas, selecionando e utilizando corretamente a instrumentação necessária, bem como preparar corretamente soluções e realizar dosagens mais comuns de íons e moléculas presentes no meio ambiente. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006. BRADY, J. E.; RUSSEL, J. W.; HOLUM, J. R. Química: A Matéria e suas Transformações. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003. v. 1 e 2. MAHAN, B. H. Química um curso Universitário. Ed. Edgard Blücher, 1993. RUSSEL, J. B. Química Geral. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. v. 1 e 2. SZPOGANICZ, B.; DEBACHER, N. A.; STADLER, E. Experiências de Química Geral QMC5104, 5105 e 5125. Imprensa Universitária UFSC, 1998. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BROWN, L. S.; HOLME, T. A. Química Geral Aplicada à Engenharia. São Paulo: Thomson Learning, 2009. BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. Química: a ciência central. 9. ed. São Paulo: Pearson PrenticeHall Makron Books, 2005. KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Química Geral e Reações Químicas. 6. ed. São Paulo: Thomson Learning, 2005. v. 1 e 2. LEE, J. D. Química Inorgânica não tão Concisa. São Paulo: Edgard Blucher, 2003. MAHAN, M. B.; MYERS, R. J. Química: Um Curso Universitário. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 1995. ROSENBERG, J. B. Química Geral. 6. ed. São Paulo: Pearson McGrawHill, 1982. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS010 |
DIREITOS E CIDADANIA |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Origens da concepção de cidadania: Grécia e Roma. O processo moderno de constituição dos direitos civis, políticos e sociais. Alcance e limites da cidadania burguesa. A tensão entre soberania popular e direitos humanos. Políticas de reconhecimento e cidadania. Relação entre Estado, mercado e sociedade civil na configuração dos direitos. Direitos e cidadania no Brasil na Constituição de 1988: a) Direitos políticos; b) Direito à saúde; c) Direito à educação; d) Financiamento dos direitos fundamentais no Brasil. A construção de um conceito de cidadania global. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Permitir ao estudante uma compreensão adequada acerca dos interesses de classe, das ideologias e das elaborações retórico-discursivas subjacentes à categoria cidadania, de modo possibilitar a mais ampla familiaridade com o instrumental teórico apto a explicar a estrutural ineficácia social dos direitos fundamentais e da igualdade pressuposta no conteúdo jurídico-político da cidadania na modernidade. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. CARVALHO, José Murilo. Desenvolvimento da cidadania no Brasil. México: Fundo de Cultura Econômica, 1995. HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad. Luiz Repa. São Paulo: Ed. 34, 2003. MARSHALL, T. H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967. MARX, Karl. Crítica da Filosofia do Direito de Hegel. São Paulo: Boitempo, 2005. TORRES, Ricardo Lobo (Org.). Teoria dos Direitos Fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BRASIL. Constituição da República Brasileira. Brasília, 1988. CAMPOS, Gastão Wagner de Souza et al. (Org.). Tratado de saúde coletiva. São Paulo: Hucitec; Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2006. DAL RI JÚNIO, Arno; OLIVERIA, Odete Maria. Cidadania e nacionalidade: efeitos e perspectivas nacionais, regionais e globais. Ijuí: Unijuí, 2003. FINKELMAN, Jacobo (Org.). Caminhos da Saúde Pública no Brasil. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2002. HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002. IANNI, Octavio. A sociedade global. 13. ed. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2008. LOSURDO, Domenico. Democracia e Bonapartismo. Editora UNESP, 2004. REZENDE, A L. M. de. Saúde, dialética do pensar e do fazer. 2. ed. São Paulo: Cortez, 1989. SAES, Décio Azevedo. Cidadania e capitalismo: uma crítica à concepção liberal de cidadania. Disponível em: <http://www.unicamp.br/cemarx/criticamarxista/16saes.pdf>. SANTOS, Wanderley G. Cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Campus, 1977. SARLET, Ingo Wolgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais. 9. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCH002 |
HISTÓRIA DA AGRICULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Discussão das dimensões sociais e econômicas do sistema agrário. A agricultura em diferentes regiões do mundo. Revolução agrícola e suas variáveis. Modernização e suas conseqüências ambientais e sociais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Analisar crítica e conscientemente os processos históricos de transformações, desafios e tendências da agricultura nos seus diferentes contextos, com ênfase na evolução das técnicas agrícolas e suas consequências. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
GOODMAN, David; SORJ, Bernardo; WILKINSON, John. Da lavoura às biotecnologias: Agricultura e indústria no sistema internacional. Rio de Janeiro: Editora CAMPUS, 1990. MAZOYER, M.; ROUDART, L. História das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. PLOEG, Jan Douwe Van Der. Camponeses e Impérios Agroalimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. PONS, Miguel A. História da Agricultura. Porto Alegre: Editora Maneco, 1998. ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Meio Ambiente e dinâmica de inovações na agricultura. São Paulo: ANNABLUME/FAPESP, 1998. SZMRECSANYI, Tamás. Pequena História da agricultura no Brasil. São Paulo: Contexto, 1998. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do Capitalismo agrário em questão. Campinas: Editora Hucitec/Unicamp, 1992. BULGARELLI, Waldirio. O Kibutz e as cooperativas integrais: Ejidos - Kolkhozes. São Paulo: Pioneira, 1966. CAMARGO, Aspásia. A questão agrária: crise de poder e reforma de base (1930- 1964). In: FAUSTO, Boris. HGCB. 2. ed. São Paulo: Difel, 1983. Tomo 3. v. 3. FURTADO, Celso. Pequena introdução ao desenvolvimento. Enfoque interdisciplinar. São Paulo: Editora Nacional, 1980. GRAZIANO DA SILVA, José. Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura. São Paulo: Hucitec, 1981. HOLSTON, James. Legalizando o ilegal: propriedade e usurpação no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 21, fev. 1993. p. 68-89. LINHARES, Maria Yedda; SILVA, Francisco Carlos Teixeira de. História da Agricultura no Brasil. Debates e Controvérsias. São Paulo: Brasiliense, 1981. LOURENÇO, Fernando. Agricultura Ilustrada. Liberalismo e escravidão nas origens da questão agrária brasileira. Campinas: Editora da Unicamp, 2001. MALTHUS, Thomas Robert. Princípios de economia política e considerações sobre sua aplicação prática. São Paulo: Nova Cultural, 1996. MARTINS, José de Souza. Reforma agrária: o impossível diálogo. São Paulo: EDUSP, 2000. MOTTA, Márcia (Org.). Dicionário da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. |
|||
|
SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA219 |
INTRODUÇÃO À AGRONOMIA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
A Universidade no contexto atual. Relações ensino-pesquisa-extensão. Papel da agricultura. Perfil profissional. Estruturação do conhecimento em Agronomia e áreas de atuação profissional. Ética profissional. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Possibilitar ao aluno o contato com a futura área de atuação, desvelando os detalhes característicos ao profissional de Agronomia. Preparar o aluno para atuação ética na profissão. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BRASIL. Lei n. 5.194, de 24 de Dezembro de 1966. Regula o Exercicio das Profissões de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-agronomo, e da Outras Providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 dez. 1966. BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Resolução n. 1, de 2 de fevereiro de 2006. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em En- genharia Agronômica ou Agronomia e dá outras providências. Diário Oficial da Uni- ão, Brasília, DF, n. 25, Seção 1, 3 fev. 2006. CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. Resolução n. 1.010, de 22 de agosto de 2005. Dispõe sobre a regulamentação da atri- buição de títulos profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscali- zação do exercício profissional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 ago. 2005. EHLERS, Eduardo. O que é agricultura sustentável. São Paulo: Nobel Editora, 1996. 142 p. GLIESSSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentá- vel. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2005. PONS, Miguel. A história da agricultura. Caxias do Sul: Editora Maneco, 1998. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALMEIDA, Jalcione; NAVARRO, Zander (Org.). Reconstruindo a agricultura. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. BRASIL. Decreto federal n. 23.569, de 11 de dezembro de 1933. Regula o exercício das profissões de engenheiro, de arquiteto e de agrimensor. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 15 dez. 1933. CONFEA. Disponível em: <http://www.confea.org.br>. CREA-PR. Disponível em: <http://www.crea-pr.org.br/crea3/pub/templateCrea.do>. CREA-RS. Disponível em: <http://www.crea-rs.org.br/crea/index.php>. CREA-SC. Disponível em: <http://www.crea-sc.org.br/portal>. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB012 |
INTRODUÇÃO À ECOLOGIA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceitos fundamentais de ecologia: níveis de organização biológicos e suas propriedades emergentes. Fatores ecológicos e produtividade. Sucessão ecológica. Teoria da sucessão ecológica. Ecologia de População, Ecologia de Comunidade, Ecologia de Ecossistema, Ecologia da Conservação e biodiversidade. Fundamentos de ecossistemas e agroecossistemas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer os conceitos e princípios básicos da ecologia, compreendendo o ambiente em escala local, regional e global, atentando as questões ambientais globais e refletindo sobre o papel do agrônomo na conservação de ecossistemas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BEGON, Michael; TOWNSEND, Colin R.; HARPER, John L. Ecologia: de Indivíduos a Ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Interamericana, 1985. RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1996. RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2003. TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CAPRA, F. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996. PIANKA, E. R. Evolutionary ecology. New York: Harper & Row, 1988. |
|||
2° FASE
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCH011 |
INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO SOCIAL |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Cultura e processos sociais: senso comum e desnaturalização. As origens da Sociologia e o Positivismo. Os clássicos da Sociologia: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Temas contemporâneos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Proporcionar aos estudantes os instrumentos conceituais e metodológicos que lhes permitam analisar científica e criticamente os fenômenos sociais, políticos e culturais. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
COHN, Gabriel (Org.). Max Weber: Sociologia. Tradução de Amélia Cohn e Gabriel Cohn. 2. ed. São Paulo: Atica, 1982. DURKHEIM, Émile. Sociologia. José Albertino Rodrigues (Org.). São Paulo: Editora Ática, 1999. IANNI, Octávio (Org.). Karl Marx: Sociologia. São Paulo: Ática, 1982. (Coleção Grandes Cientistas Sociais). LALLEMENT, Michel. História das ideias sociológicas: das origens a Max Weber. Petrópolis: Vozes, 2005. LEVINE, Donald N. Visões da tradição sociológica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. MARTINS, Carlos Benedito. O que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1994. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
COMTE, Augusto. Comte. 3. ed. São Paulo: Ática, 1989. (Coleção Grandes Cientistas Sociais). CORCUFF, Philippe. As novas sociologias: construções da realidade social. Bauru: EDUSC, 2010. DURKHEIM, Emile. As regras do método sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 2007. GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2008. GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. MARX, Karl. Contribuição à crítica da economia política. São Paulo: Martins Fontes, 2003. MORARES FILHO, Evaristo de (Org.). Georg Simmel: sociologia. São Paulo: Ática, 1983. OUTHWAITE, William; BOTTOMORE, Tom (Org.). Dicionário do pensamento social do século XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1996. SELL, Carlos. Introdução à sociologia política. Petrópolis: Vozes, 2006. WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1979. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX017 |
FÍSICA GERAL |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Vetores, Cinemática, Leis de Newton e aplicações, Trabalho e Energia Hidrostática e Hidrodinâmica, noções de Termodinâmica, fenômenos ondulatórios: ondas mecânicas e luz, noções de Óptica: tópicos em Eletricidade. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Utilizar de maneira correta o conhecimento teórico aprendido usando a lógica das construções teóricas estudadas, usando exemplos práticos cotidianos com o conhecimento teórico estudado, resolvendo situações práticas profissionais. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
TIPLER, P.; MOSCA, G. Fisica - Para Cientistas e Engenheiros. 6. ed. Editora LTC, 2009. v. 1, 2 e 3. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
OKUNO, E.; CALDAS, I. L.; CHOW, C. C. Física para Ciências Biológicas e Biomédicas. São Paulo: Harbras, 1986. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GLA004 |
LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL II |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Compreensão, produção e circulação de textos orais e escritos da esfera acadêmica e profissional: seminário, resenha, artigo. Mecanismos de textualização e de argumentação dos gêneros acadêmicos e técnicos. Tópicos gramaticais. Revisão textual. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Desenvolver a competência textual-discursiva de modo a fomentar a habilidade de leitura e produção de textos orais e escritos nas esferas acadêmica e profissional. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CITELLI, Adilson. O texto argumentativo. São Paulo: Scipione, 1994. ECO, Umberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 1989. MACHADO, Anna R.; LOUSADA, Eliane; ABREU-TARDELLI, Lilia S. Resenha. São Paulo: Parábola Editorial, 2004. MEDEIROS, João B. Redação científica. São Paulo: Atlas, 2009. MOTTA-ROTH, Desirré (Org.). Redação acadêmica: princípios básicos. Santa Maria: Imprensa Universitária, 2001. SILVEIRA MARTINS, Dileta; ZILBERKNOP, Lúbia S. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2010. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 2005. COSTA VAL, Maria da Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 2006. COSTE, D. (Org.). O texto: leitura e escrita. Campinas: Pontes, 2002. FARACO, Carlos A.; TEZZA, Cristovão. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2003. GARCEZ, Lucília. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2008. KOCH, Ingedore V. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 1997. . Desvendando os segredos do texto. São Paulo: Cortez, 2009. MOYSÉS, Carlos A. Língua Portuguesa: atividades de leitura e produção de texto. São Paulo: Saraiva, 2009. PLATÃO, Francisco; FIORIN, José L. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006. SOUZA, Luiz M.; CARVALHO, Sérgio. Compreensão e produção de textos. Petrópolis: Vozes, 2002. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS005 |
DESENHO TÉCNICO |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução ao desenho técnico. Elaboração de projeções ortogonais para levantamentos topográfico-cartográficos planialtimétricos. Desenho arquitetônico aplicado às edificações rurais. Desenho técnico aplicado às instalações e estruturas hidráulicas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Fornecer ao futuro Agrônomo os conhecimentos do Desenho Técnico, para que possa interpretar e se expressar graficamente no desenvolvimento de suas atividades profissionais. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FRENCH, Thomas Ewing. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 5. ed. São Paulo: Globo, 1995. MONTENEGRO, Gildo A. Desenho Arquitetônico. 4. ed. São Paulo: Edgard Bucher, 2003. PRINCIPE JR., A. R. Noções de Geometria Descritiva. São Paulo: Nobel, 2002. v. 1. PUTNOKI, Jose Carlos. Elementos de geometria e desenho geométrico. 6. ed. São Paulo: Scipione, 1997. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ABBOTT, W. Curso de desenho técnico. Rio de Janeiro: Ediouro, 1987. JANUÁRIO, Antônio Jaime. Desenho geométrico. 2. ed. Florianópolis: Ed. UFSC, 2006. LOCH, Carlos; CORDINI, Jucilei. Topografia contemporânea: planimetria. Florianópolis: Ed. Da UFSC, 2000. MACHADO, Ardevan. Geometria descritiva. São Paulo: McGraw Hill do Brasil, 1979. OBERG, L. Desenho arquitetonico. 31. ed. Rio de Janeiro: Ao Livro Tecnico, 1997. RIBEIRO, C. P. B. V.; PAPAZOGLOU, R. S. Desenho técnico para engenharias. Curitiba: Juruá, 2008. SCHNEIDER, W. Desenho Técnico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1976. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX008 |
CÁLCULO I |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Funções reais de variável real; funções elementares do cálculo; noções sobre limite e continuidade; a derivada; aplicações da derivada; integral definida e indefinida. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Possibilitar ao aluno o domínio dos conceitos e das técnicas de limites e continuidade, derivadas e integrais. Possibilitar ao aluno a aplicação do cálculo na resolução de problemas vinculados à sua área. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ÁVILA, G. Cálculo I - Funções de uma variável. 6. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora, 1994. FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M. B. Cálculo A. 6. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2001. v. 1 e 2. LEITHOLD, L. O cálculo com geometria analítica. 3. ed. São Paulo: Harbra, 1994. v. 1. SIMMONS, G. F. Cálculo com geometria analítica. São Paulo: McGraw Hill, 1987. v. 1. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB122 |
HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VEGETAL |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Célula vegetal. Organização do corpo vegetal e origem do embrião e da semente das cormófitas. Histologia: tecidos meristemáticos e tecidos permanentes. Histologia de órgãos vegetativos (raiz, caule e folha). Histologia de órgãos reprodutivos (flor, semente e fruto). |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Capacitar os alunos para o entendimento dos processos envolvidos na formação da semente, no desenvolvimento da plântula e na organização interna das plantas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
APPEZZATO-DA-GLÓRIA, Beatriz; GUERREIRO, Sandra Maria Carmello. Anatomia vegetal. 2. ed. rev. e atual. Viçosa: Ed. UFV, 2006. 438 p. ISBN 85726912401. ESAU, Katherine. Anatomia vegetal. Barcelona: Omega, 1972. 779 p. FAHN, A. Anatomia vegetal. Madrid: H. Blume, 1978. 643 p. PINHEIRO, A. L.; ALMEIDA, E. C. Fundamentos de Taxonomia e Dendrologia Tropical – Metodologia dendrológicas. Viçosa: Ed. Univ. Viçosa, 2000. v. 2. 188 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
METCALFE, C. R.; CHALK, L. Anatomy of the dicotyledons. 2. ed. Oxford: Clarendon Press, 1979. 3 v. PIQUE, Maria Pilar Rojals. Manual de histologia vegetal. São Paulo: Icone, 1997. 91 p. ISBN 8527404125. RODRIGUES, Hildegardo. Técnicas anatômicas. 3. ed. Vitória: Arte Visual, 2005. 229 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX006 |
ESTATÍSTICA BÁSICA |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Noções básicas de Estatística. Séries e gráficos estatísticos. Distribuições de frequências. Medidas de tendência central. Medidas de dispersão. Medidas separatrizes. Análise de Assimetria. Noções de amostragem e inferência. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Utilizar ferramentas da estatística descritiva para interpretar, analisar e sintetizar dados estatísticos com vistas à compreensão de contextos diversos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BARBETTA, P. A. Estatística aplicada às Ciências Sociais. 7. ed. Florianópolis: UFSC, 2008. BUSSAB, Wilton de Oliveira; MORETTIN, Pedro Alberto. Estatística Básica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. CRESPO, A. A. Estatística Fácil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de Estatística. 6. ed. 12. reimpr. São Paulo: Atlas, 2009. PINHEIRO, João Ismael D. et al. Estatística Básica: a arte de trabalhar com dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. TOLEDO, G. L.; OVALLE, I. I. Estatística Básica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BORNIA, Antonio Cezar; REIS, Marcelo Menezes; BARBETTA, Pedro Alberto. Estatística para cursos de engenharia e informática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2008. BUSSAB, Bolfarine H.; BUSSAB, Wilton O. Elementos de Amostragem. São Paulo: Blucher, 2005. CARVALHO, S. Estatística Básica: teoria e 150 questões. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando Excel. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005. MAGALHÃES, Marcos Nascimento; LIMA, Antônio Carlos Pedroso de. Noções de Probabilidade e Estatística. 7. ed. São Paulo: EDUSP, 2010. MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C.; HUBELE, Norma F. Estatística aplicada à Engenharia. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004. SILVA, E. M. et al. Estatística para os cursos de: Economia, Administração e Ciências Contábeis. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. SPIEGEL, M. R. Estatística. 3. ed. São Paulo: Makron Books, 1993. TRIOLA, Mario F. Introdução à Estatística. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. VIEIRA, S.; HOFFMANN, R. Elementos de Estatística. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1995. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
|
OPTATIVO I |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
A ser definida pelo colegiado do Curso |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
3° FASE
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX172 |
AGROCLIMATOLOGIA |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Meteorologia e climatologia. Campo de atuação da Agrometeorologia. Elementos e fatores climáticos. Atmosfera: estrutura e composição. Radiação solar. Circulação geral da atmosfera e massas de ar. Temperatura do ar e do solo. Propriedades da atmosfera, estabilidade atmosférica e precipitação pluviométrica. Evaporação e evapotranspiração. Bioclimatologia e microclimas (casa de vegetação). Balanço hídrico. Classificações climáticas. Instrumentos e dispositivos para medição de variáveis meteorológicas. Fenômenos meteorológicos intensos: geadas, granizo, chuvas intensas. Mudanças climáticas e influência na agricultura. Zoneamento agroclimático. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Adquirir conhecimento básico do clima e sua influência nas atividades agrícolas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AYOADE, I. Introdução à climatologia para os trópicos. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. CASTILHO, F. E.; SENTIS, F. C. Agrometeorología. 2. ed. Madrid: Mundi-Prensa, 2001 FERREIRA, A. G. Meteorologia Prática. São Paulo: Oficina de Textos, 2006. MANTOVANI, E. C.; BERNARDO, S.; PALARETTI, L. F. Irrigação: princípios e métodos. 3. ed. Viçosa: UFV, 2009. MENDONÇA, F.; DANNI-OLIVEIRA, I. M. Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. São Paulo: Oficina de Textos, 2007. VAREJÃO-SILVA, M. A. Meteorologia e climatologia. Brasília: MA-INMET, 2001. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CASTILLO, M. C. C.; JORDÁN, M. A. Meteorología y clima. Barcelona: Edicions de la Universitat Politècnica de Catalunya, 1999. DE MILLO, Rob. Como funciona o clima. São Paulo: Quark Books, 1998. GEIGER, R. Manual de microclimatologia: o clima da camada de ar junto ao solo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1961. NIMER, E. Climatologia do Brasil. Rio de Janeiro: IBGE, 1979. OLIVEIRA, L. L.; FERREIRA, N. J.; VIANELLO, R. L. Meteorologia Fundamental. Editora Edifapes, 2001. PEREIRA, A. R. Agrometeorologia: fundamentos e aplicações práticas. Guaíba: Agropecuário, 2002. PEREIRA, A. R.; VILLA NOVA, N. A.; SEDIYAMA, G. C. Evapotranspiração. Piracicaba: FEALQ, 1997. TUBELIS, A.; NASCIMENTO, F. J. L. do. Meteorologia descritiva: Fundamentos e aplicações Brasileiras. São Paulo: Nobel, 1980. TUCCI, C. E. M. Hidrologia: ciência e aplicação. Porto Alegre: ABRH, 1997. VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa: UFV, 2002. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS027 |
REALIDADE DO CAMPO BRASILEIRO |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução: o papel do campo na dinâmica da sociedade brasileira. Aspectos epistemológicos da análise da realidade. Formação histórica da agricultura brasileira. Agricultura brasileira: diversidade socioeconômica e conflitos sociais. Processos fundamentais do desenvolvimento rural. Sustentabilidade do desenvolvimento rural. Diversidade regional do desenvolvimento rural no Brasil e na Fronteira Sul. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Adquirir conhecimentos básicos que possibilitem integrar a atividade profissional a princípios socioeconômicos e ambientais que promovam a solidariedade e a sustentabilidade e correspondam aos interesses de longo prazo da maior parte da sociedade brasileira. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo: Editora Hucitec, 1992. FURTADO, C. A formação econômica do Brasil. São Paulo: Cia Ed. Nacional, 1998. GRAZIANO DA SILVA, J. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Campinas: UNICAMP, 1996. IANNI, O. Origens agrárias do Estado brasileiro. São Paulo: Brasiliense, 1984. MARTINE, G.; GARCIA, R. (Org.). Os impactos sociais da modernização agrícola. São Paulo: Ed. Caetés, 1987. MARTINS, J. S. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Contexto, 2010. VEIGA, J. E. Desenvolvimento Agrícola. São Paulo: Editora Hucitec, 1991. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ANDERY, M. A. P. A. et al. Para compreender a ciência, uma perspectiva histórica. São Paulo: EDUC, 1988. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Agricultura familiar no Brasil e o Censo Agropecuário 2006. Disponível em: <http://portal.mda.gov.br/portal/saf/arquivos/view/arquivos-destaque/censo_2006.pdf>. FROELICH, J. M.; DIESEL, V. (Org.). Desenvolvimento Rural. Tendências e debates contemporâneos. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2009. GRAZIANO DA SILVA, J. A modernização dolorosa: estrutura agrária, fronteira agrícola e trabalhadores rurais no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1982. SILVA NETO, B.; BASSO, D. Sistemas Agrários do Rio Grande do Sul. Análise e Recomendações de Políticas. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2005. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB105 |
BIOQUÍMICA |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Sistema Tampão. Química e importância biológica de aminoácidos, proteínas, carboidratos e lipídeos. Enzimas: química, cinética e inibição. Coenzimas e Vitaminas. Energética bioquímica e visão geral do metabolismo. Metabolismo de carboidratos, lipídeos, aminoácidos e proteínas. Fotossíntese. Interrelações e regulação metabólica. Bases moleculares da expressão gênica. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Estudar e compreender os conceitos básicos necessários para o entendimento dos processos bioquímicos relacionados à manutenção da vida. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3. ed. Porto Alegre: ArtMed Editora, 2000. 751 p. HARVEY, R. A.; FERRIER, D. R. Bioquímica Ilustrada. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2012. 528 p. HELDT, H.-W.; PIECHULLA, B. Plant Biochemistry. 4. ed. Academic Press, 2011. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007. NELSON, D. L.; COX, M. M. Lehninger - Princípios de Bioquímica. Ed. Artmed, 2011. 1304 p. VIEIRA, E. C.; GUAZZINELLI, G.; MARES-GUIA, M. Bioquímica Celular e biologia molecular. 2. ed. São Paulo: Ed. Ateneu, 1998. VOET, D.; VOET, J. G.; PRATT, C. W. Fundamentos de Bioquímica: A vida em nível molecular. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
DEVLIN, T. Manual de Bioquímica com Correlações Clínicas. 7. ed. Blucher Editora, 2011. 1296 p. KAMOUN, P.; VERNEUIL, H. Bioquímica e biologia molecular. Editora Guanabara Koogan, 2006. 444 p. MURRAY, R. K.; GRANNER, D. K.; RODWELL, V. W. Harper: Bioquímica Ilustrada. 27. ed. São Paulo: Ed. McGraw Hill, 2007. STRYER. Bioquímica. 6. ed. Madrid: Editora Reverté, 2008. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB132 |
ORGANOGRAFIA E SISTEMÁTICA DE ESPERMATÓFITOS |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Organografia: Anatomia de órgãos vegetativos (raiz, caule e folha). Anatomia de órgãos reprodutivos (flor, semente e fruto). Sistemas de classificação e nomenclatura botânica. Taxonomia de Gimnospermas e de Angiospermas (Eudicotiledôneas e Monocotiledôneas) de interesse econômico. Herbário e técnicas de herborização. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Transmitir ao aluno os conhecimentos básicos quanto à anatomia e sistemática das espermatófitas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AGAREZ, F. V.; PEREIRA, C.; RIZZINI, C. M. Botânica: taxonomia, morfologia e reprodução dos angiospermae. Chaves para determinação das famílias. 2. ed. Rio de Janeiro: Âmbito Cultural, 1994. BELL, Adrian D. Plant form: an illustrated guide to flowering plant morphology. New ed. Portland: Timber, 2008. 431 p. ISBN 9780881928501. GONÇALVES, Eduardo Gomes; LORENZI, Harri. Morfologia vegetal: organografia e dicionário ilustrado de morfologia das plantas vasculares. Nova Odessa-SP: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2007. ISBN 8586714252. JUDD, W. S.; CAMPBELL, C. S.; KELLOGG, E. A.; STEVENS, P. F.; DONOGHUE, M. J. Sistemática Vegetal: um enfoque filogenético. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. MORI, S. A.; SILVA, L. A.; LISBOA, G.; CORADIN, L. Manual de manejo do herbário fanerogâmico. 2. ed. Ilhéus: Centro de Pesquisas do Cacau, 1989. SOUZA, V. C.; LORENZI, H. Chave de Identificação para as Principais Famílias de Angiospermas Nativas e Cultivadas no Brasil. Nova Odessa: Plantarum, 2007. SOUZA, Vinicius Castro; LORENZI, Harri. Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de fanerógamas nativas e exóticas no Brasil, baseado em APG II. 2. ed. Nova Odessa-SP: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2008. 704 p. ISBN 8586714290. VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. R. Botânica - organografia. Viçosa: Universidade Fed. de Viçosa, 1995. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ANDREATA, R. H. P.; TRAVASSOS, O. P. Chaves para determinar as famílias de pteridophyta, gymnospermae e angiospermae. Edição revisada e aumentada. Rio de Janeiro: USU, 1988. BARROSO, M. B. et al. Frutos e sementes: morfologia aplicada à sistemática de dicotiledôneas. Viçosa: UFV, 1999. BURGER, L. M.; RICHTER, H. G. Anatomia da Madeira. São Paulo: Nobel, 1991. CRONQUIST, A. The evolution and classification of flowering plants. The New York Botanical Garden, 1988. LAWRENCE, G. H. Taxonomia das plantas vasculares. Fundação Calouste Gulbekian, 1951. v. 1 e 2. LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 4. ed. São Paulo: Instituto Plantarum, 2008. 640 p. LORENZI, H.; BACHER, L.; LACERDA, M.; SARTORI, S. Frutas Brasileiras e Exóticas Cultivadas: de consumo in natura. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2006. 640 p. LORENZI, H.; MATOS, F. J. A. Plantas medicinais no Brasil – nativas e exótivas. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2002. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB040 |
GENÉTICA E EVOLUÇÃO |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Célula: herança e ambiente. Bases citológicas da herança (mitose e meiose). Herança cromossômica. Mendelismo. Alelos múltiplos. Herança citoplasmática. Bases químicas da herança. Genética de Populações. Genética Quantitativa. Mecanismos evolutivos. Raciação e Especiação. Origem e evolução do material genético. Introdução à Genética Molecular. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender os fundamentos e conceitos em Genética e seu interrelacionamento com outras ciências, sua aplicabilidade e sua importância na área de atuação do Agrônomo e suas aplicações na Agronomia. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
GRIFFITHS, A. J.; MILLER, J. H.; SUZUKI, D. T.; LEWONTIN, R. C.; GELBART, W. M. Introdução à Genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2011. RAMALHO, M.; SANTOS, J. B.; PINTO, C. B. Genética na Agropecuária. 5. ed. Lavras: Ed. UFLA, 2012. 565 p. VIANA, J. M. S., CRUZ, C. D.; BARROS, E. G. de. Genética: Fundamentos. 2. ed. Viçosa-MG: Editora UFV, 2003. 330 p. v. 1. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CRUZ, C. D.; VIANA, J. M. S.; CARNEIRO, P. C. S.; BHERING, L. L. de. Genética: Fundamentos. GBOL. 2. ed. Viçosa-MG: Editora UFV, 2011. 326 p. v. 2. GARDNER, E. J.; SNUSTAD, D. P. Genética. 7. ed. Rio de Janeiro: Interamericana, 1987. RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007. SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara Koogan, 2001. 756 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA034 |
EXPERIMENTAÇÃO AGRÍCOLA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução. Princípios básicos de experimentação. Planejamento de experimentos agropecuários. Análise de variância. Experimentos inteiramente casualizados. Experimentos em blocos casualizados. Experimentos em quadrados latinos. Experimentos fatoriais. Experimentos em parcelas subdivididas. Testes de comparação múltipla de médias. Análise da regressão e correlação. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Planejar e conduzir experimentos agrícolas e interpretar os resultados obtidos com os principais delineamentos experimentais. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BANZATTO, D. A.; KRONKA, S. N. Experimentação agrícola. Jaboticabal: FUNEP, 1992. 247 p. PIMENTEL-GOMES, F. A estatística moderna na pesquisa agropecuária. 3. ed. Piracicaba: Potafós, 1987. 162 p. PIMENTEL-GOMES, F.; GARCIA, C. H. Estatística aplicada a experimentos agronômicos e florestais: exposição com exemplos e orientações para uso de aplicativos. Piracicaba: FEALQ, 2002. 309 p. RESENDE, M. D. V. Matemática e estatística na análise de experimentos e no melhoramento genético. Embrapa, 2007. SÔNIA, V.; HOFFMANN, R. Estatística experimental. São Paulo: Atlas, 1989. STORCK, L. et al. Experimentação vegetal. 3. ed. Santa Maria: Ed. Da UFSM, 2011. 200 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ANDRADE, D. F.; OGLIARI, P. J. Estatística para ciências agrárias e biológicas: com noções de experimentação. 2. ed. ver. e ampl. Florianópolis: ed. da UFSC, 2010. 470 p. BUSSAB, W. O. Análise de variância e de regressão. São Paulo: Atual, 1986. LITTLE, T. M.; HILLS, F. J. Agricultural Experimentation. Califórnia: Wiley, 1977. 348 p. MONTGOMERY, D. C. Design and Analysisi of Experiments. New York: John Wiley & Sons Inc., 1976. SAMPAIO, I. B. M. Estatística aplicada à experimentação animal. 3. ed. Belo Horizonte: Fundação de Estudo e Pesquisa em Medicina Veterinária e Zootecnia, 2010. STEEL, R. G. D.; TORRIE, J. H. Princiles and prodedutes of Statistics. New York: |
|||
|
Mc Graw Hill Book Company Inc., 1960. WERKEMA, M. C. C.; AGUIAR, S. Planejamento e análise de experimentos: como identificar as principais variáveis influentes em um processo. Belo Horizonte- MG: Fundação Christiano Ottoni, Escola de Engenharia da UFMG, 1996. 294 p. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB111 |
ECOLOGIA AGRÍCOLA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução à ecologia agrícola. Ecossistema. O conceito de ecossistema e de agroecossistema. A planta em sua interação com o ambiente. Conceito de produtividade. Cadeias tróficas. Qualidade de energia nos agroecossistemas: estrutura trófica e pirâmides ecológicas. Classificação de ecossistemas baseados na energia. Fatores bióticos e abióticos no manejo dos agroecossistemas. Ciclos biogeoquímicos. Conceito de fatores limitantes: “Lei do Mínimo de Liebig”. Processos populacionais na agricultura. Biodiversidade e estabilidade do agroecossistema. Perturbação, sucessão e manejo do agroecossistema. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer fundamentos de ecologia agrícola para a construção de sistemas agroecológicos de produção, tornando-se capaz de realizar a leitura da realidade ecológica dos agroecossistemas, a fim de propor sistemas sustentáveis. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
GLIESSSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000. MONEGAT, C. Plantas de cobertura do solo: características e manejo em pequenas propriedades. Chapecó: Ed. do autor, 1991. . Fundamentos da ecologia. 7. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALTIERI, M. Biotecnologia Agrícola: mitos, riscos ambientais e alternativas. Petrópolis: Vozes, 2004. CANUTO, J. C.; COSTABEBER, J. A. (Org.). Agroecologia: conquistando a soberania alimentar. Porto Alegre: EMATER/ASCAR, 2004. DAJOZ, R. Princípios de ecologia. Tradução: MURAD, Fátima. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. EHLERS, E. Agricultura Sustentável. Origens e perspectivas de um novo paradigma. São Paulo: Livros da Terra, 1996. MACHADO, L. C. P. Pastoreio Racional Voisin: tecnologia agroecológica para o terceiro milênio. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2004. SHIVA, V. Monoculturas da Mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003. SILVA, J. G. Tecnologia e Agricultura familiar. Porto Alegre: Ed da UFRG, 1999. THOMPSON, W. I. Gaia: uma teoria do conhecimento. São Paulo: Gaia, 2001. WILSON, E. O. (Org.). Biodiversidade. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1997. ZANONI, M. (Org.). Biossegurança Transgênicos Terapia Genética Células Tronco: questões para a ciência e para a sociedade. Brasília: NEAD/IICA, 2004. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB030 |
MICROBIOLOGIA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Objetivos da microbiologia. Classificação e caracterização dos microrganismos. Estrutura dos microrganismos procarióticos e eucarióticos: características morfológicas e fisiológicas, ultraestrutura. Características gerais dos vírus, bactérias e fungos. Nutrição e cultivo de microrganismos. Controle de microrganismos. Metabolismo microbiano. Reprodução dos microrganismos. Fundamentos da Microbiologia do ar, da água, do solo, de esgotos e de resíduos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Capacitar o aluno ao reconhecimento dos grupos de microrganismos e suas funções no ambiente e potenciais aplicações. Treinamento em técnicas microbiológicas. Utilização de microrganismos na produção de alimentos, como agentes de controle biológico. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança Alimentar. Ed. Artmed, 2002. 424 p. MAIER, R. (Ed.). Environmental Microbiology. New York: AcademicPress, 2000. MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: VFLA, 2002. PELCZAR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R. Microbiologia: conceitos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 1996. v. 2. 517 p. TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 10. ed. Porto Alegre: ArTmed, 2012. 934 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALEXANDER, M. Biodegradation and Bioremediation. New York: Academic Press, 1999. 472 p. ALEXANDER, M. Introduction to soil microbiology. New York: John Wiley, 1997. ARAUJO, R. S.; HUNGRIA, M. Microorganismos de importância agrícola. Brasília: EMBRAPA, 1994. MELO, I. S.; AZEVEDO, J. L. Ecologia microbiana. Jaguariúna: EMBRAPA/CNPMA, 1998. PELCZAR, M. J.; CHAN, E. C. S.; KRIEG, N. R. Microbiologia: conceitos e aplicações. São Paulo: Makron Books, 1996. v. 1. 524 p. QUINN, P. J. Microbiologia veterinária e doenças infecciosas. Porto Alegre: ArTmed, 2005. 512 p. ROMEIRO, R. S. Bactérias Fitopatogênicas. Viçosa: UFV, 1995. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX116 |
GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Rochas: distribuição litológica regional. Minerais primários e secundários. Intemperização. Fatores e processos de formação do solo. Morfologia do solo: perfil, horizontes do solo e sua descrição. Estudo das formas, da gênese e evolução do relevo. Análise das interrelações rocha x solo x clima x relevo, com ênfase nos aspectos pedológicos. O solo como um sistema trifásico. A fase sólida do solo: área superficial específica, distribuição do tamanho das partículas. Relações massa-volume do solo e de suas partículas. Estrutura do solo e o espaço poroso. Consistência do solo. Avaliação das condições físicas do solo. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Reconhecer a formação e as características do solo, identificando suas propriedades e processos físicos, relacionando com as funções do solo nos agroecossistemas e as implicações do uso e manejo inadequado do solo, sobre as propriedades e processos físicos de solos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BIGARELLA, J. J.; BECKER, R. D.; SANTOS, G. F. dos. Estrutura e Origem das Paisagens Tropicais e Subtropicais. Florianópolis: Ed. UFSC, 1994. 425 p. BRADY, N. C. Natureza e propriedade dos solos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1979. 647 p. EMBRAPA. Manual de métodos de análise de solo. 2. ed. rev. e atual. Rio de janeiro: EMBRAPA-CNPS, 1997. 212 p. GUERRA, A. J. T.; CUNHA, S. B. (Org.). Geomorfologia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1996. 372 p. KIEHL, E. J. Manual de Edafologia. São Paulo: Agronômica Ceres, 1979. 262 p. KLEIN, Vilson Antonio. Física do Solo. 1. ed. Passo Fundo: EDIUPF, 2008. v. 1. 212 p. MELO, V. F.; ALLEONI, L. R. F. (Org.). Quimica e mineralogia do Solo: Parte II – aplicações. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do solo, 2009. v. 2. 685 p. REICHARDT, K.; TOMM, L. C. Solo, Planta e Atmosfera: conceitos, processos e aplicações. Barueri: Manole, 2004. 478 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALEONI, L. R. F.; MELO, V. F. (Org.). Química e Mineralogia do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2009. v. 1. 695 p. BUNTING, B. T. Geografia do Solo. Rio de Janeiro: Zahar, 1971. 259 p. BUOL, S. W.; SOUTHARD, R. J.; GRAHAM, R. C.; MCDANIEL, P. A. Soil |
|||
4° FASE
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCH012 |
FUNDAMENTOS DA CRÍTICA SOCIAL |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Elementos de antropologia. Noções de epistemologia, ética e estética. Materialismo e Idealismo. As críticas da modernidade. Tópicos de filosofia contemporânea. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Fomentar, através do contato com os principais marcos teóricos da Filosofia Moderna e Contemporânea, a reflexão sobre os alicerces de toda ciência social. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. FREUD, Sigmund. O mal-estar na civilização. Rio de Janeiro: Imago, 2002. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Boitempo, 2007. NIETZSCHE, Friedrich. O nascimento da tragédia ou helenismo e pessimismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. VAZ, Henrique C. Lima. Antropologia filosófica I. São Paulo: Loyola, 1991. VAZQUEZ, Adolfo Sanchez. Ética. São Paulo: Civilização brasileira, 2005. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas. São Paulo: Editora da USP, 2000. FAUSTO, Ruy. Marx: lógica e política, investigações para uma reconstituição do sentido da dialética. São Paulo: Brasiliense, 1983. (Tomo I). GRANGER, Giles-Gaston. A ciência e as ciências. São Paulo: ed. Unesp, 1994. HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX: 1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. HORKHEIMER, MAX. Eclipse da razão. São Paulo: Centauro, 2002. JAMESON, Frederic. Pós-modernismo: a lógica cultural do capitalismo tardio. 2. ed. São Paulo: Autores Associados, 2007. NOBRE, M. (Org.). Curso Livre de Teoria Crítica. 1. ed. Campinas: Papirus, 2008. REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia. 7. ed. São Paulo: Paulus, 2002. 3 v. SARTRE, Jean- Paul. Marxismo e existencialismo. In: . Questão de método. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1972. SCHILLER, Friedrich. Sobre a educação estética. São Paulo: Herder, 1963. SILVA, Márcio Bolda. Rosto e alteridade: para um critério ético em perspectiva latino-americana. São Paulo: Paulus, 1995. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA035 |
FUNDAMENTOS DE ZOOTECNIA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução ao estudo das espécies zootécnicas; bioclimatologia; melhoramento animal; princípios de anatomia, fisiologia e metabolismo geral dos animais domésticos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Debater as abordagens sobre zootecnia como campo científico. Conhecer os princípios evolutivos das diferentes espécies animais, suas adaptações ao meio ambiente, e os princípios de anatomia, fisiologia e metabolismo geral das espécies dos animais domésticos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CUNNINGHAM, James G.; KLEIN, Bradley G. Tratado de fisiologia veterinária. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 710 p. SISSON, S.; GROSSMAN, J. D.; GETTY, R. Anatomia animais domésticos. 5 ed. Guanabara Koogan, 2008. v. 1. SISSON, S.; GROSSMAN, J. D.; GETTY, R. Anatomia dos animais domésticos. 5. ed. Guanabara Koogan, 2008. v. 2. TORRES, Geraldo Cezar de Vinhaes. Bases para o estudo da Zootecnia. Salvador/Pelotas: Centro Editorial e didático da UFBA/Editora e gráfica Universitária – UFPel, 2002. MULLER, P. B. Bioclimatologia Aplicada aos Animais Domésticos. Porto Alegre: Editora Sulina, 2001. PEREIRA, J. C. C. Melhoramento genético aplicado à produção animal. 6. ed. Editora FEPMVZ, 2012. 758 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
FERREIRA, R. A. Maior produção com melhor ambiente. Para Aves, Suínos e Bovinos. Viçosa: Aprenda Fácil Editora, 2005. 377 p. PEREIRA, J. C. C. Fundamentos de Bioclimatologia Aplicados à Produção Animal. Belo Horizonte: FEP-MVZ, 2010. TORRES, A. P. Melhoramento dos rebanhos. Biblioteca Rural/Livraria Nobel S/A, 1981. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB131 |
NUTRIÇÃO VEGETAL |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Absorção de elementos pelas raízes. Absorção de elementos pelas folhas. Transporte e redistribuição. Os elementos minerais. Critérios de essencialidade: direto e indireto. Macronutrientes: nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Micronutrientes: boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio, níquel e zinco. Elementos benéficos: cobalto, silício e sódio. Elementos com problemas de toxicidade: alumínio, bromo, cádmio, chumbo, cromo e flúor. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Capacitar o aluno a identificar e compreender as principais características e propriedades do solo associadas à sua fertilidade que influenciam na nutrição das plantas e na produção vegetal. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
EPSTEIN, E.; BLOOM, A. J. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas. 3. ed. Tradução: NUNES, M. E. T. Londrina: Ed. Planta, 2006. 403 p. LEHNINGER, A. L.; NELSON, L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 2. ed. Tradução: SIMÕES, A. A.; LODI, W. R. N. São Paulo: Sarvier, 2000. 839 p. MALAVOLTA, E. Elementos de nutrição mineral de plantas. São Paulo: Agronômica Ceres, 1980. 251 p. MALAVOLTA, E. Manual de nutrição mineral de plantas. São Paulo: Agronômica Ceres, 2006. 638 p. MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. Avaliação do estado nutricional das plantas: princípios e aplicações. Piracicaba: Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato, 1997. 319 p. MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. London: Academic Press, 1995. 889 p. TAIZ, Lincoln; ZEIGER, Eduardo. Fisiologia vegetal. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA025 |
AGROECOLOGIA I |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Evolução e coevolução: a agricultura como atividade transformadora do ambiente. A agricultura e implicações socioambientais: os problemas da agricultura moderna e a sustentabilidade. Epistemologia da Agroecologia e evolução do pensamento agroecológico. Relações agroecossistemas-ecossistemas: validação de princípios ecológicos no estudo de agroecossistemas. Grupos funcionais, estrutura, diversidade, estabilidade e resiliência em agroecossistemas. Dimensões da agrobiodiversidade. Formação e manejo de agroecossistemas. Práticas alternativas de produção agropecuária. Princípios de manejo ecológico de pragas. Metodologias de análise e avaliação de agroecossistemas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Construir conhecimento sobre os fundamentos da agroecologia como ciência e das relações entre as ciências da natureza e da sociedade, bem como conhecer as principais práticas agroecológicas de manejo dos agroecossistemas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALTIERI, M. Agroecologia: as bases científicas para uma agricultura sustentável. Rio de janeiro: AS-PTA, 2002. EHLERS, E. Agricultura Sustentável. Origens e perspectivas de um novo paradigma. 2. ed. Guaíba: Agropecuária, 1999. GLIESSSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALTIERI, M. Biotecnologia Agrícola: mitos, riscos ambientais e alternativas. Petrópolis: Vozes, 2004. BURG, I. C.; MAYER, P. H. Alternativas ecológicas para prevenção e controle de pragas e doenças. Francisco Beltrão: GRAFIT, 2009. CANUTO, J. C.; COSTABEBER, J. A. (Org.). Agroecologia: conquistando a soberania alimentar. Porto Alegre: EMATER/ASCAR, 2004. CARVALHO, M. M.; XAVIER, D. F. Sistemas silvipastoris para recuperação e desenvolvimentos de pastagens. In: AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília, DF: Embrapa informação tecnológica, 2005. DIAMOND, J. Armas, Germes e Aço. Rio de Janeiro: Record, 2002. LOVELOCK, J. As eras de gaia. Uma biografia de nosso planeta vivo. Fórum da ciência. Trad. Lucia Rodrigues. Publicações Europa-América, 1988. MACHADO, L. C. P. Pastoreio Racional Voisin: tecnologia agroecológica para o |
|||
|
terceiro milênio. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2004. ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1983. SANTILI, J. Socioambientalismo e Novos Direitos. São Paulo: Petrópolis, 2005. SHIVA, V. Monoculturas da Mente: perspectivas da biodiversidade e da biotecnologia. São Paulo: Gaia, 2003. SILVA, J. G. Tecnologia e Agricultura familiar. Porto Alegre: Ed da UFRG, 1999. THOMPSON, W. I. Gaia: uma teoria do conhecimento. São Paulo: Gaia, 2001. TRIGUEIRO, M. G. S. O Clone de Prometeu. Brasília: Ed UNB, 2002. VOISIN, A. A vaca e seu pasto. 1. ed. Tradução: LUNARDON, Elson. São Paulo: Mestre Jou, 1973. . Dinâmica das pastagens: devemos lavrar nossas pastagens para melhorá- las? 2. ed. Tradução: MACHADO, Luiz C. Pinheiro. São Paulo: Mestre Jou, 1979. . A produtividade do pasto. 2. ed. Tradução: MACHADO, Norma B. P. São Paulo: Mestre Jou, 1981. WILSON, E. O. (Org.). Biodiversidade. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1997. ZANONI, M. (Org.). Biossegurança Transgênicos Terapia Genética Células Tronco: questões para a ciência e para a sociedade. Brasília: NEAD/IICA, 2004. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA209 |
BROMATOLOGIA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceito e importância da bromatologia. Estudo químico e nutricional dos constituintes fundamentais dos alimentos. Métodos de amostragem. Determinação dos constituintes fundamentais dos alimentos. Alimentos dotados de toxidez intrínseca. Alimentos dotados de toxidez extrínseca. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Subsidiar o aluno no conhecimento dos alimentos e seus valores nutricionais utilizados na alimentação, bem como análises químico-bromatológicas utilizadas para tanto, preparando-os para o entendimento de nutrição animal. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CAMPOS, F. P.; NUSSIO, C. M. B. Métodos de análise de alimentos. Piracicaba: FEALQ, 2004. CECCHI, H. M. Fundamentos teóricos e práticos em análise de alimentos. Campinas: UNICAMP, 2007. GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e Vigilância Sanitária de Alimentos. São Paulo: Varela, 2001. MORETTO, E. et al. Introdução à ciência de alimentos. Florionópolis: UFSC, 2002. 253 p. PRATES, E. R. Técnicas de pesquisa em nutrição animal. Porto Alegre: Ed. UFRGS, 2007. 414 p. SALINAS, R. D. Alimentos e nutrição: introdução a bromatologia. 3. ed. Trad. Fatima Murad. Porto Alegre: Artmed, 2002. SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos. Viçosa: UFV, 2002. 235 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ANDRIGUETO, José Milton. Nutrição animal: bases e fundamentos. Editora Nobel, 1990. 395 p. v. 1. GOMES, J. C.; OLIVEIRA, G. F. Análises físico-químicas de alimentos. Viçosa: Ed. UFV, 2011. 303 p. INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. 4. ed. 1. ed. digital. São Paulo: Instituto Adolfo Lutz, 2008. Disponível em: <http://www.ial.sp.- gov.br/>. LEHNINGER. Princípios de Bioquímica. São Paulo: Ed. Sarvier, 2007. SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. Análise de alimentos: métodos químicos e biológicos. 3. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2002. VALADARES FILHO, S. C. et al. Tabelas brasileiras de composição de alimentos para bovinos. Viçosa: UFV, 2010. VALADARES FILHO, S. C. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos. Viçosa: UFV, 2011. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB054 |
BIOTECNOLOGIA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
História, importância, bases e aplicações da biotecnologia. Totipotência celular. Cultura de células, tecidos e órgãos: princípios e aplicações. Haploides e diplóides. Fusões celulares. Criopreservação. Biorreatores. Sementes sintéticas e linhagens celulares. Marcadores Moleculares. Geonômica e proteômica. DNA recombinante. Organismos Geneticamente Modificados e Biossegurança. Biotecnologias e Bioética. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Proporcionar aos alunos a oportunidade de aprender os processos que levam a diferenciação celular que permitem a formação de órgãos e a regeneração das plantas. Conhecer as bases genéticas de marcadores moleculares. Selecionar os marcadores moleculares mais apropriados aos objetivos. Conhecer as bases das tecnologias do DNA recombinante. Entender o processo de cultivo in vitro. Compreender os princípios de transgenia. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
MÁRCIO ELIAS FERREIRA, M. E.; GRATTAPAGLIA, D. Introdução ao uso de marcadores moleculares em análise genética. EMBRAPA, 1998. 220 p. TEIXEIRA, P.; VALLE, S. Biossegurança, uma abordagem multidisciplinar. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1996. TORRES, A. C.; CALDAS, L. S.; BUZZO, J. A. (Ed.). Cultura de Tecidos e Transformação Genética de Plantas. Brasília: Embrapa, 1999. v. 1. e 2. ZAHA, A. (Coord.). Biologia Molecular Básica. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1996. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
FALEIRO, F. G. Marcadores genético-moleculares aplicados a programas de conservação e uso de recursos genéticos. EMBRAPA, 2007. 102 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB114 |
FISIOLOGIA VEGETAL |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
A água e as células vegetais: estrutura e propriedades da água. Processos de transporte de água: difusão, osmose, embebição e fluxo de massa. Métodos de determinação de potenciais. Absorção e perda de água pelas plantas. Gutação e transpiração. Mecanismo estomático. Competição interna pela água. Estresse hídrico. Transporte e redistribuição de nutrientes minerais. Fotossíntese. Metabolismo ácido das Crassuláceas. Fotorrespiração. Translocação de solutos orgânicos. Relações fonte- dreno. Fotoperiodismo. Mecanismo da florescência. Temperatura e planta. Crescimento e desenvolvimento. Reguladores vegetais. Tropismo e movimentos rápidos. Maturação e senescência. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer os processos do metabolismo, crescimento e desenvolvimento dos vegetais, relacionados com os fatores externos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AWAD, M.; CASTRO, R. C. Introdução à fisiologia vegetal. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1992. 177 p. FLOSS, E. Fisiologia das Plantas Cultivadas. Passo Fundo: Editora da UPF, 2011. MALAVOLTA, E. Elementos de nutrição mineral de plantas. Ed. Agronômica Ceres, 1980. 251 p. MALAVOLTA, E.; VITTI, G. C.; OLIVEIRA, S. A. Avaliação do estado nutricional de plantas: princípios e aplicações. 2. ed. Piracicaba: POTAFOS, 1997. 251 p. TAIZ, L; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
EPSTEIN, E. Nutrição mineral das plantas: princípios e perspectivas. São Paulo: EDUSP, 2006. 341 p. KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. 2. ed. Guanabara Koogan, 2008. LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. Sao Carlos: Rima Artes e Textos, 2000. 531 p. MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. 2. ed. London: Academic Press, 2012. 889 p. RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEN082 |
TOPOGRAFIA BÁSICA |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução à Topografia. Fundamentos de Topografia. Normas técnicas para levantamento topográficos e desenho topográfico. Coordenadas topográficas. Orientação topográfica. Instrumentos topográficos. Métodos de medição de ângulos e distâncias. Levantamentos topográficos. Planimetria e altimetria. Introdução à teoria dos erros. Taqueometria. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Interpretar e realizar estudos, projetos e levantamentos topográficos básicos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BORGES, A. C. Exercícios de Topografia. 3. ed. ver. e ampl. São Paulo: Edgard Blücher, 1975. COMASTRI, José Anibal; TULER, José Cláudio. Topografia. Altimetria. 2. ed. Universidade Federal de Viçosa, Imprensa Universitária UFV, 1999. COMASTRI, José Anibal. Topografia. Planimetria. 2. ed. Universidade Federal de Viçosa, Imprensa Universitária UFV, 1999. MCCOMARC, J. C. Topografia. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BORGES, Alberto C. Topografia. São Paulo: Edgard Blücher Ltda, 1997. v. 1 e 2. ESPARTEL, L. Curso de topografia. Porto Alegre: Globo, 1973. 655 p. GARCIA. G. J.; PIEDADE, G. C. Topografia aplicada às ciências agrárias. São Paulo: Nobel, 1989. 256 p. LOCH, C.; CORDINI, J. Topografia contemporânea, planimetria. 2. ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 2000. PARADA, M. de Oliveira. Elementos de Topografia: Manual Prático e Teórico de Medições e Demarcações de Terra. Editora Blucher, 1992. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA247 |
LEVANTAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Sistema Brasileiro de classificação do solo. Estudo comparado de sistemas internacionais (FAO e Americano). Classificação interpretativa dos solos. Levantamento de solos conceitos, tipos e métodos. Mapeamento: conceitos, tipos e métodos. Leitura e interpretação de mapas de solos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer os sistemas de classificação dos solos e identificar o tipo de paisagem característico de modo a poder planejar o uso e o manejo voltados ao desenvolvimento de atividades agropecuárias sustentáveis, explicitando suas relações com o processo de desenvolvimento econômico, social e político no rural e suas implicações para a sociedade em geral. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
EMBRAPA. Sistema Brasileiro de classificação de solos. Brasilia, 2006. LEPSCH, I. F. (Coord.). Manual para levantamento utilitálitario do meio físico e classificação no sistema de capacidade de uso. Campinas: SBCS, 1991. 175 p. PRADO, H. Manejo dos solos, manisfestações pedológicas e suas implicações. São Paulo: Nobel, 1991. RESENDE, M.; CURL, N. T. et al. Pedologia, base para distinção de ambientes. Viçosa: NEPUT, 1997. SANTOS, R. D.; LEMOS, R. C.; SANTOS, H. G.; KER, J. C.; ANJOS, L. H. C. Manual de descrição e coleta de solo no campo. 5. ed. rev. e ampl. Viçosa: SBCS, 2005. 100 p. SCHNEIDER, P.; GIASSON, E.; KLAMT, E. Classificação da aptidão agrícola das terras. Guaíba: Agrolivros, 2007. 72 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
KER, J. C.; CURI, N.; SCHAEFER, C. E. G. R.; VIDAL-TORRADO, P. Pedologia: fundamentos. Viçosa: SBCS, 2012. 343 p. LEPSCH, I. F. 19 lições de pedologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 456 p. SANTA CATARINA (Estado). Levantamento de reconhecimento dos solos do estado de Santa Catarina. Santa Maria: UFSM, 1973. STRECK, E. V.; KAMPF, N.; DALMOLIN, R. S. D.; KLAMT, E.; NASCIMENTO, P. C.; SCHNEIDER, P.; GIASSON, E.; PINTO, L. F. S. Solos do Rio Grande do Sul. 2. ed. Porto Alegre: EMATER/RS-ASCAR, 2008. 222 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
|
OPTATIVO II |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
A ser definida pelo colegiado do Curso |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
5° FASE
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA213 |
ENTOMOLOGIA AGRÍCOLA |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Biologia de insetos. Sistemática, Morfologia e fisiologia dos insetos e principais táxons. Ecologia de insetos. Amostragem. Importância dos insetos Principais ordens dos insetos de interesse agrícola. Métodos de controle. Toxicologia de inseticidas. Manejo integrado de pragas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
A fundamentação dos alunos sobre taxonomia e ecologia de insetos busca subsidiar o entendimento do manejo de insetos-pragas na agricultura. Capacitar o aluno a identificar problemas relacionados a pragas, bem como recomendar medidas, que sejam racionais e adequadas a cada situação, para o controle de pragas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FUJIHARA, R. T. et al. Insetos de Importância Econômica: Guia Ilustrado para Identificação de Famílias. Botucatu, SP: Editora FEPAF, 2011. 391 p. GALLO, D. et al. Entomologia agrícola. Piracicaba, SP: FEALQ, 2002. 920 p. GARCIA, F. R. M. Zoologia agrícola: manejo ecológico de pragas. 3. ed. ampl. Porto Alegre: Rigel, 2008. 256 p. GULLAN, P. J.; CRANSTON, P. S. Os insetos: um resumo de entomologia. 3. ed. São Paulo: Roca, 2008. 440 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALMEIDA, L. M. de; RIBEIRO-COSTA, C. S. Manual de coleta, conservação, montagem e identificação de insetos. Ribeirão Preto: Holos, 2003. 78p. CROCOMO, W. B. (Org.). Manejo integrado de pragas. São Paulo: UNESP & CETESB, 1990. PARRA, J. R. P. et al. (Ed.). Controle biológico no Brasil: parasitóides e predadores. São Paulo: Manole, 2002. 609 p. TRIPLEHORN, C. A.; JOHNSON, N. F. Estudo dos insetos. São Paulo: Cengage, 2011. 816 p. VENZON, M. et al. Controle alternativo de pragas e doenças. Viçosa: Epamig, 2006. 358 p. ZAMBOLIM, M.; CONCEIÇÃO, M. Z.; SANTIAGO, T. (Ed.). O que engenheiros agrônomos devem saber para orientar o uso de produtos fitossanitários. 3. ed. rev. ampl. Viçosa: UFV/DFP, 2008. 464 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB065 |
FISIOLOGIA E NUTRIÇÃO ANIMAL |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Coevolução dos organismos com ambiente e sua relação com a anatomia e fisiologia do sistema digestivo dos animais domésticos. Composição dos alimentos. Aspectos bioquímicos, fisiológicos e de metabolismo (glicídios, lipídios, protídios, nitrogênio não proteico, minerais, vitaminas e água). Exigências nutricionais. Formulação e balanceamento de dietas para animais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Transmitir conceitos básicos de nutrição animal. Propiciar conhecimentos sobre o sistema digestivo e a utilização de alimentos pelos animais de interesse zootécnico. Capacitar sobre técnicas de aplicação da nutrição na alimentação animal. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CUNNINGHAM, J. G. Tratado de Fisiologia Veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2004. ANDRIGUETTO, J. M.; PERLY, L. et al. Nutrição animal – As bases e os fundamentos da nutrição animal. São Paulo: Nobel, 2002. v. 1. ANDRIGUETTO, J. M.; PERLY, L. et al. Nutrição animal. São Paulo: Nobel, 2002. v. 2. BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de ruminantes. Jaboticabal: FUNEP, 2011. BETERCHINI, A. G. Nutrição de monogástricos. Lavras, MG: UFLA/FAEPE, 2006. BITTAR, C. M. M.; SANTOS, F. A. P.; MOURA, J. C.; FARIA, V. P. Manejo alimentar de bovinos. FEALQ, 2011. LANA, R. P. Nutrição e alimentação animal (mitos e realidades). Viçosa: Editora UFV, 2007. PEIXOTO, A. M.; MOURA, J. C.; FARIA, V. P. Nutrição de Bovinos - Conceitos Básicos e Aplicados. FEALQ, 1995. SILVA SOBRINHO, A. G. Nutrição de Ovinos. Jaboticabal: Funep, 1996. 258 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
GONZÁLEZ, F. H. D.; DA SILVA, S. C. Introdução à Bioquímica Clínica Veterinária. 2. ed. Porto Alegre: Editora UFRGS, 2006. HAFEZ, E. S. E. Reprodução Animal. Editora Manole, 2004. 513 p. KOSLOSKI, G. V. Bioquímica dos ruminantes. Editora UFSM, 2002. 140 p. LANA, R. P. Sistema Viçosa de formulação de rações. Viçosa: Editora UFV, 2007. NATIONAL RESEARCH COUNCIL - Nutritional Requirements Of Small Ruminants, Sheep’s, Goats, Cervids, and New World Camelids. Washington D.C.: National Academy Press, 2007. 362 p. NATIONAL RESEARCH COUNCIL – NRC. Nutrient requirements of dairy cattle. 7. ed. Washington, D.C.: National Academy Press, 2001. 381 p NATIONAL RESEARCH COUNCIL - NRC. Nutrient Requirements of Beef Cattle. Washington, DC: National Academy Press, 1996. 242 p. ROSTAGNO, H. S. Tabelas brasileiras para aves e suínos: Composição de |
|||
|
alimentos e exigências nutricionais. 2. ed. Editora UFV, 2005. 186 p.
SENGER, P. L. Pathways to Pregnancy and Parturition. Current Conceptions Inc., 1999. p. 368. VALADARES FILHO, S. C. et al. Exigências nutricionais de zebuínos puros e cruzados. Viçosa: Editora UFV, 2010. VALADARES FILHO, S. C. et al. Tabelas brasileiras de composição de alimentos para bovinos. Viçosa: Editora UFV, 2010. VALADARES FILHO, S. C. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos. Viçosa: Editora UFV, 2011. VAN SOEST, P. J. Nutritional Ecology of the Ruminant. Ithaca: Cornell University Press, 1994. 476 p. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB052 |
MELHORAMENTO VEGETAL |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Objetivos e conceitos do melhoramento genético. Origem e evolução de plantas cultivadas. Conservação de germoplasma. Sistemas de reprodução de plantas cultivadas. Centros de origem e/ou de diversidade das plantas cultivadas. Princípios do melhoramento de plantas. Métodos de melhoramento de espécies autógamas. Métodos de melhoramento de espécies alógamas. A biotecnologia como ferramenta do melhoramento genético vegetal. Melhoramento de plantas de propagação assexuada. Distribuição e manutenção de cultivares melhoradas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Utilizar os princípios genéticos e a variabilidade natural ou induzida para obtenção de novos genótipos, geneticamente superiores, através da aplicação dos diferentes métodos de melhoramento. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BORÉM, A. Hibridização artificial de plantas. 2. ed. Viçosa: Editora UFV, 2009. 625 p. BORÉM, A. Melhoramento de espécies cultivadas. 2. ed. Viçosa: Editora UFV, 2005. 969 p. BORÉM, A.; MIRANDA, G. V. Melhoramento de plantas. 5. ed. Viçosa: Editora UFV, 2009. 529 p. NASS, Luciano Lourenço; VALOIS, A. C. C.; MELO, Itamar Soares de; VALADARES-INGLIS, M. C. (Org.). Recursos Genéticos e Melhoramento - Plantas. Rondonópolis: Fundação MT, 2001. 1183 p. PINTO, R. J. B. Introdução ao Melhoramento Genético de Plantas. 2 ed. Editora da Universidade de Maringá, 2009. 351 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BUENO, L. C. S.; MENDES, A. N. G.; CARVALHO, S. P. Melhoramento de Plantas: princípios e procedimentos. Lavras: UFLA, 2001. 282 p. CAMPOS, J. P. Melhoramento genético animal nos trópicos. Belo Horizonte: impr. Univ., 1979. FALCONER, D. S. Introdução à genética quantitativa. Tradução M. A. Silva e J. C. Silva. Viçosa: impr. Univ., 1981. 279 p. FEHR, W. R. Principles of cultivar development: teoria e técnica. New York: MacMillan, 1987. 536 p. FRITSCHE-NETO, R.; BORÉM, A. (Org.). Melhoramento de Plantas para Condições de Estresses Abióticos. 1. ed. Visconde do Rio Branco, MG: Suprema, 2011. 250 p. FRITSCHE-NETO, R.; BORÉM, A. (Org.). Melhoramento de Plantas para Condições de Estresses Bióticos. 1. ed. Visconde do Rio Branco, MG: Suprema, 2012. 240 p. RAMALHO, M. A. P.; FERREIRA, D. F.; OLIVEIRA, A. C. Experimentação em genética e melhoramento de plantas. 2. ed. Lavras: UFLA, 2005. 326 p. RAMALHO, M. A. P.; ABREU, A. F. B.; SANTOS, J. B.; NUNES, J. A. Aplicações da genética quantitativa no melhoramento de plantas autógamas. Lavras: UFLA, 2012. 522 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA039 |
SAÚDE DE PLANTAS |
5 |
75 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução à saúde de plantas; etiologia; sintomatologia; ambiente e doença, fisiologia e epidemiologia de doenças, ciclo das relações patógeno-hospedeiro; controle de doenças. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender os princípios e discutir os diversos fatores técnicos, ambientais, econômicos e socioculturais relacionados com a ocorrência de doenças em plantas. Analisar e discutir os diversos tipos de doenças e formas de controle. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AGRIOS, G. H. Plant Pathology. 5. ed. San Diego: Academic Press, 2005. 952 p. AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIN FILHO, A. (Ed.). Manual de Fitopatologia. Princípios e conceitos. 4. ed. São Paulo: Ceres, 2011. v. 1. 704 p. KIMATI, H.; AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIN FILHO, A.; CAMARGO, L. E. A. (Ed.). Manual de Fitopatologia. Doenças de Plantas Cultivadas. 4. ed. São Paulo: Ceres, 2005. v. 2. 661 p. ROMEIRO, R. S. Bactérias Fitopatogênicas. Viçosa: Universidade Federal de Viçosa, 2005. 417 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALFENAS, A. C.; MAFIA, R. G. Métodos em Fitopatologia. Viçosa: UFV, 2007. 382 p. LLÁCER, G.; LÓPEZ, M. M.; TRAPERO, A.; BELLO, A. Patologia vegetal. Madrid: Mundi-Prensa, 1996. Tomo I. 695 p. LLÁCER, G.; LÓPEZ, M. M.; TRAPERO, A.; BELLO, A. Patologia vegetal. Madrid: Mundi-Prensa, 1996. Tomo II. 459 p. MENDES, M. A. S.; SILVA, V. L. et al. Fungos em Plantas no Brasil. Brasília: EMBRAPA, 1998. 569 p. PUTZKE, J.; PUTZKE, M. T. L. Os Reinos dos Fungos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 1998. v. 1. 606 p. SMITH, I. M.; DUNEZ, J.; LELLIOT, R. A.; PHILLIPS, D. H.; ARCHER, S. A. Manual de Enfermedades de las Plantas. Madrid: Mundi-Prensa, 1992. 671 p. TRIGIANO, R. N.; WINDHAM, M. T.; WINDHAM, A. S. Fitopatologia: conceitos e exercícios de laboratório. Porto Alegre: Artmed, 2010. 576 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB135 |
BIOLOGIA E ECOLOGIA DO SOLO |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Diversidade e ecologia da microbiota e da fauna do solo. Interações entre organismos do solo e plantas. Ciclo do carbono, decomposição de matéria orgânica, formação de húmus, decomposição de compostos de importância agrícola. Ciclo do nitrogênio: mineralização, nitrificação, desnitrificação, imobilização e fixação de nitrogênio atmosférico. Transformações microbianas do fósforo, enxofre, ferro, manganês, potássio e metais pesados. Microbiologia da rizosfera. Interação entre biota e propriedades do solo. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer a dinâmica, evolução e manejo dos organismos do solo e associá-los como os principais fatores envolvidos na potencialização desses organismos nos mais diversos ecossistemas. Avaliar sua importância na produtividade, diversidade, e sua relação nos ciclos de energia e nutrientes de um agroecossistema. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Processos biológicos no sistema solo-planta: ferramentas para uma agricultura sustentável. Embrapa Agroecologia. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2005. ARAÚJO, R. S.; HUNGRIA, M. (Ed.). Microorganismos de importância agrícola. Brasília: Embrapa-SPI, 1994. CARDOSO, E. J. B. N.; TSAI, S. M.; NEVES, M. C. P. Microbiologia do Solo. Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1992. LYNCH, J. M. Biotecnologia do solo: fatores microbiológicos na produtividade agrícola. São Paulo: Manole, 1986. MOREIRA, F. M. S.; HUISING, J.; BIGNELL, D. E. Manual de biologia dos solos tropicais: amostragem e caraterização da biodiversidade. Lavras: Ed. UFLA, 2010. 368 p. MOREIRA, F. M. S.; SIQUEIRA, J. O.; BRUSSAARD, L. Biodiversidade do solo em ecossistemas brasileiros. Lavras: Ed. UFLA, 2008. 768 p. SIQUEIRA, J. O.; MOREIRA, F. M. S.; GRISI, B.; HUNGRIA, M.; ARAÚJO, R. S. Microrganismos e processos biológicos do solo: perspectiva ambiental. Brasília: EMBRAPA, 1994. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALEXANDER, M. Introduction to soil microbiology. 2. ed. New York: Krieger Pub Co, 1991. 467 p. MOREIRA, F.; SIQUEIRA. J. O. Microbiologia e Bioquímica do Solo. Lavras: Editora da UFLA, 2007. PANKHRST, C.; DOUBLE, B. M.; GUPTA, V. V. S. R. Biological Indicators of Soil Health. Oxon: CAB International, 1997. 451 p. SANTOS, G. de A.; SILVA, L. S. da; CANELLAS, L. P.; CAMARGO, F. A. O. Fundamentos da matéria orgânica do solo: Ecossistemas tropicais & subtropicais. 2. ed. Porto Alegre: Metropole, 2008. 654 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA254 |
MECANIZAÇÃO E MÁQUINAS AGRÍCOLAS |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Máquinas para agricultura familiar: tratores agrícolas, máquinas para preparo do solo, para semeadura, plantio e transplantio, para tratos culturais, distribuidores de produtos sólidos e líquidos, máquinas para colheita, análise econômica e operacional da mecanização agrícola |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Reconhecer as principais máquinas utilizadas na agricultura familiar, sua constituição, uso e manutenção, recomendar sua utilização visando reduzir os custos operacionais e paralelamente aumentar a capacidade e eficiência operacional destas máquinas, diminuindo com isso o impacto socioambiental do uso destas tecnologias. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas. São Paulo: Manole, 1990. MÁRQUEZ, L. Tractores Agricolas: Tecnologia y Utilizacion. B&H Editores, 2012. ISBN: 9788493518356. MIALHE, L. G. Manual de mecanização agrícola. São Paulo: Agronômica Ceres, 1974. MIALHE, L. G. Máquinas agrícolas para plantio. Campinas-SP: Millenium Editora, 2012. ISBN: 9788576252603. MIALHE, L. G. Máquinas motoras na agricultura. São Paulo: EPU, 1980. REIS, A. V. et al. Motores, Tratores, Combustíveis e Lubrificantes. Pelotas: Universitária - UFPel, 1999. 315 p. SILVEIRA, Gastão Moraes da. O preparo do solo: implementos corretos. 3. ed. São Paulo: Globo, 1988. 243 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
SAAD, O. Seleção do equipamento agrícola. 3. ed. São Paulo: Nobel, 1981. GALETI, P. A. Mecanização agrícola: preparo do solo. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1981. MACHADO, A. L. T. et al. Máquinas para Preparo do Solo, Semeadura, Adubação e Tratamentos Culturais. Pelotas: Universitária - UFPel, 1996. 229 p. BARGER, E. L. et al. Tratores e seus motores. Rio de Janeiro: Aliança para o Progresso, 1986. 398 p. BARROSO, Eduardo; FERREIRA, Flavio; REIS, Osmar Goeden. Equipamentos agrícolas apropriados ao pequeno produtor rural. Brasília: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, Coordenação Editorial, 1983. 62 p. ORTIZ-CANAVATE, J. Técnica de la mecanización agraria: tractores y aperos de labranza y de cultivo. Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, 1985. 324 p. ORTIZ-CANAVATE, Jaime. Las maquinas agrícolas y su aplicación. Madrid: Mundi-Prensa, 1980. 490 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA069 |
ECOFISIOLOGIA AGRÍCOLA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceitos e fundamentos básicos de termodinâmica aplicados em ecofisiologia. Caracterização do sistema atmosfera. Elementos meteorológicos que afetam o comportamento das plantas. Crescimento, desenvolvimento e potencial de produtividade das plantas cultivadas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Fornecer ao aluno as bases ecofisiológicas e as estratégias de manejo para aumento de produtividade das culturas agrícolas; Habilitar o acadêmico para a medida e interpretação de processos fisiológicos relacionados ao crescimento e desenvolvimento das culturas agrícolas; Avaliar o impacto de modificações de variáveis ambientais sobre os processos ecofisiológicos em comunidades de culturas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CASTRO, P. R. C.; KLUGE, R. A. Ecofisiologia de cultivos anuais. Nobel, 1999. 126 p. FLOSS, E. L. Fisiologia das plantas cultivadas: o estudo do que está por trás do que se vê. 4 ed. Passo Fundo: UPF, 2008. 733 p. LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. São Carlos: Rima Artes e Textos, 2000. 531 p. PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. Agrometeorologia - fundamentos e aplicações práticas. Livraria e Editora Agropecuária, 2002. 478 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BALDY, C.; STIGTER, C. J. Agromètèorologie-des cultures multiples en régions chaudes. INRA editions, 1993. 246 p. CASTRO; KLUGE; SESTARI. Manual de fisiologia vegetal: Fisiologia de cultivos. Editora Agronomica Ceres, 2008. 864 p. KERBAUY, G. B. Fisiologia Vegetal. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. 452 p. PARKINSAN, K. J. Porometry. In: MARSCHALL, B.; WOODWARD, F. I. (Ed.). Instrumentation for Environmental Physiology. Cambridge: Univ. Press. Cambridge, 1985. 232 p. RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan, 2007. SINOQUET, H.; CRUZ, P. Ecophysiology of tropical intercropping. INRA editions, 1992. 483 p. VALANCOGNE, C.; NASE, Z. A heat balance method for measuring sap flaw in small trees. In: BARGHATTI, M.; GRACE, J.; RASCHI, A. (Ed.). Water transport in plants under climatic stress. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. 348 p. VARLET-GRANCHER, C.; BONHOMME, R.; SINOQUET, H. Crop Structure and Light microclimate-caracterization and applications. INRA editions, 1993. 518 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA215 |
FORRAGICULTURA |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução ao estudo da forragicultura e contextualização com a produção animal, inter-relação: solo, clima, planta e animal; forrageiras cultivadas de estação quente; forrageiras cultivadas de estação fria; pastagens naturais; conservação de forrageiras; sistemas de pastejo, valor nutritivo e manejo de pastagens; manejo ecológico de pastagens e pastoreio racional Voisin. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Orientar o estabelecimento, utilização e manejo de pastagens cultivadas e naturais e conservação de forrageiras. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CARAMBULA, M. Pasturas naturales mejoradas. Montevideo: Ed. Hemisfério Sur, 1997. 525 p. FONSECA, Dilermando Miranda; MARTUSCELLO, Janaina Azevedo. Plantas forrageiras. Editora UFV, 2010. 537 p. HODGSON, J. Grazing management: Science into practice. New York: Longman Scientific & Technical, 1990. 203 p. MACHADO, L. C. P. Pastoreio racional Voisin: tecnologia agroecológica para o terceiro milênio. 2. ed. Editora Cinco Continentes, 2010. 376 p. PIRES, Wagner. Manual de pastagem: Formação, manejo e recuperação. 1. ed. Editora Aprenda Fácil, 2006. 302 p. VILELA, Herbert. Pastagem: seleção de plantas forrageiras, implantação e adubação. Editora Aprenda Fácil, 2005. 203 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
PEDREIRA, C. G. S. et al. A Fertilidade do solo para pastagens produtivas: Anais do 21° simpósio sobre manejo de pastagens. Editora FEALQ, 2004. 480 p. PEDREIRA, C. G. S. et al. As pastagens e o meio ambiente: Anais do 23° simpósio sobre manejo de pastagens. Editora FEALQ, 2006. 520 p. PEIXOTO, Aristeu Mendes et al. Fundamentos do pastejo rotacionado: Anais do 14º simpósio sobre manejo de pastagens. Editora FEALQ, 1997. 327 p. PEIXOTO, Aristeu Mendes et al. Produção animal em pastagens: Anais do 20° simpósio sobre manejo de pastagens. Editora FEALQ, 2003. 354 p. PILLAR, Valério de Patta et al. Campos Sulinos: conservação e uso sustentável da biodiversidade. Brasilia, DF: MMA, 2009. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
|
OPTATIVO III |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
A ser definida pelo colegiado do Curso |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
6° FASE
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS243 |
ECONOMIA RURAL |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Definições, objeto e metodologia das Ciências Econômicas. Tópicos de microeconomia e macroeconomia e seus efeitos sobre as atividades da economia rural. Teoria do consumidor. Teoria da firma. Estrutura de mercados na economia rural. Medidas de atividade econômica. Comércio internacional. Crescimento e desenvolvimento econômico. Importância da agropecuária e agroindústria para o desenvolvimento econômico. Papel do cooperativismo no desenvolvimento. Papel do Estado na Economia Rural. Instrumentos de política econômica. Políticas públicas para o meio rural (crédito, seguros, garantia de renda e preços, ater e pesquisa, subsídios e isenções...). |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Identificar a importância da ciência econômica quanto à produção e comercialização de produtos agrícolas como é a economia nos mercados agrícolas e suas peculiaridades. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ACCARINI, José Honório. Economia Rural e Desenvolvimento. Rio de Janeiro: Ed. Vozes, 2001. ARBAGE, A. P. Princípios de Economia Rural. Universidade Federal de Santa Maria-RS. Departamento de Educação Agrícola e Extensão, Editora Argos, 2006. BACHA, C. J. C. Economia e Política agrícola no Brasil. São Paulo: Atlas, 2004. MENDES, J. T. G. Economia Agrícola. Curitiba: ed. ZNT, 1998. VASCONCELLOS, M. A. S. Economia: micro e macro. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2007. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BRUM, A. J. Desenvolvimento Econômico Brasileiro. 20. ed. Ijuí: Ed. Unijuí, 1999. PASSOS, C. R. M.; NOGAMI, O. Princípios de economia. 4. ed. São Paulo: Pioneira Thomson Learnig, 2003. PINHO, D. B. et al. Manual de Introdução à Economia. São Paulo: Saraiva, 2006. TROSTER, R. L.; MOCHON, F. Introdução à Economia. São Paulo: Makron Books, 1999. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA037 |
QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Princípios de química do solo: pH, acidez, alcalinidade e salinidade do solo, reações de troca, dinâmica da disponibilização de nutrientes no solo. Avaliação da fertilidade do solo. Análise de solo e sua interpretação. Acidez e calagem. Macronutrientes e micronutrientes. Fontes de fertilizantes. Recomendações de Adubação e Calagem. O solo como meio de inativação e/ou transformação de poluentes; critérios e alternativas de descarte e/ou reaproveitamento de resíduos no solo. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender o processo de ciclagem de nutrientes dentro do enfoque de agricultura sustentável por meio da avaliação das relações do manejo da fertilidade do solo com o desenvolvimento da agricultura. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BISSANI, C. A.; GIANELLO, C.; TEDESCO, M. J.; CAMARGO, F. A. O. Fertilidade dos solos e manejo da adubação de culturas. Porto Alegre: Gênesis, 2004. 328 p. CALEGARI, A.; MONDARDO, A.; BULISANI, E. A.; WILDNER, L. P.; COSTA, M. B. B.; ALCÂNTARA, P. B.; MIYASAKA, S.; AMADO, T. J. Adubação verde no sul do Brasil. Rio de Janeiro: AS-PTA, 1992. KIEHL, E. J. Fertilizantes orgânicos. São Paulo: Ceres, 1985. MEURER, E. J. (Ed.). Fundamentos de Química do Solo. Porto Alegre: Gênesis, 2004. 209 p. NOVAIS, R. F.; ALVAREZV, Victor Hugo; BARROS, N. F.; FONTES, R. L. F.; CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. Fertilidade do Solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2007. v. 1. 1017 p. RAIJ, B. V. Fertilidade do solo e adubação. Piracicaba: Ceres, Potafós, 1991. 343 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
FRIES, M. R.; DALMOLIN, R. S. D. (Coord.). Atualização em recomendação de adubação e calagem: ênfase em plantio direto. Santa Maria: UFSM, Editora Palloti, 1997. KAMINSKI, J. (Coord.). Uso de corretivos da acidez do solo no plantio direto. Pelotas: SBCS-Núcleo Regional Sul, 2000. 123 p. MARSCHNER, H. Mineral nutrition of higher plants. London: Academic Press, 1995. 889 p. MONEGAT, C. Plantas de Cobertura de Solo: Características e manuseio em pequenas propriedades. Chapecó: Ed. do Autor, 1991. 337 p. SÁ, J. C. de M. Manejo da fertilidade do solo no plantio direto. Castro: Fundação ABC, 1993. 96 p. SANTOS, G. A.; SILVA, Leandro Souza da; CANELLAS, L. P.; CAMARGO, F. A. |
|||
|
O. Fundamentos da Materia organica do solo. 2. ed. Porto Alegre: Metrópole, 2008. v. 1. 654 p. SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIÊNCIA DO SOLO. COMISSÃO DE QUÍMICA E FERTILIDADE DO SOLO. Manual de adubação e calagem para os Estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Porto Alegre: SBCS – Núcleo Regional Sul, 2004. 400 p. SPOSITO, G. The chemistry of soils. New York: Oxford University Press, 1989. 277 p. TISDALE, S. L.; NELSON, W. L. Soil Fertility and Fertilizers: An Introduction to Nutrient Management. 7. ed. New York: MacMillan, 2004. 528 p. VIEIRA, L. S. Manual da ciência do solo com ênfase aos solos tropicais. 2. ed. São Paulo: Ed. Agronômica Ceres, 1988. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEN090 |
HIDRÁULICA APLICADA |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Hidrostática e hidrodinâmica. Hidrometria em condutos livres e condutos forçados. Vertedouros. Escoamento em condutos livres e condutos forçados. Instalações de recalque. Bombas hidráulicas. Barragens de terra: cálculo da capacidade de irrigação; dimensionamento do maciço de terra, movimento de terra; diagrama de áreas e volumes. Sistemas de segurança; vertedouro; anéis de vedação; filtro; trincheira. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Proporcionar conhecimentos necessários ao estudo, planejamento e desenvolvimento de projetos utilizados em instalações hidráulicas aplicadas a agricultura, de modo a garantir o perfeito funcionamento e aplicação em obras hidráulicas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AZEVEDO NETO, J.; ALVAREZ, G. Manual de hidráulica. 8. ed. atual. Edgard Blucher, 1998. 670 p. BAPTISTA, M. B.; LARA, M. Fundamentos de Engenharia Hidráulica. 3. ed. rev. Belo Horizonte: Editora UFMG e Escola de Engenharia da UFMG, 2010. 476 p. NEVES, Eurico. Curso de hidráulica. Porto Alegre: Ed. Globo, 1979. PORTO, R. de M. Hidráulica Básica. 2. ed. São Carlos: Escola de Engenharia de São Carlos USP, 2000. 519 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
DAKER, A. A água na agricultura: Hidráulica aplicada à agricultura. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1987. v. 1. DAKER, A. A água na agricultura: captação, elevação e melhoramento da água. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos, 1987. v. 2. HWANG, N. Fundamentos de Sistemas de Engenharia Hidráulica. Rio de Janeiro: Prentice Hall, 1984. MACHINTYRE, A. J. Bombas e Instalações de Bombeamento. Rio de Janeiro: Guanabara, 1980. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA235 |
CULTURAS DE VERÃO |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Principais culturas de verão para a região. Época e sistema de cultivo, espaçamento, densidade e população de plantas. Cultivares. Adubação orgânica e química, principais pragas, doenças e plantas concorrentes de interesse agronômico para as culturas estudadas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer as principais culturas de verão e sua importância socioeconômica, origem, características e fisiologia da planta, exigências climáticas e de solo, semeadura, tratos culturais, principais pragas e doenças, colheita, armazenamento e comercialização, a fim de ter condições de empregar, planejar e orientar no manejo e produção das culturas de verão. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FANCELLI, A. L.; DOURADO NETO, D. Produção de Feijão. Ed. Livroceres, 2007. FORNASIERI FILHO, D. Manual da Cultura do Milho. Jaboticabal: Funep, 2007. 507 p. FORNASIERI-FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da cultura do sorgo. Jabo- ticabal: FUNEP, 2009. 202 p. FREIRE, E. C. Algodão no cerrado do Brasil. Brasília: ABRAPA, 2007. 918 p. GALVÃO, J. C. C.; MIRANDA, G. V. (Ed.). Tecnologias de produção do milho. Viçosa: UFV, 2004. 366 p. MALAVOLTA, E. Manual de Calagem e Adubação das Principais Culturas. Piracicaba: Agronômica Ceres, 1987. 496 p. NOVAIS, R. F. et al. Fertilidade do Solo. Editora Sociedade Brasileira de Ciência do Solo (SBCS), 2007. SANTOS, A. B.; STONE, L. F.; VIEIRA, N. R. A. A cultura do arroz no Brasil. 2. ed. rev. ampl. Santo Antônio de Goiás: EMBRAPA Arroz e Feijão, 2006. 1000 p. SANTOS, F.; BORÉM, A.; CALDAS, C. Cana-de-açúcar: bioenergia, açúcar e etanol – tecnologias e perspectivas. 2. ed. rer. e amp. Viçosa: UFV, 2011. 637 p. SANTOS, R. H. S. Princípios ecológicos para a agricultura. Viçosa: Ed. UFV, 2004. SEDIYAMA, T. Tecnologias de produção e usos da soja. Editora: Mecenas, 2009. 314 p. VIEIRA, R. F.; VIEIRA, C.; VIEIRA, R. F. Leguminosas graníferas. Viçosa: UFV, 2001. 206 p. ZAMBOLIM, L. Boas Práticas Agrícolas na Produção de Café. Editora: Independente, 2007. 234 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALTIERI, M. A. Agroecologia: a Dinâmica Produtiva da Agricultura Sustentável. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA251 |
MANEJO DE PLANTAS ESPONTÂNEAS |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Biologia e ecologia das plantas espontâneas; vegetação espontânea x culturas: influência benéfica de algumas plantas espontâneas nas propriedades físicas e químicas dos solos. Competição por água, luz e nutrientes. Métodos de manejo de plantas espontâneas Alelopatia: conceitos gerais e estudos de plantas com propriedades alelopáticas para o manejo de plantas espontâneas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Adquirir informações sobre a biologia e ecologia das plantas espontâneas, relacionando estas informações com a dinâmica populacional e interferência das infestantes sobre as plantas cultivadas em agroecossistemas e seu controle. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AGOSTINETO, D.; VARGAS, L. Resistência de plantas daninhas a herbicidas. Pelotas – RS, 2009. 390 p. KISSMANN, K. G.; GROTH, D. Plantas infestantes e nocivas. 2. ed. São Paulo: BASF, 1999. Tomo II. 978 p. KISSMANN, K. G.; GROTH, D. Plantas infestantes e nocivas. 2. ed. São Paulo: BASF, 2000. Tomo III. 726 p. KISSMANN, K. G.; GROTH, D. Plantas infestantes e nocivas. 2. ed. São Paulo: BASF, 1997. Tomo I. 825 p. LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas - plantio direto e convencional. 6. ed. Nova Odessa-SP: Editora Plantarum Ltda, 2002. 384 p. OLIVEIRA JR., R.; CONSTANTIN, J.; INOUE, M. H. Biologia e Manejo de Plantas Daninhas. Editora OMNIPAX, 2011. 348 p. RODRIGUES, B. N.; ALMEIDA, F. R. Guia de herbicidas. 5. ed. Londrina: Edição dos Autores, 2011. 697 p. ROMAN, E. S.; VARGAS, L. Manual de manejo e controle de plantas daninhas. 2. ed. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2008. 780 p. SILVA, A. A.; SILVA, J. F. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa: Ed. UFV, 2007. 367 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CHRISTOFFOLETI, P. J. Aspectos de resistência de plantas daninhas a herbicidas. 3. ed. Piracicaba: Associação Brasileira de Ação à Resistência de Plantas Daninhas – HRAC-BR, 2008. 120 p. OLIVEIRA JÚNIOR, R. S.; CONSTANTIN, J. Plantas daninhas e seu manejo. Guaíba: Livraria e Editora Agropecuária, 2001. 362 p. ZAMBOLI, L. et al. Produtos Fitossanitários (fungicidas, inseticidas, acaricidas e herbicidas). Viçosa: Ed. UFV/DFP, 2008. 652 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA271 |
SUINOCULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Situação atual da suinocultura no Brasil e no mundo. Os impactos da suinocultura nos ecossistemas. Sistemas de produção de suínos ambientalmente sustentáveis. Raças, alimentação, sanidade, instalações, melhoramento, equipamentos e manejo voltados à suinocultura . Manejo de dejetos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Fornecer informações sobre os aspectos técnicos envolvidos na produção de suínos. Obter informações sobre tecnologias, noções de gerenciamento e manejo sustentável da suinocultura. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BORTOLOZZO, F. P.; WENTZ, I.; BENNEMANN, P. E.; BERNARDI, M. L.; WOLLMANN, E. B.; FERREIRA, F. M.; BORCHART NETO, G. Inseminação artificial na suinocultura tecnificada. Porto Alegre: Palllotti, 2005. 185 p. BORTOLOZZO, F. P.; WENTZ, I.; BERNARDI, M. L.; AMARAL FILHA, W. S.; MELLAGI, A. P. G.; FURTADO, C. S. D. A Fêmea suína de reposição. Porto Alegre: Palllotti, 2006. 128 p. CAVALCANTI, S. S. Produção de Suínos. Campinas-SP: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1984. LIMA, J. A. F. Suinocultura. Lavras-MG: ESAL/FAEP, 1991. 161 p. MAFESSONI, E. L. Manual Prático de Suinocultura. Editora UPF, 2006. v. 1. MAFESSONI, E. L. Manual Prático de Suinocultura. Editora UPF, 2006. v. 2. SEGANFREDO, M. A. Gestão ambiental na suinocultura. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2007. SOBESTIANSK, J.; WENTZ, I.; SILVEIRA, P. R. S.; SESTI, L. A. Suinocultura intensiva: produção, manejo e saúde do rebanho. Brasília: Embrapa-SPI; Concórdia: Embrapa-CNPSA, 1998. 388 p. TORRES, A. P. Alimentos e nutrição de suínos. São Paulo: Nobel, 1981. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BERTOLIN, A. Suinocultura. Curitiba: Lítero-Técnica, 1992. 302 p. BONETT, L. P.; MONTICELLI, C. J. Suínos: o produtor pergunta, a Embrapa responde. Brasília: Embrapa-SPI; Concórdia, 1997. 243 p. (Coleção 500 perguntas 500 respostas). BURG, I. C.; MAYER, P. H. Alternativas ecológicas para a prevenção e controle de pragas e doenças. Francisco Beltrão, PR: Grafit, 2009. CAVALCANTI, S. S. Suinocultura dinâmica. FEP-MVZ Editora, 1998. 494 p. DOMINGUES, P. F.; LANGONI, H.; FERREIRA-JÚNIOR, R. S. Manejo Sanitário Animal. São Paulo: EPUB, 2001. 224 p. EMBRAPA. Curso de Suinocultura. Concórdia-SC: Embrapa-CNPSA, 1997. 127 p. FIALHO, E. T. Alimentos Alternativos para Suínos. Lavras: Ufla, 2009. OLIVEIRA, P. A. V. De; LIMA, G. J. M. M. De; FÁVERO, J. A. et al. Suinocultura - noções básicas. Concórdia, SC: Embrapa-CNPSA, 1993. 37 p. (EMBRAPA-CNPSA, Documentos, 31). SENGER, P. L. Pathways to Pregnancy and Parturition. Current Conceptions Inc., 1999, p. 368. SOBESTIANSK, J.; BARCELLOS, D.; MORES, N.; CARVALHO, L. F.; OLIVEIRA, S. Clínica e Patologia Suína. Goiânia: Art3, 2001. 464 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA045 |
PROPAGAÇÃO DE PLANTAS |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceito e importância da propagação de plantas nos aspectos econômicos e social. Métodos de propagação sexuada e assexuada. Plantas matrizes. Dormência e regulação da germinação. Poliembrionia e apomixia. Clones e propagação vegetativa. Bases anatômicas e fisiológicas da estaquia, enxertia e mergulhia. Multiplicação por estruturas vegetativas especializadas. Legislação para a produção de mudas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer diferentes métodos de produção de mudas de olerícolas, frutíferas, florícolas e ornamentais, suas vantagens e desvantagens, intervindo nas diferentes fases dos processos de propagação de plantas preservando o ambiente e promovendo a sustentabilidade do sistema produtivo. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BARBOSA, J. G.; LOPES, L. C. Propagação de plantas ornamentais. Viçosa: Ed. UFV, 2007. 183 p. FACHINELLO, J. C. et al. Propagação de plantas frutíferas. Brasília: Embrapa Informações Tecnológicas, 2008. 221 p. HARTMANN, H. T.; KESTER, D. P.; DAVIES, F.; GENEVE, R. Plant propagation: principles and practices. 7. ed. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 2001. 880 p. HILL, L. Segredos da propagação de plantas. São Paulo: Nobel, 1996. 245 p. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA-SECRETARIA NACIONAL DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA. Legislação da inspeção e fiscalização da produção e do comércio de sementes e mudas. 3. ed. Brasília: MA/SNPA/CSM, 1981. 194 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALTIERI, M. Biotecnologia Agrícola: mitos, riscos ambientais e alternativas. Petrópolis: Vozes, 2004. BROWSE, P. M. A Propagação das plantas. 4. ed. Portugal: Companhia Editora Nacional, 1979. FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. Viçosa: UFV, 2000. 402 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA222 |
AVICULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Avicultura no Brasil e no mundo. Produção de matrizes e pintos de um dia. Raças de aves de corte e de postura. Melhoramento genético de galinhas caipiras, cruzamentos para produção de carne e ovos na agroecologia. Sistemas de criação convencional, diferenciado e orgânico. Instalações, equipamentos e alimentação ligados à produção de aves. Sanidade avícola. Avicultura e seus impactos ambientais. Planejamento da criação de aves de corte e de postura ambientalmente sustentável. Inserção do pequeno avicultor em mercados locais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Adquirir conhecimento teórico e prático da cadeia produtiva da atividade avícola, com foco no manejo sustentável e aspectos tecnológicos utilizadas nos sistemas de produção de aves de corte e de ovos comerciais. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALBINO, L. F. T.; NERY, L. R.; VARGAS JÚNIOR, J. G.; SILVA, J. H. V. Criação de Frango e Galinha Caipira. Viçosa: Aprenda Fácil, 2005. COTTA, T. Alimentação de Aves. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. ENGLERT, S. I. Avicultura: tudo sobre raças, manejo e nutrição. 7. ed. atual. Porto Alegre: Agropecuaria, 1998. 238 p. GESSULLI, O. P. Avicultura alternativa: sistema ecologicamente correto que busca o bem estar animal e a qualidade do produto. Porto Feliz: OPG Ed., 1999. 218 p. GUELBER SALES, M. N. Criação de galinhas em sistemas agroecológicos. Vitória, ES: INCAPER, 2005. LANNA, G. R. Q. Avicultura. Recife: UFRPE, 2000. MACARI, M.; FURLAN, R. L.; GONZÁLES, E. (Ed.). Fisiologia Aviária Aplicada a Frangos de Corte. Jaboticabal, SP: Funep/Unesp, 2002. MENDES, A. A.; NÄÄS, I. A.; MACARI, M. (Ed.). Produção de Frangos de Corte. Facta, 2004. 356 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
AVILA, V. S.; SOARES, J. P. G. Produção de ovos em sistema orgânico. 2. ed. Concórdia: Embrapa Suínos e Aves; Seropédica: Embrapa Agrobiologia, 2010. 100 p. BACK, A. Manual de doenças de aves. Cascavel: Coluna do saber, 2004. 220 p. BETERCHINI, A. G. Nutrição de monogástricos. Lavras, MG: UFLA/FAEPE, 2006. BURG, I. C.; MAYER, P. H. Alternativas ecológicas para a prevenção e controle de pragas e doenças. Francisco Beltrão, PR: Grafit, 2009. DOMINGUES, P. F.; LANGONI, H.; FERREIRA-JÚNIOR, R. S. Manejo Sanitário Animal. São Paulo: EPUB, 2001. 224 p. MACARI, M.; MENDES, A. A. Manejo de Matrizes de Corte. Campinas: Facta, 2005. 421 p. MALAVAZZI, Gilberto. Avicultura: manual pratico. São Paulo (SP): Nobel, 1999. 156 p. TORRES, A. P. Alimentos e Nutrição de Aves Domésticas. São Paulo: Nobel, 1990. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX080 |
GEODÉSIA E SENSORIAMENTO REMOTO |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceitos fundamentais em geodésia. Geometria do elipsoide. Geodésia geométrica: formas de dimensões da terra. Geodésia por satélite. Introdução ao uso do GNSS (Sistemas globais de Navegação por satélite). Sistemas de referência e redes terrestres. Conceitos e fundamentos de sensoriamento remoto. Sistema de Informações Geográficas (SIG). Manipulação e gerenciamento de dados no SIG. Geodésia por Satélite – GPS. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Explicar os princípios básicos e uso prático do sensoriamento remoto. Apresentar as técnicas de tomada de dados, análise de informações, elaboração de mapas temáticos e sua utilização no setor agropecuário. Compreender as bases do geoprocessamento e seu uso no setor agropecuário. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
GEMAEL, C. Introdução à Geodésia Física. Curitiba: Editora da UFPR, 1999. MÔNICO, J. F. G. Posicionamento pelo GNSS: descrição, fundamentos e aplicações. São Paulo: ed. UNESP, 2008. 480 p. MOREIRA, M. A. Fundamentos do Sensoriamento Remoto e Metodologias de Aplicação. 2. ed. UFV, 2003. 307 p. NOVO, E. M. L. de M. Sensoriamento Remoto -Princípios e Aplicações. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2002. 308 p. SEGANTINE, P. C. L. GPS: Sistema de Posicionamento Global. 1. ed. EESC-USP, 2005. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ROCHA, C. H. B. Geoprocessamento - Tecnologia transdisciplinar. 2. ed. Juiz de Fora-MG: Ed. Do Autor, 2002. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
|
OPTATIVO IV |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
A ser definida pelo colegiado do Curso |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
7° FASE
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS056 |
ADMINISTRAÇÃO E ANÁLISE DE PROJETOS |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceituação e classificação de projetos. Etapas na elaboração de projetos. Estrutura do projeto. Fundamentos da Gestão de Projetos. Gerenciamento de “Stakeholders”. Prazos, qualidade, escopo, custos, recursos humanos, recursos materiais em projetos. Avaliação social de projetos. Análise de projetos. Análise de risco e viabilidade. Relação com o meio ambiente. Gestão da implantação de projetos. Tópicos avançados em Gestão de Projetos. Tecnologia em projetos. Introdução a softwares em projetos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Demonstrar as principais técnicas e ferramentas necessárias para a elaboração e avaliação de projetos. Capacitar o acadêmico com relação a análise de investimentos, captação de recursos e viabilidade econômico-financeira do projeto em questão. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BUARQUE, C. Avaliação econômica de projetos. Rio de Janeiro: Campus, 1991. CONTADOR, C. R. Avaliação social de projetos. São Paulo: Atlas, 1981. KEELLING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem global. São Paulo: Saraiva, 2002. MAXIMIANO, A. C. A. Administração de Projetos: como transformar ideias em projetos. São Paulo: Atlas, 2002. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ANDY, Bruce. Como gerenciar projetos. São Paulo: Publifolha, 2001. CLEMENTE, A. (Org.). Projetos empresariais e públicos. São Paulo: Atlas, 1997. DIENSMORE, P. C. Como se tornar um profissional em gerenciamento de projetos. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2003. DUFUMIER, M. Projetos de desenvolvimento agrícola. Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2007. EDUNIOESTE. Gestão das unidades artesanais na agricultura familiar: uma experiência no Oeste do Paraná. Cascavel, 2007. 163 p. ISBN 9788576441090. KERZNER, H. Gestão de projetos. São Paulo: Bookman, 2000. MEREDITH, J. R. Administração de projetos: uma abordagem gerencial. 4. ed. São Paulo: LTC, 2003. SILVA NETO, B.; CALEGARO, S. Agricultura e desenvolvimento de atividades não agrícolas em municípios rurais: uma análise da dinâmica macroeconômica de Coronel Barros-RS. Indicadores Econômicos FEE, v. 32, n. 3, p. 177-200, nov. 2004. SILVA, Newton José Rodrigues da. Dinâmicas de desenvolvimento da piscicultura e políticas públicas: análise dos casos do Vale do Ribeira (SP) e do Alto Vale do Itajaí (SC). São Paulo (SP): Ed. UNESP, 2008. 240 p. VALERIANO, D. Gerenciamento estratégico e administração por projetos. Rio de Janeiro: Makron, 2001. VALLE , A. B. do et al. Fundamentos do gerenciamento de projetos. 1. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2007. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA232 |
CULTURAS DE INVERNO |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
A disciplina visa fornecer informações ao aluno a cerca das culturas cultivadas no inverno, além dos principais manejos e tratos culturais aplicados para que essas apresentem seu potencial de produtividade. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer as principais culturas de inverno e sua importância socioeconômica, origem, características e fisiologia da planta, exigências climáticas e de solo, semeadura, tratos culturais, principais insetos, doenças e plantas daninhas , colheita, armazenamento e comercialização, para ter condições de empregar, planejar e orientar o manejo e produção das culturas de inverno, principalmente através dos princípios agroecológicos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BAIER, A. C.; FLOSS, E. L.; AUDE, M. I. S. As lavouras de inverno - 1: aveia, centeio, triticale, colza, alpiste. 2. ed. São Paulo: Globo, 1989. 172 p. BALDANZI, G. As lavouras de inverno - 2: cevada, tremoço, linho, lentilha. 2. ed. Rio de Janeiro: Globo, 1988. 184 p. CORDEIRO, L. A. et al. A cultura da canola. Viçosa: UFV, 1999. 50 p. FORNASIERI-FILHO, D. Manual da cultura do trigo. Jaboticabal: FUNEP, 2008. 338 p. MALAVOLTA, E. Manual de Calagem e Adubação das Principais Culturas. Piracicaba: Agronômica Ceres, 1987. 496 p. SANTOS, H. P. Sistemas de produção para cereais de inverno sob plantio direto no Sul do Brasil. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2010. 368 p. TOMM, G. O. et al. Tecnologia para Produção de Canola no Rio Grande do Sul. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2009. 88 p. PIRES, João Leonardo Fernandes; VARGAS, Leandro; CUNHA, Gilberto Rocca da. Trigo no Brasil: Bases para produção competitiva e sustentável. Passo fundo: Embrapa Trigo, 2011. 488 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALTIERI, M. A. Agroecologia: a Dinâmica Produtiva da Agricultura Sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 2004. 110 p. ALTIERI, M. Biotecnologia Agrícola: mitos, riscos ambientais e alternativas. Petrópolis: Vozes, 2004. BARBOSA, C. A. Manual de adubação orgânica. Viçosa: Agrojuris, 2009. 224 p. BONILLA, J. A. Fundamentos da Agricultura Ecológica. São Paulo: Nobel, 1992. 260 p. MIYASAKA, Shiro Navegar. Manejo da biomassa e do solo - visando a sustentabilidade da agricultura brasileira. São Paulo: Editora Navegar, 2008. 192 p. PENTEADO, S. R. Defensivos alternativos e naturais. 3. ed. Via Orgânica, 2007. 172 p. ZANONI, M. E.; FERMENT, G. (Org.). Transgênicos para quem? Agricultura, Ciência e Sociedade. Série NEAD Debate 24, Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Brasília-DF, 2011. 519 p. ISBN 978-85-60548-77-4. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS085 |
RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Fundamentos da responsabilidade social: responsabilidade, obrigação e sensibilidade social. Marketing Social. Voluntariado. Terceiro Setor. Filantropia. Balanço Social. Sustentabilidade. Gestão Social. O meio ambiente. Poluição. Gestão de resíduos. Reciclagem. Sustentabilidade. Passivo ambiental. Impacto ambiental. Gestão Ambiental. Normas ISO E NBR, ambiental e de responsabilidade social. Projeto de responsabilidade socioambiental: diagnóstico, planejamento estratégico de RSE. Tópicos Avançados em Gestão Socioambiental. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Desenvolver no estudante a capacidade de reflexão sobre as diferentes formas de perceber a responsabilidade social e ambiental de um ponto de vista crítico e problematizador . |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALMEIDA, J. R. de et al. Gestão Ambiental: planejamento, avaliação, implantação, operação e verificação. Rio de Janeiro: Thex, 2000. PAULI, G. Emissão zero. Porto Alegre: Edipuc, 1996. REIS, L. F. S. D. et. al. Gestão ambiental em pequenas e médias empesas. Qualitymark, 2002. TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. São Paulo: Atlas, 2002. TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de negócios focadas na realidade brasileira. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo- SP: Atlas, 2009. 442 p. ISBN 9788522455140. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BERLE, G. O empreendedor do verde. São Paulo: Mc Graw-Hill, 1991. JACOBI, P. R. Ciência ambiental os desafios da interdisciplinariedade. São Paulo: Annblame, 1999. LANNA, A. E. L. Gerenciamento de bacia Hidrográfica: aspectos conceituas e metodológicos. Brasília: IBAMA, 1995. PAULI, G. Upsizing. Porto Alegre: L&PM, 1999. VARGAS, H. C. Novos instrumentos de gestão ambiental urbana. São Paulo: EDUSO, 2001. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA048 |
MANEJO E CONSERVAÇÃO DO SOLO E DA ÁGUA |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Funções do solo nos agroecossistemas e no ecossistema. Planejamento do uso das terras. Fatores, processos e efeitos da degradação física, química e biológica do solo. Recuperação física, química e biológica do solo. Sistemas de manejo e práticas conservacionistas de solos. Legislação em conservação do solo e da água. Bacias hidrográficas. Uso e gestão de recursos hídricos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer diferentes formas de manejo, controle da degradação e recuperação de solos e de recursos hídricos degradados utilizando práticas agroecológicas e práticas convencionais. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 4. ed. São Paulo: Ícone, 1999. 355 p. DERPSCH, R.; ROTH, C. H.; SIDIRAS, N.; KÖPKE, U. Controle da erosão no Paraná, Brasil: sistemas de cobertura do solo, plantio direto e preparo conservacionista do solo. GTZ/IAPAR, 1990. FERREIRA, T. N.; SCHWARZ, R. A.; STRECK, E. V. (Coord.). Solos: manejo integrado e ecológico - elementos básicos. Porto Alegre: EMATER/RS, 2000. 95 p. GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. (Org.). Erosão e conservação dos solos: conceitos, temas e aplicações. 2. ed. Rio de Janeiro: Berthand Brasil, 2005. MONEGAT, C. Plantas de Cobertura de Solo: Características e manuseio em pequenas propriedades. Chapecó: Ed. do Autor, 1991. 337 p. PIRES, F. R.; SOUZA, C. M. de. Práticas mecânicas de conservação do solo e da água. Viçosa: UFV, 2003. 176 p. PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. São Paulo: Nobel, 2002. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA049 |
FRUTICULTURA |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Sistemas de produção para espécies frutícolas nativas e exóticas de clima tropical, subtropical e temperado. Manejo agroecológico, orgânico e agroquímico em fruticultura. Adaptabilidade regional de cultivares frutícolas. Material de propagação. Certificação varietal e sanitária: sua importância numa fruticultura sustentável. Instalação do pomar. Manejo da fertilidade do solo e de plantas espontâneas. Poda e utilização dos resíduos da poda. Manejo das principais espécies frutícolas de importância econômica. Controle biológico e uso de tratamentos de baixa toxicidade. Aspectos de pós-colheita de frutos. Normas, importância, aspectos econômicos e qualidade de frutas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Elaborar, executar, orientar, analisar e avaliar projetos de desenvolvimento sustentável da área frutícola, principalmente através dos princípios agroecológicos. Conhecer as principais culturas frutícolas e sua importância socioeconômica, origem, características e fisiologia, exigências climáticas e de solo, plantio, tratos culturais, principais pragas e doenças, colheita, armazenamento e comercialização. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
EPAGRI. A cultura da macieira. Florianópolis: Epagri, 2002. 743 p. KOLLER, O. C. Citricultura: laranja, limão e tangerina. Porto Alegre: Editora Rigel, 1994. 446 p. LEÃO, P. C. de S. (Ed.). Uva de mesa. Produção. Embrapa Semi-Árido. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2001. 128 p. MEDEIROS, C. A. B.; RASEIRA, M. C. B. (Ed.). A cultura do pessegueiro. Brasília: EMBRAPA, Serviço de Produção de Informações, 1998. 350 p. RODRIGUEZ, O.; VIÉGAS, F.; POMPEU, J. Jr.; AMARO, A. A. (Ed.). Citricultura brasileira. 2. ed. Campinas: Fundação Cargill, 1991. v. 1 e 2. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALBUQUERQUE, T. C. S. de (Ed.). Uva para exportação. Aspectos técnicos da produção. Brasília, DF: Embrapa, Serviço de Produção de Informação, 1996. 53 p. CHOUDHURI, M. M. (Ed.). Uva de mesa. Pós-colheita. Embrapa Semi-Árido. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2001. 55 p. EMPASC. Manual da cultura da macieira. Florianópolis: DID/EMPASC, 1986. 562 p. FAJARDO, T. V. M. (Ed.). Uva para processamento. Fitossanidade. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho; Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2003. 134 p. FORTES, J. F.; OSÓRIO, V. A. (Ed.). Pêssego. Fitossanidade. Brasília: Embrapa Serviço de Produção de Informações, 2003. 53 p. KIEHL, E. J. Fertilizantes Orgânicos. Piracicaba-SP: Editora Agronômica Ceres, 1985. 492 p. P. 112-131 (Adubos verdes e Rotação de culturas) & p. 142-364 |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA054 |
IRRIGAÇÃO E DRENAGEM |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Aspectos físico-hídricos e hidrodinâmicos do solo. Propriedades da água. Água no solo. Sistema solo-água-planta-atmosfera. Disponibilidade de água às plantas. Qualidade da Água: parâmetros físicos químicos e biológicos da água e a qualidade de água para Irrigação. Irrigação: Métodos e equipamento de irrigação, Dimensionamento e manejo de sistemas de irrigação. Drenagem: Drenagem superficial e subterrânea. Dimensionamento e manejo de sistemas de drenagem. Prática de campo. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Oferecer ao aluno a oportunidade de aprimorar conhecimentos e habilidades na área de irrigação e drenagem, compreendendo a dinâmica dos processos envolvidos visando sua aplicação prática na área de atuação do profissional formado em Agronomia. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BERGAMASCHI, H.; BERLATO, M. A.; MATZENAUER, R. et al. Agrometeorologia aplicada à irrigação. Porto Alegre: UFRGS, 1992. 125 p. BERNARDO, S. Manual de Irrigação. Viçosa: UFV Imprensa Universitária, 1994. 596 p. CARLESSO, R. A absorção de água pelas plantas, água disponível versus extraível e a produtividade das culturas. Ciência Rural, Santa Maria, v. 25, n. 1, p. 183-188, 1995. CARLESSO, R.; ZIMMERMANN, F. L. Água no solo: Parâmetros para dimensionamento de sistemas de irrigação. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2000. 88 p. COSTA, E. F.; BRITO, R. A. L. Métodos de aplicação de produtos químicos e biológicos na irrigação pressurizada. In: COSTA, E. F.; VIEIRA, R. F.; CRUCIANI, D. E. A drenagem na agricultura. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1983. 337 p. DOORENBOS, J.; KASSAN, A. H. Efectos del água en el rendimiento de los cultivos. Roma: FAO, 1979. 212 p. DOORENBOS, J.; PRUIT, W. O. Crop water requirements. Rome: Food and Agricultural Organization of the United Nations, 1975. 179 p. KLAUS, R.; TIMM, L. C. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. 2. ed. Barueri, SP: Manole, 2012. p. 524. LIBARDI, P. L. Dinâmica da água no solo. Piracicaba: O autor, 1995. 497 p. PALARETTI, L. F.; BERNARDO, S.; MANTOVANI, E. C. Irrigação princípios e métodos. 3. ed. Viçosa: Ed. UFV, 2009. 355 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BELTRAME, L. F. S.; TAYLOR, J. C. Drenagem das Várzeas: métodos, máquinas e materiais. In: BRASIL. Provárzeas Nacional. Ministério da Agricultura, SNPA, 1983. EMBRAPA. Relatório Técnico Anual do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo. Sete Lagoas: EMBRAPA, 1994. 342 p. HILLEL, D. Solo e água, fenômenos e princípios físicos. Porto Alegre: Editora EMMA, 1970. 231 p. KLAR, A. E. A água no sistema solo-planta-atmosfera. São Paulo: Nobel, 1984. 408 p. VIANA, P. A. Quimigação: Aplicação de produtos químicos e biológicos via irrigação. EMBRAPA, 1994. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA229 |
CONSTRUÇÕES RURAIS E INFRAESTRUTURA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Fundamentos básicos de resistência dos materiais aplicados na estabilidade das construções rurais: grafostática/cremona. Estudo dos diversos materiais de construção civil aplicados nas construções rurais. Concreto armado aplicado na construção rural. Estudo das diversas técnicas de construção civil aplicadas na construção rural. Roteiro básico para a elaboração do projeto arquitetônico completo de uma instalação rural. Noções básicas de instalações hidrossanitárias e elétricas em edificações rurais. Modelos de instalações para fins rurais (abrigos, depósitos e armazenamento; instalações para criações zootécnicas e complementares; instalações agrícolas em geral e obras de infraestrutura interna). |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Aplicar os fundamentos de resistência dos materiais no cálculo de sapatas, pilares, vigas e estruturas diversas para a estabilidade das construções. Conhecer os diversos materiais e técnicas de construção civil. Planejar de forma criteriosa projetos arquitetônicos completos de construções funcionais e adaptadas às necessidades das atividades rurais. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BIANCA, J. B. Manual do Construtor. Rio de Janeiro: Ed. Globo, 1990. PEREIRA, M. F. Construções Rurais. São Paulo: Ed. Nobel, 1999. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BORGES, A. C. Prática das Pequenas Construções. São Paulo: Ed. Edgard Blücher Ltda, 1986. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS073 |
TEORIA COOPERATIVISTA I |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Bases doutrinárias da cooperação e do cooperativismo. Fundamentos filosóficos da cooperação. As formas primitivas e tradicionais de ajuda mútua. Surgimento do cooperativismo moderno. Contribuições dos socialistas utópicos para o pensamento cooperativo. Crise do capitalismo e emergência da economia solidária. Cooperação e desenvolvimento. Experiências históricas e contemporâneas. Economia solidária, cooperação e autogestão. Democracia econômica e desenvolvimento solidário. Experiências cooperativas no Brasil e no mundo. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer e compreender as bases doutrinárias e históricas do cooperativismo mundial e brasileiro. Identificar aspectos chaves a serem considerados para a criação e consolidação de experiências cooperativas e associativas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BOBBIO, N. Ensaios sobre Gramsci e o conceito de sociedade civil. São Paulo: Paz e Terra. 1999. CARNOY, M. Estado e teoria política. 6. ed. Campinas: Papirus, 2000. CRUZIO, Helnon de Oliveira. Cooperativas em rede e autogestão do conhecimento. 1ª Edição. Editora: Fundação Getúlio Vargas. 2006. ORMAETXEA, José M. Introducción a la Experiencia Cooperativa de Mondragón. Textos Básicos de OTALORA. Aretxabaleta: Otalora, 2000. PINHO, Diva B. A doutrina cooperativa nos regimes capitalista e socialista. São Paulo: Pioneira. QUIJANO, Aníbal. (1998). La economia popular y sus caminos en América Latina. Mosca Azul Editores. SINGER. Paul; MACHADO, João (2000). Economia socialista. São Paulo: Fundação Perseu Abramo. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ASSMANN, Hugo; MOSUNG, Jung (2000). Competência e sensibilidade solidária: educar para a esperança. Petrópolis: Vozes. BARBOSA, Rosângela N. A economia solidária como política pública. Uma tendência de geração de renda e ressignificação do trabalho no Brasil. SP: Cortez, 2007. DIAZ BORDENAVE, Juan E. O que é participação. 4a ed. São Paulo: Brasiliense, 1986. 84p. FARIA, J. H.. Gestão Participativa: relações de poder e de trabalho nas organizações. 01. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2009. v. 01. 407 p. GAIGER, L. I. Sentidos e experiências da economia solidária no Brasil. Porto Alegre: UFRGS, 2004. MOTTA, F. C. PRESTES, et al. Participação e participações: ensaios sobre autogestão. São Paulo: Babel Cultural, 1987. MLADENATZ, Gromoslav. História das doutrinas cooperativistas. Brasília: Confebras, 2003. SANTOS, Boaventura S. (org.) (2002). Produzir para viver; os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. PINHO, Diva Benevides. O cooperativismo no Brasil: da vertente pioneira a vertente solidária. São Paulo: Saraiva, 2003. TEVOEDJRE, Albert (1981). A pobreza, riqueza dos povos: a transformação pela |
|||
|
solidariedade. São Paulo: Cidade Nova KUBITZA, F., ONO, E.A.. Projetos Aquícolas: Planejamento e Avaliação Econômica. 1 ed. Jundiaí: Fernando Kubitza, 2004. 79 p. YUNUS, Muhammad (2000). Um mundo sem pobreza. São Paulo: Ática, 2009. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
|
OPTATIVO V |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
A ser definida pelo colegiado do Curso |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
8° FASE
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS011 |
MEIO AMBIENTE, ECONOMIA E SOCIEDADE |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Modos de produção e consumo. Noções de economia política. Relação entre ambiente e sociedade: agroecologia, sustentabilidade, agricultura familiar, cooperativismo, associativismo. Sociedade civil e a questão ambiental. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Proporcionar aos acadêmicos a compreensão acerca dos principais conceitos que envolvem a Economia Política e a sustentabilidade do desenvolvimento das relações socioeconômicas e do meio ambiente. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALIER, Jean Martinez. Da economia ecológica ao ecologismo popular. Blumenau: Edifurb, 2008. BECKER. B.; MIRANDA, M. (Org.). A geografia política do desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997. FERREIRA, L. C.; VIOLA, E. (Org.). Incertezas de sustentabilidade na globalização. Campinas: Editora da UNICAMP, 1996. LEFF, Enrique. Epistemologia ambiental. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2002. MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. 14. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1994. SMITH, Adam. Riqueza das nações: Uma investigação sobre a natureza e causas da riqueza das nações. Curitiba: Hermes, 2001. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CAVALCANTI, C. (Org.). Sociedade e natureza: estudos para uma sociedade sustentável. São Paulo: Cortez; Recife: Fundação Joaquim Nabuco, 1998. CHESNAIS, François. A mundialização do Capital. São Paulo: Xamã, 1996. FOSTER, John Bellamy. A Ecologia de Marx, materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. FURTADO, Celso. A economia latino-americana. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. GREMAUD, Amaury; VASCONCELLOS, Marco Antonio.; JÚNIOR TONETO, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 4. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2002. HUNT, E. K. História do pensamento econômico: uma perspectiva crítica. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. LÖWY, Michael. Eco-socialismo e planificação democrática. Crítica Marxista, n. 29, 2009. NAPOLEONI, Claúdio. Smith, Ricardo e Marx. Rio de Janeiro. 4. ed. Rio de Janeiro: Graal, 1978. SEN, Amartia. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. TREVISOL, Joviles Vitório. A educação ambiental em uma sociedade de risco: tarefas e desafios na construção da sustentabilidade. Joaçaba: Edições Unoesc, 2003. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA026 |
AGROECOLOGIA II |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Planejamento de agroecossistemas. Geração e desenvolvimento de tecnologias e agroecossistemas sustentáveis. Agricultura tradicional: limites e potencialidades. Agricultura orgânica e substituição de insumos. Processos e técnicas integradas para o manejo de agroecossistemas: manejo integrado do solo, pragas, doenças e plantas espontâneas. Práticas agroecológicas: policultivos, culturas de cobertura, rotação de cultivos, plantio direto, cultivo mínimo e noções de sistemas biofertilizantes, compostagem e húmus. Noções de sistemas agrossilvopastoris. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Planejar, gerir e construir sistemas agroecológicos de produção e vida familiar, na perspectiva de gerar tecnologias adaptadas à realidade local, considerando as características específicas de cada ecossistema. Conhecer os principais sistemas alternativos de produção agroecológica e os princípios ecológicos de manejo utilizados nas diversas situações que se apresentam. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALTIERI, M. Agroecologia: as bases científicas para uma agricultura sustentável. Rio de janeiro: AS-PTA, 2002. GLIESSSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000. KHATOUNIAN, C. A. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Ed. agroecológica, 2001. KIEHL, E. J. Fertilizantes Orgânicos. Piracicaba-SP: Editora Agronômica Ceres, 1985. 492 p. P. 112-131 (Adubos verdes e Rotação de culturas) & p. 142-364 (Fertilizantes orgânicos simples, Compostagem e Processos especiais). |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALTIERI, M. Biotecnologia Agrícola: mitos, riscos ambientais e alternativas. Petrópolis: Vozes, 2004. BRASIL. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Agrobiodiversidade e Diversidade Cultural. Brasília: MMA/SBF, 2006. BURG, I. C.; MAYER, P. H. Alternativas ecológicas para prevenção e controle de pragas e doenças. Francisco Beltrão: GRAFIT, 2009. CANUTO, J. C.; COSTABEBER, J. A. (Org.). Agroecologia: conquistando a soberania alimentar. Porto Alegre: EMATER/ASCAR, 2004. CARVALHO M. M.; XAVIER, D. F. Sistemas silvipastoris para recuperação e desenvolvimentos de pastagens. In: AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília, DF: Embrapa informação tecnológica, 2005. |
|||
|
MACHADO, L. C. P. Pastoreio Racional Voisin: tecnologia agroecológica para o terceiro milênio. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2004. ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara, 1983. REICHMANN, J. (Org.). Ética Ecológica: propuestas para una reorientación. Montevidéu: Ed. Nordan-Comunidad, 2004. SANTILI, J. Socioambientalismo e Novos Direitos. São Paulo: Petrópolis, 2005. SILVA, J. G. Tecnologia e Agricultura familiar. Porto Alegre: Ed da UFRG, 1999. THOMPSON, W. I. Gaia: uma teoria do conhecimento. São Paulo: Gaia, 2001. TRIGUEIRO, M. G. S. O Clone de Prometeu. Brasília: Ed UNB, 2002. WILSON, E. O. (Org.). Biodiversidade. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1997. ZANONI, M. (Org.). Biossegurança Transgênicos Terapia Genética Células Tronco: questões para a ciência e para a sociedade. Brasília: NEAD/IICA, 2004. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA055 |
OLERICULTURA |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução e conceito de olericultura: a produção no mundo, no Brasil e no estado – crescimento e desenvolvimento, importância econômica. Aspectos econômicos: olericultura como fonte de renda; Importância alimentar, origem e classificação botânica de hortaliças. Modos de reprodução e de propagação. Condições edafoclimáticas, variedades, tratos culturais, manejo e preparo do solo para o plantio das hortaliças. Colheita, classificação, embalagem e conservação de hortaliças. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Identificar a necessidade de diferentes práticas culturais adotadas para as olerículas bem como atuar na elaboração e implementação de projetos olerícolas agroecológicos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CERQUEIRA, J. M. C. Hortofloricultura. Lisboa: Popular Franciscol Franco, 1986. FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. 2. ed. Viçosa: Ed. da UFV, 2003. 412 p. FILGUEIRA, F. A. R. Solanáceas: Agrotecnologia moderna na produção de tomate, batata, pimentão, pimenta, berinjela e jiló. 2. ed. Viçosa-MG: Ed. da UFLA, 2003. 331 p. FONTES, Paulo Cezar Rezende. Olericultura: teoria e prática. Viçosa: Ed. UFV, 2005. 486 p. ISBN 8572690654. SILVA, A. C. F.; DELLA, B. E. Cultive uma horta e um pomar orgânico: sementes e mudas para preservar a biodiversidade. Florianópolis-SC: Epagri, 2009. 319 p. SOUZA, J. L de; RESENDE, P. Manual de horticultura orgânica. 2. ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2006. 843 p. TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 848 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
FILGUEIRA, F. A. R. ABC da olericultura: guia da pequena horta. São Paulo: Agronômica Ceres, 1987. 164 p. FILGUEIRA, F. A. R. Manual de olericultura: cultura e comercialização de hortaliças. 2. ed. ampl. e rev. São Paulo: Agronômica Ceres, 1981. FRANCISCO, N. J. Manual de horticultura ecológica: auto-suficiência em pequenos espaços. São Paulo: Nobel, 1995. 141 p. ISBN 8521308256. REVISTA CIÊNCIA RURAL. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php? script=sci_issues&pid=0103-8478&lng=pt&nrm=iso REVISTA HORTICULTURA. BRASILEIRA. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0102-0536&lng=pt&nrm=iso. REVISTA PESQUISA AGROPECUÁRIA BRASILEIRA. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issues&pid=0100-204X&lng=pt&nrm=iso VILLALOBOS, J. U. G. Agricultura e assentamentos. Maringá: UEM, 2000. 165 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA261 |
PÓS-COLHEITA DE GRÃOS |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Contexto atual da armazenagem, características físicas e químicas dos grãos, princípios básicos de psicrometria,amostragem, teor de água, higroscopicidade e umidade de equilíbrio, pré-limpeza e limpeza, secagem e secadores, estruturas de armazenagem, sistemas aeração, principais pragas dos grãos armazenados e métodos de controle, acidentes em unidades armazenadoras e parâmetros de qualidade de grãos. Tópicos atuais em armazenagem. |
|||
|
OBJETIVOS |
|||
|
Fornecer conhecimentos para o egresso atuar na área de armazenagem de grãos, visando minimizar a perdas quanti e qualitativas na pós-colheita dos produtos agrícolas, com ênfase na agricultura familiar. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
LOECK, A. E. Pragas de produtos armazenados. Pelotas: EGUFPel, 2002. 113 p. LORINI, I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL, V. M. Armazenagem de grãos. Campinas: IBG, 2002. 1000 p. MILMAN, M. J. Equipamentos para pré-processamento de grãos. Pelotas: EGUFPel, 2002. 206 p. PUZZI, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. 2. ed. Campinas: ICEA, 2000. 666 p. SCUSSEL, V. M. Atualidades em micotoxinas e armazenagem de grãos. Florianópolis: VMS, 2000. 382 p. SILVA, J. S. Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. Viçosa: Editora Aprenda Fácil, 2000. 502 p. WEBER, E. A. Excelência em Beneficiamento e Armazenagem de Grãos. Canoas– RS: Editora Salles, 2005. 586 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BROOKER, D. B.; BAKKER-ARKEMA, F. W.; HALL, C. W. Drying and storage of grains and oilseeds. New York: An AVI Book, 1992. 450 p. GUIMARÃES, D.; BAUDET, L. Simulação de secagem de grãos e sementes. Pelotas: EGUFPel, 2002. 214 p. MARTINS, R. R. Secagem intermitente com fluxo cruzado e altas temperaturas e sua influência na qualidade do trigo duro. (TriticumdurumL.). Porto Alegre: Ema- ter-RS, 1998. 52 p. (Série Textos Selecionados, 12). MARTINS, R. R.; FRANCO, J. B. da R.; OLIVEIRA, P. A. V. Tecnologia de secagem de grãos. Passo Fundo: EmbrapaTrigo/Emater-RS, 1999. 90 p. (Embrapa Trigo. Documentos, 8). PORTELLA, J. A.; EICHELBERGER, L. Secagem de grãos. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2001. 194 p. (Embrapa Trigo. Documentos, 8). |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCH008 |
INICIAÇÃO À PRÀTICA CIENTÍFICA |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
O contexto da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. Epistemologia da Ciência. Instrumentos, métodos científicos e normas técnicas. Projeto, execução e publicação da pesquisa. A esfera político-acadêmica: instituições de fomento à pesquisa. Ética na pesquisa científica, propriedade intelectual e autoria. Associações de pesquisa e eventos científicos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Proporcionar reflexões sobre as relações existentes entre universidade, sociedade e conhecimento científico e fornecer instrumentos para iniciar o acadêmico na prática da atividade científica. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ADORNO, T. Educação após Auschwitz. In: . Educação e emancipação. São Paulo/Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. ALVES, R. Filosofia da Ciência: introdução ao jogo e as suas regras. 4. ed. São Paulo: Loyola, 2002. CHAUI, M. Escritos sobre a Universidade. São Paulo: Ed. UNESP, 2001. HENRY, J. A Revolução Científica: origens da ciência moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. JAPIASSU, Hilton F. Epistemologia. O mito da neutralidade científica. Rio de Janeiro: Imago, 1975. (Série Logoteca). MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
APPOLINÁRIO. Metodologia da ciência: filosofia e prática da pesquisa. São Paulo: Pioneira Thomson, 2006. D’ACAMPORA, A. J. Investigação científica. Blumenau: Nova Letra, 2006. GALLIANO, A. G. O Método Científico: teoria e prática. São Paulo: HARBRA, 1986. GIACOIA JR., O. Hans Jonas. O princípio responsabilidade. In: OLIVEIRA, M. A. Correntes fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 193-206. GIL, A. C. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1999. GONSALVES, E. P. Iniciação à Pesquisa Científica. Campinas: Alínea, 2001. MORIN, E. Ciência com Consciência. Lisboa, Mem-Martins: Publicações Europa-América, 1994. OMMÈS, R. Filosofia da ciência contemporânea. São Paulo: Unesp, 1996. REY, L. Planejar e Redigir Trabalhos Científicos. 4. ed. São Paulo: Edgard Blücher, 2003. SANTOS, A. R. dos. Metodologia científica: a construção do conhecimento. 6. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2004. SILVER, Brian L. A escalada da ciência. 2. ed. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS248 |
GESTÃO DE UNIDADES DE PRODUÇÃO E VIDA FAMILIAR |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
A reprodução social da unidade de produção. Especificidades da unidade de produção e vida familiar. Medidas de resultado econômico. Teoria da Produção: relações fator- produto, relações fator-fator, relações produto-produto. Condicionantes econômicos dos critérios de decisão na agricultura familiar. Análise da capacidade de reprodução social. A composição dos resultados econômicos da unidade de produção. Racionalidade da agricultura camponesa (Chayanov e Marx) e suas implicações na gestão e na extensão rural. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender a situação econômica e social das unidades de produção e vida familiar de forma a permitir que o profissional entenda e respeite as especificidades da agricultura familiar. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CHAYANOV. A organização da unidade econômica camponesa. Buenos Aires: Nueva Visión, 1974. LIMA, A. J. et al. Administração da unidade de produção familiar: modalidades de trabalho com agricultores. Ijuí: UNIJUI, 1995. MARX. O Capital. São Paulo: Nova Cultural, 1988. v. 1. (Coleção os Economistas). |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
COSTA, F. A. O investimento na economia camponesa. Considerações Teóricas. Revista de Economia Política, v. 15, n. 1, 1995. EDUNIOESTE. Gestão das unidades artesanais na agricultura familiar: uma experiência no Oeste do Paraná. Cascavel, 2007. 163 p. ISBN 9788576441090. GARCIA, F. D. P. Análise diagnóstico de sistemas agrários: guia metodológico. Brasília, DF. Projeto de Cooperação Técnica. INCRA/FAO (UTF/BRA/051/BRA), 1999. Disponível em: <www.ufrgs.br/pgdr/textosabertos/guia_metodologico.zip>. HOFFMANN, R. Administração da Empresa Agrícola. São Paulo: Pioneira, 1976. STIGLITZ, J. E.; WALSH, C. E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 2003. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA108 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso I destina-se ao desenvolvimento do projeto de investigação científica elaborado previamente. Durante o semestre letivo e sob a orientação de um professor, o aluno deverá executar e apresentar o referido projeto concluído. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Capacitar o aluno no tocante aos aspectos teórico-metodológicos aprendidos durante o curso. Aplicar e consolidar as técnicas de pesquisa. Propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
|
OPTATIVO VI |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
A ser definida pelo colegiado do Curso |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
|
OPTATIVO VII |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
A ser definida pelo colegiado do Curso |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
9° FASE
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA058 |
PROCESSAMENTO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E VEGETAL |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Aspectos históricos e importância da tecnologia de alimentos. Princípios e métodos de conservação de alimentos na agroindústria. Conservação de alimentos de origem animal e vegetal. Tecnologia de produtos de origem vegetal: Tecnologia de bebidas alcoólicas, Tecnologia de frutas e hortaliças, Tecnologia de cereais e oleaginosas. Tecnologia de produtos de origem animal: Tecnologia do leite, ovos e mel. Tecnologia de carnes e derivados. Higiene e controle de qualidade de produção e de produtos agropecuários. Noções de BPF e legislação. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer os princípios e métodos de conservação dos alimentos. Apresentar novas tecnologias utilizadas no mercado in natura e industrial relacionados com a conservação e o processamento dos alimentos. Capacitar os alunos a discutirem as novas práticas industriais e seus reflexos no aspecto nutricional e da qualidade dos alimentos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BOBBIO, A. P.; BOBBIO, F. A. Química do processamento de alimentos. São Paulo: Ed. Varela, 2001. FELLOW, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia de alimentos. São Paulo: Atheneu, 1996. GAVA, A. J. Tecnologia de Alimentos – Princípios e Aplicações. 8. ed. São Paulo: Nobel, 2008. ORDOÑES, J. A. et al. Tecnologia dos alimentos: alimentos de origem animal. Porto Alegre: Artmed, 2005. v. 2. ORDOÑES, J. A. et al. Tecnologia dos alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005. v. 1. REGULY, J. C. Biotecnologia dos processos fermentativos: fundamentos, matérias- primas agrícolas, produtos e processos. Pelotas: Ed. UFPEL, 1996. v. 1. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ANDRADE, N. Higienização na indústria de alimentos. São Paulo: Varela, 2008. 412 p. GIORDANO, J. C.; GALHARDI, G. Controle integrado de pragas. Campinas: SBCTA, 2003. 149 p. (Manuais técnicos SBCTA). JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 711 p. SILVA, J. A. Tópicos da Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Varela, 2000. 227 p. TRONCO, V. M. Manual para inspeção de qualidade do leite. Santa Maria: Ed. UFSM, 1997. Legislação brasileira de processamento de produtos animais e vegetais. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA267 |
SISTEMAS AGROFLORESTAIS |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução e conceitos. Fitogeografia, Fitossociologia e sucessão vegetal. Noções de dendrologia. Definições e características dos sistemas agroflorestais. Análise dos processos ecofisiológicos envolvidos em sistemas agroflorestais. Interações entre as espécies; escolha de espécies; escolha de arranjos espaciais e temporais em sistemas agroflorestais; Tipos de sistemas agroflorestais: multiestrata, silvopastoris e agrosilvopastoris. Considerações sociais e culturais na implantação de sistemas agroflorestais. Avaliação técnica e econômica dos sistemas agroflorestais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender a dinâmica dos ecossistemas e a importância da introdução do elemento arbóreo nos sistemas de produção, dominando as técnicas de implantação e manejo de sistemas agroflorestais na realidade da agricultura familiar e camponesa. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALTIERI, M. Biotecnologia Agrícola: mitos, riscos ambientais e alternativas. Petrópolis: Vozes, 2004. CARVALHO, M. M.; ALVIM, M. J.; CARNEIRO, J. da C. (Ed.). Sistemas agroflorestais pecuários: opções de sustentabilidade para áreas tropicais e subtropicais. Juiz de Fora: EMBRAPA Gado de Leite, 2001. 413 p. ISBN 8585748311. D'AGOSTINI, L. R.; SOUZA, F. N. da S.; ALVES, J. M. Sistemas agroflorestais: menos em quantidade e mais em regularidade. Palmas: UNITINS, 2007. 83 p. ISBN 9788589102155. GLIESSSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000. GÖTSCH, E. Break-thropugh in agriculture. Rio de Janeiro: AS-PTA, 1995. 22 p. KAGEYAMA, P. Y.; SANTARELLI, E.; GANDARA, F. B.; GONÇALVES, J. C.; SIMIONATO, J. L.; ANTIQUEIRA, L. R.; GERES, W. L. Revegetação de áreas degradadas: modelos de consorciação com alta diversidade. In: II Simpósio Nacional sobre Recuperação de Áreas Degradadas. Anais. Piracicaba: IPEF, 1994. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BUDOWSKI, G. Distribuition of tropical american rain forest species in the light of successional process. Turrialba, v. 15, p. 40-42, 1965. CAPRA, F. A teia da vida – uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996. 256 p. EGLER, F. E. Vegetation science concepts. Inicial floristic composition, a factor in oldfield vegetation development. Vegetatio, v. 4, p. 412-7, 1954. EHLERS, E. Agricultura Sustentável. Origens e perspectivas de um novo paradigma. São Paulo: Livros da Terra, 1996. 178 p. GOMEZ-POMPA, A.; VÁSQUEZ-YANES, C. Estudios sobre la regeneración deselvas en regiones calido-humedas de Mexico. In: GÓMEZ-POMPA, A.; DELAMO, R. (Ed.). Investigaciones sobre la Regeneratión de Selvas Altas en VeraCruz, México. México: Compañia Editora Continental, 1985. GOMEZ-POMPA, A.; WIECHER, B. L. Regeneratión de los Ecossistemas Tropicale- sy Subtropicales. In: GOMÉZ-POMPA, A.; RODRÍGUEZ, S. del A.; VÁSQUEZYA- NES, C.; CERVERA, A. B. (Ed.). Invertigaciones sobre la Regeneracion de Selvas |
|||
|
Altas en Vera Cruz, México. México: Compañia Editora Continental, 1976. LARCHER, W. Physiological plant ecology. London: Springer, 1995. 506 p. LOVELOCK, J. As Eras de Gaia. São Paulo: Ed. Campus, 1991. 236 p. MCINTOSH, R. P. Forest Succession: concepts and application. In: WEST, D. C.; SHUGART, H. H.; BOTKIN, D. B. Succession and Ecological Theory. New York: Springer-Verlag, 1981. NAIR, P. K. R. An introduction to agroforestry. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1993. 499 p. OLDEMAN, R. A. A. Architeture and energy exchange of dicotyledonous trees in the forest. In: THMLINSON, P. B.; ZIMMERMANN, M. H. Tropical trees as livingsystems. London: Cambridge University Press, 1976. SAHTOURIS, E. Gaia: do Caos ao Cosmos. São Paulo: Ed. Interação, 1991. 308 p. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA059 |
SOBERANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Noções históricas e conjuntura nacional e mundial da produção e abastecimento alimentar. Construção conceitual das noções de soberania e segurança alimentar e direito humano à alimentação adequada. Estruturação do sistema agroalimentar: produção, processamento, abastecimento e as alternatividades em construção agricultura familiar, sustentabilidade, culturas e hábitos alimentares |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Identificar as políticas e programas que visam a promoção da Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável. Analisar as políticas e programas de alimentação e nutrição, propondo medidas que visem a equidade e o acesso universal aos alimentos e à saúde. Analisar a situação nutricional de diferentes grupos populacionais, relacionando-os com os contextos sociais , econômico e político em que estão inseridos. Relacionar responsabilidade social com a atuação profissional. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALTIERI, Miguel. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. BELIK, W.; MALUF, R. S. (Org.). Abastecimento e Segurança Alimentar: os limites da liberalização. Campinas-SP: IE/UNICAMP, 2000. v. 1. 234 p. CASTRO, Josué. Geografia da Fome. 9. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. CHONCHOL, J. Desafio Alimentar e fome no mundo. São Paulo: Marco Zero, 1989. CONSEA - CONFERENCIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 2. Olinda-PE, 2004. CONSEA - CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. Lei de Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília: CONSEA, 2006. CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (CONSEA). Princípios e Diretrizes de uma Política de Segurança Alimentar e Nutricional. Brasília: CONSEA, 2004. MALUF, R. S. Mercados Agroalimentares e a agricultura familiar no Brasil: agregação de valor, cadeias integradas e circuitos regionais. Ensaios FEE, v. 25, n. 1, p. 299-332, Porto Alegre, FEE/UFRGS, 2004. MALUF, R. S. Segurança alimentar e nutricional. Petrópolis-RJ: Editora Vozes, 2007. v. 1. 174 p. MEIRELLES, Laércio. Soberania Alimentar, Agroecologia e Mercados Locais. |
|||
|
Revista Agriculturas, v. 1, Rio de Janeiro, AS-PTA, 2004. |
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|
BRANDENBURG, Alfio. Agricultura Familiar, ONGs e Desenvolvimento Sustentável. Curitiba: Editora da UFPR, 1999. CASADO, G. G.; MOLINA, M. G. de; GUZMÁN, E. S. Introducción a la Agroecología como desarrollo rural sostenible. Madrid: Ediciones Mundi-Prensa, 2000. ETC GROUP. ¿De quién es la naturaleza? El poder corporativo y la frontera final em la mercantilización de la vida. ETC GROUP, 2008. Disponível em: MALUF, R. S.; CARNEIRO, Maria José T. (Org.). Para além da produção: multifuncionalidade e agricultura familiar. Rio de Janeiro: Mauad, 2003. v. 1. 230 p. MASSUH, Gabriela; GIARRACA, Norma. El trabajo por venir: autogestión y emancipación social. Buenos Aires: Antropofagia, 2008. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA095 |
EXTENSÃO RURAL |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Fundamentos da Extensão. Comunicação. Difusão de inovações. Metodologia de extensão. Desenvolvimento de comunidade. Sistemas de produção e a crítica aos pacotes tecnológicos. Comunicação e difusão de novas tecnologias. Trajetória histórica da Extensão Rural e suas bases teóricas. Situação atual da extensão rural no Brasil, abordando as instituições, os atores e as políticas direcionadas ao setor. Perfil e prática extensionistas. As perspectivas da Extensão Rural frente às mudanças ocorridas no rural brasileiro, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Métodos e técnicas sociais em Extensão Rural. A extensão e comunicação no meio rural. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Caracterizar e compreender os determinantes e a evolução histórica das organizações de Extensão Rural no Brasil, bem como identificar e analisar criticamente os modelos teórico-metodológicos que constituem a referência para ação extensionista numa perspectiva dialógica. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALTAFIN, Iara. Diagnóstico participativo no desenvolvimento local sustentável. Brasília: Mimeo, 1998. BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). Secretaria de Agricultura Familiar (SAF), grupo de trabalho ater. Política nacional de assistência técnica e extensão rural. Brasília, 2004. BURSZTYN, Marcel (Org.). A difícil sustentabilidade - política energética e conflitos ambientais. Rio de Janeiro: Garamond, 2001. CAPORAL, Francisco Roberto; RAMOS, Ladjane de Fátima. Da extensão rural convencional à extensão rural para o desenvolvimento sustentável: enfrentar desafios para romper a inércia. Brasília, 2006. FONSECA, M. T. L. da. A extensão rural no Brasil. Um projeto educativo para o capital. São Paulo: Loyola, 1985. FREIRE, Paulo. Extensão ou comunicação? 11. ed. São Paulo: paz e terra, 2001. MARTINS, José de Souza. O futuro da sociologia rural e sua contribuição para a qualidade de vida rural. Revista estudos avançados, São Paulo, v. 15, n. 43, p. 31-36, set/dez 2001. MOLINA, Maria Ignez Guerra. Fundamentos para o trabalho com grupos em extensão rural. Cadernos de difusão de tecnologia, Brasília/DF, Embrapa, v. 5, n. 1/3, jan/dez, 1988. PINTO, João Bosco Pinto. Desenvolvimento do processo de aprendizagem do camponês adulto. Mimeo, 1999. PNUD. O papel do técnico como facilitador nos processos de capacitação. Recife- |
|||
|
PE, 1999. (Série cadernos temáticos n. 4). SILVA, José Graziano da. Velhos e novos mitos do rural brasileiro. Revista estudos avançados, São Paulo, v. 15, n. 43, p. 37-50, set/dez, 2001. SOUZA, José Ribamar Furtado de. Pesquisa, extensão e o agricultor: participação ou intervenção? Revista econômica do nordeste, Fortaleza, v. 26, n. 2, p. 205-238, abr/jun, 1995. |
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|
BROSE, M. (Org.). Metodologia Participativa: Uma introdução a 29 instrumentos. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2001. BUARQUE, S. C. Construindo o desenvolvimento local sustentável: Metodologias de planejamento. Rio de Janeiro: Garamond, 2002. ROGERS, E. M. Elementos del cambio social en America Latina: Difusion de innovaciones. Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1966. THORNTON, R.; CIMADEVILLA, G. (Ed.). La extension rural en debate: concepciones, retrospectivas, câmbios y estratégias para el Mercosur. Buenos Aires: INTA, 2003. VALENTE, Ana Lúcia. Juventude Universitária e Processo de Formação: Uma Análise de Reações Discentes à Disciplina Extensão Rural. In: FREITAS, Marcos Cezar de (Org.). Desigualdade Social e Diversidade Cultural na Infância e na Juventude. São Paulo: Cortez, 2006. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA284 |
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceitos de sementes. Formação e estruturas de sementes. Fisiologia de sementes: maturação, germinação, dormência, qualidade fisiológica e deterioração. Estabelecimento, condução e colheita de campos de produção de sementes. Pós- colheita de sementes. Técnicas de amostragem. Análises de rotina. Controle de qualidade de sementes. Legislação brasileira. Tópicos atuais em tecnologia de sementes. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Identificar a organização morfológica da semente e processos fisiológicos envolvidos em seu desenvolvimento. Reconhecer, analisar e executar os processos referentes à produção, beneficiamento, conservação e análise de sementes. Estudar a legislação sobre sementes. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BRASIL. Decreto no. 5.153, de 23 de julho de 2004. Aprova o Regulamento da Lei nº 10.711, de 5 de agosto de 2003, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas - SNSM, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, n. 142, p. 6, 26 jul. 2004. BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. Regras para análise de sementes. Brasília, 2009. 398 p. CARVALHO, N. M. A secagem de sementes. Jaboticabal-SP: FUNEP, UNESP, 1994. 165 p. CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: Ciência, tecnologia e produção. 4. ed. Jaboticabal: FUNEP, 2000. 588 p. DAMIÃO FILHO, C. F. Morfologia vegetal. Jaboticabal: FUNEP/UNESP, 1993. 243 p. MACHADO, J. C. Tratamento de sementes no controle de doenças. Lavras: LAPS/UFLA/FAEPES, 2000. 138 p. MARCOS FILHO, J. Fisiologia de Sementes de Plantas Cultivadas. Piracicaba: FEALQ, 2005. 495 p. VIEIRA, R. D.; CARVALHO, N. M. Testes de vigor em sementes. Jaboticabal: FUNEP, 1994. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
FERREIRA, A. G.; BORGHETTI, F. Germinação: do básico ao aplicado. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 323 p. CASTELLANE, P. D.; NICOLOSI, W. M.; HASEGAWA, M. Produção de sementes de hortaliças. Jaboticabal-SP: FCAV/FUNEP, UNESP, 1990. 261 p. NASCIMENTO, W. M. (Org.). Tecnologia de Sementes de Hortaliças. 1. ed. Brasília-DF: EMBRAPA Hortaliças, 2009. 432 p. PUZZI, D. Abastecimento e armazenagem de grãos. 2. ed. Campinas: ICEA, 2000. 666 p. ZAMBOLIM, L. Sementes: qualidade fitossanitária. Viçosa-MG: UFV, DFP, 2005. 502 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS245 |
ENFOQUE SISTÊMICO NA AGRICULTURA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Enfoque sistêmico: princípios teóricos e metodológicos. Sistemas agrários. O sistema social produtivo e o agroecossistema. Sistemas de produção. Sistemas de cultura. Sistemas de criação. Itinerários técnicos. Procedimentos para a análise de sistemas na agricultura: fluxos monetários, de matéria e de energia; identificação das operações críticas. Noções de modelagem de sistemas de produção. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Tornar-se capacitado para atuar profissionalmente a partir de uma visão interdisciplinar, dinâmica e integradora da agricultura, baseada em uma compreensão da atividade agropecuária em toda a sua complexidade. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
GARCIA Fº., D. Análise Diagnóstico de Sistemas Agrários: guia metodológico. Projeto de Cooperação Técnica INCRA/FAO (UTF/BRA/051/BRA). Brasília, DF, 1999. Disponível em: <http://www.incra.gov.br/fao/>. MAZOYER, Marcel; ROUDART, Laurence. Histórias das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BERTALANFFY, L. Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Ed. Vozes, 2008. CAPRA, F. A Teia da Vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. São Paulo: Cultrix, 1996. DUFUMIER, M. Projetos de desenvolvimento agrícola. Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2007. MOTTA, D. M. da; SCHMITZ, H.; VASCONCELOS, H. E. (Org.). Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005. PRIGOGINE, I.; STENGERS, I.; A nova aliança: metamorfose da ciência. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1997. SILVA NETO, B.; BASSO, D. Sistemas Agrários do Rio Grande do Sul. Análise e Recomendações de Políticas. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2005. SILVA NETO, B.; OLIVEIRA, A. de. Modelagem e Planejamento de Sistemas de Produção Agropecuária. Ijuí: Ed. UNIUI, 2008. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA228 |
BOVINOCULTURA DE LEITE |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Importância e perspectivas da bovinocultura de leite. Raças e melhoramento genético de bovinocultura de leite. Manejo reprodutivo, alimentar e de instalações para gado de leite. Etologia, práticas de manejo e alternativas alimentares para produção ecologicamente sustentável. Planejamento da criação. Manejo sanitário e profilaxia para bovinos de leite. Alternativas ecológicas para prevenção e controle de doenças e parasitas em bovinocultura de leite. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Avaliar, gerenciar e formular sistemas de criação de bovinos de leite e, com isso, fazer um planejamento de criação e produção de forma sustentável. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ANDRIGUETTO, J. M.; PERLY, L. et al. Nutrição animal – As bases e os fundamentos da nutrição animal. São Paulo: Nobel, 2002. v. 1. ANDRIGUETTO, J. M.; PERLY, L. et al. Nutrição animal. São Paulo: Nobel, 2002. v. 2. BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de ruminantes. Jaboticabal: FUNEP, 2011. BURG, I. C.; MAYER, P. H. Alternativas ecológicas para a prevenção e controle de pragas e doenças. Francisco Beltrão, PR: Grafit, 2009. DOMINGUES, P. F.; LANGONI, H.; FERREIRA-JÚNIOR, R. S. Manejo Sanitário Animal. São Paulo: EPUB, 2001. 224 p. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA. Manual de bovinocultura de leite. Juiz de Fora: Embrapa - CNPGL, 2010. GONSALVES, L. C. et al. Alimentação de gado de leite. Ed. Pedro Dias Sales Ferreira. Belo Horizonte: FEPMVZ, 2009. 412 p. KHATOUNIAN, C. A. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu: Ed. agroecológica, 2001. LUCCI, C. S. Nutrição e Manejo de Bovinos Leiteiros. São Paulo: Manole, 1997. MACHADO, L. C. P. Pastoreio Racional Voisin: tecnologia agroecológica para o terceiro milênio. Porto Alegre: Cinco Continentes, 2004. MADALENA, F. K. et al. Produção de Leite e Sociedade – Uma análise crítica da produção do leite no Brasil. Belo Horizonte: FEPMVZ, 2001. 538 p. PEIXOTO, A. M.; MOURA, J. C.; FARIA, V. P. Bovinocultura Leiteira - Fundamentos da Exploração Racional. FEALQ, 2000. 581 p. PEREIRA, E. S.; PIMENTEL, P. G.; QUEIROZ, A. C.; MIZUBUTI, I. Y. Novilhas leiteiras. Viçosa: UFV, 2010. 632 p. SANTOS, G. T. et al. Bovinos de leite: Inovação tecnológica e sustentabilidade. Maringá – PR: EDUEM, 2008. 310 p. TEIXEIRA, J. C. et al. Avanços em produção e manejo de bovinos leiteiros. Lavras: UFLA, 2002. 266 p. VOISIN, A. A vaca e seu pasto. Tradução de: LUNARDON, Elson. 1. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1973. XAVIER, D. F. Sistemas silvipastoris para recuperação e desenvolvimentos de |
|||
|
pastagens. In: AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília, DF: Embrapa informação tecnológica, 2005. p. 449-517. |
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|
DEGASPERI, S. A. R.; PIEKARSKI, P. R. B. Bovinocultura leiteira: planejamento, manejo e instalações. Curitiba- PR: Livraria do Chain, 1988. NEATE, P.; INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES PECUARIAS. Ganado, personas y medio ambiente. Nairobi: ILRI, 1998. 62 p. PEIXOTO, A. et al. Exterior e julgamento de bovinos. Piracicaba: FEALQ/SBZ, 1990. SENGER, P. L. Pathways to Pregnancy and Parturition. Current Conceptions Inc., 1999. p. 368. VEIGA, Jonas Bastos da. Sistemas silvipastoris na Amazônia oriental. Belém: EMBRAPA Amazônia Oriental, 2000. 62 p. WALTRICK, Beatriz de Araújo. Contribution of holstein cows to sustainability of dairy systems in Brazil. Wageningen: Ponsen & Looijen, 2003. 184 p. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA109 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
A disciplina Trabalho de Conclusão de Curso destina-se ao desenvolvimento do projeto de investigação científica elaborado previamente. Durante o semestre letivo e sob a orientação de um professor, o aluno deverá executar e apresentar o referido projeto concluído. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
|
OPTATIVO VIII |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
A ser definida pelo colegiado do Curso |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
|
OPTATIVO IX |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
A ser definida pelo colegiado do Curso |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
10° FASE
|
Código |
Componente Curricular |
Créditos |
Horas |
|
GCA285 |
Estágio Curricular Supervisionado |
20 |
300 |
|
EMENTA |
|||
|
Nessa disciplina será proporcionado ao aluno a vivência de situações pré-profissionais nas áreas de atuação do agrônomo e preparo para o exercício profissional. Oportunizar a retroalimentação dos docentes e discentes, bem como a incorporação de situações-problema e experiências profissionais dos alunos no processo de ensino- aprendizagem, visando à permanente atualização da formação em Agronomia, além da trabalhos práticos de observação, pesquisa e intervenção técnico-científica sob a supervisão de um profissional responsável atuante na profissão. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Oportunizar a retroalimentação dos docentes e discentes, bem como a incorporação de situações-problema e experiências pré-profissionais dos alunos no processo de ensino- aprendizagem, visando à permanente atualização da formação em Agronomia |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
A bibliografia depende da área de realização do estágio |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
A bibliografia depende da área de realização do estágio. |
|||
8.13 Componentes curriculares optativos
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA133 |
CORRENTES DA AGRICULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução geral. Agricultura convencional: princípios e fundamentos. Agricultura biodinâmica e pensamento antroposófico. Agricultura orgânica: princípios e legado da teoria humanista. Agricultura natural: teoria e prática da filosofia verde. Agricultura biológica. Agricultura alternativa: da crise energética a novas formas de fazer agricultura. Agricultura agroecológica. Permacultura e os agroecossistemas sustentáveis. Agricultura orgânica moderna. Agricultura sustentável. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer os fundamentos e os princípios das correntes da agricultura, contextualizando-as historicamente e localizando geograficamente os espaços onde se iniciaram e se constituíram com mais força. Promover o domínio teórico dos fundamentos das principais correntes da agricultura no mundo. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALTIERI, M. Agroecologia - dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. Porto Alegre: Ed UFRGS, 2009. AMBROSANO, E. Agricultura ecológica. São Paulo: Editora agropecuária, 1999. CHABOUSSOU, F. Plantas doentes pelo uso de agrotóxicos - teoria da trofobiose. Trad. Maria José Guazzelli. Porto Alegre: L&PM, 1987. EHLERS, E. M. Agricultura Sustentável: origens e perpectivas de um novo paradigma. 2. ed. Guaíba: Agropecuária, 1999. 157 p. FUKUOKA, M. Agricultura Natural - teoria e prática da filosofia verde. Trad. Hiroshi Séo e Ivna Wanderley Maia. São Paulo: Nobel, 1995. HOWARD, A. Um testamento agrícola. Trad. Eli Lino de Jesus. São Paulo: Expressão Popular, 2007. 360 p. KHATOUNIAN, C. A. A Reconstrução Ecológica da Agricultura. Botucatu: Ed. Agroecológica, 2001. STEINER, R. Fundamentos da agricultura biodinâmica - vida nova para a terra. Trad. Gerard Bannward. São Paulo: Antroposófica, 1993. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CANUTO, J. C.; COSTABEBER, J. A. (Org.). Agroecologia: conquistando a soberania alimentar. Porto Alegre: EMATER/ASCAR, 2004. CARVALHO, M. M.; XAVIER, D. F. Sistemas silvipastoris para recuperação e desenvolvimentos de pastagens. In: AQUINO, A. M.; ASSIS, R. L. Agroecologia princípios e técnicas para uma agricultura orgânica sustentável. Brasília, DF: Embrapa informação tecnológica, 2005. GLIESSSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2000. KOEPF, H. H.; SHAUMANN, W.; PETERSSON, B. D. Agricultura Biodinâmica. Trad. Andréas R. Loewens e Ursula Szajewski. São Paulo: Nobel, 1983. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEN212 |
PROJETO E CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Objetivos, características, política, economia, localização, projeto e operação de sistemas de transportes. Projeto e construção de rodovias: reconhecimento, anteprojeto, estudos geotécnicos e geo-hidrológicos, projeto definitivo, plantas da faixa explorada, conformação e seleção da diretriz, concordância, superelevação, superlargura, visibilidade, concordância em perfil, seções transversais, áreas de terraplanos, volumes, transporte e distribuição de terra, obras de arte, orçamento e relatórios de engenharia. Comparação de traçados e análise das características do tráfego. Locação. Uso de programas de computador e de computação gráfica no projeto de estradas. Execução de projeto. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Interpretar e realizar os estudos, projetos e levantamentos para a definição de estradas, com foco nas estradas vicinais associadas aos sistemas de produção agroecológica. Obter os conhecimentos necessários para conduzir, controlar e supervisionar racionalmente os trabalhos de construção de infraestrutura das estradas, através de ensino das diversas etapas construtivas, seus métodos de execução e respectivo custo. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ABRAM, Isaac; ROCHA, Aroldo. Manual Prático de Terraplenagem. 1. ed. Salvador-BA, 2000. COSTA, Pedro Segundo; FIGUEIREDO, Wellington C. Estudos e Projetos de Estradas. Salvador-BA: Editora da UFBA, 2000. PONTES Fº., Glauco. Estradas de Rodagem: Projeto Geométrico. São Carlos-SP: BIDIM, 1998. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ABRAM, Isaac. Planejamento de obras rodoviárias. 1. ed. Salvador-BA, 2001. FONTES, Luiz Carlos A. de A. Engenharia de Estradas: Projeto Geométrico. Salvador: Editora da UFBA, 1989. RICARDO, Hélio de Souza; CATALANI, Guilherme. Manual prático de escavação: terraplanagem e escavação de rocha. 3. ed. São Paulo-SP: Pini, 2007. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA289 |
APICULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Biologia e ecologia das abelhas. Implementos e indumentárias agrícolas. Localização e instalação do apiário. Manipulação das colmeias. Criação e introdução de rainhas. Alimentação das abelhas. Produção e extração do mel. Produtos e subprodutos das abelhas. Manejo de abelhas silvestres. Abelhas e a legislação ambiental. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conscientizar o aluno da validade da apicultura como mais uma alternativa para complementares atividades agropecuárias. Identificar os benefícios diretos ou indiretos da atividade apícola. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
COSTA, Paulo Sérgio Cavalcanti; OLIVEIRA, Marcos Orlando de. Apicultura migratória: produção intensiva de mel. Viçosa-MG: CPT, 2006. 148 p. ISBN 8576010259. PEGORARO, Adhemar. Técnicas para boas práticas apícolas. Curitiba: Layer Graf, 2007. 127 p. ISBN 9788590752608. VENTURIERI, Giorgini Augusto. Caracterização, colheita, conservação e embalagem de méis de abelhas indígenas sem ferrão. Belém: EMBRAPA Amazônia Oriental, 2007. 51 p. ISBN 9788587690715. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BOAVENTURA, Marcelino C.; DOS SANTOS, Guaracy Telles. Produção de abelha Rainha por Enxertia. 1. ed. Editora LK, 2006. 140 p. ISBN 858789014X. CAMARGO, R. C. R.; PEREIRA, J. O. Manual prático de criação de abelhas. Viçosa: Ed. Aprenda Fácil, 2005. 424 p. COSTA, Paulo Sérgio Cavalcanti; OLIVEIRA, Juliana Silva. Manual prático de criação de abelhas. Viçosa-MG: Aprenda Fácil, 2005. 424 p. ISBN 857630015X. EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA. Curso profissionalizante de apicultura. Florianópolis: Epagri, 2005. 137 p. SILVA, Paulo Airton Macedo; INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO (FORTALEZA-CE). Apicultura. 2. ed. rev. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, CENTEC, 2004. 56 p. ISBN 8575292811. WIESE, Helmut. Apicultura – Novos tempos. 2. ed. Florianópolis: Agro Livros, 2005. 378 p. ISBN 8598934011. WINSTON, M. L. A Biologia da Abelha (The Biology of Bee). 1. ed. ND-FUNPEC, 2003. 276 p. ISBN 8585275111. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA135 |
PERMACULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceitos de agroecologia. Conceito, origem, histórico e ética da Permacultura. Fundamentos e termos utilizados. Princípios ecológicos. Bases para elaboração de projetos sustentáveis. Dinâmica dos sistemas naturais. Metodologia para planejamento energético de ambientes humanos. Padrões naturais, florestas, animais, solos. Design permacultural. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Tornar-se apto a desenvolver projetos permaculturais em vista da sustentabilidade da agricultura. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FRANCISCO NETO, J. Manual de Horticultura Ecológica. Auto-suficiência em Pequenos Espaços. Ed. Nobel, 1995. FUKUOKA, M. Agricultura Natural: Teoria e Prática da Filosofia Verde. São Paulo: Ed. Nobel, 1995. MOLLISON, B. Permacultura: Designers Manual. Austrália: Ed. Tagari, 1999. MOLLISON, B.; SLAY, R. M. Introdução a Permacultura. Brasília, DF: MA/SDR/PNF, 1998. PRIMAVESI, A. Agroecologia, Ecosfera, Tecnologia e Agricultura. São Paulo: Ed. Nobel, 1997. VIVAM, J. Agricultura e Florestas: Princípios de Uma Interação Vital. Rio de Janeiro: Editora Agropecuária, 1998. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
GLIESSMAN, S. Agroecologia: Processos Ecológicos em Agricultura Sustentável. UFRGS, 2000. LEGAN, Lucie. A escola sustentável – Eco-Alfabetizando pelo ambiente. 2. ed. atual. e rev. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo; Pirenópolis-GO: Ecocentro IPEC, 2007. MINKE, Gernot. Techos Verdes – Planificación, ejecucion, concejos prácticos. Montevideo: Editorial Fin de Siglo, 2004. REIJNTJES, C.; HAVERKORT, B.; WALTER-BAYER, A. Agricultura para o Futuro. Uma Introdução a Agricultura Sustentável e de baixo uso de insumo. AS- PTARJ, 1999. VAN LENGEN, Johan. Manual do Arquiteto Descalço. Rio de Janeiro: Casa do Sonho, 2008. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA314 |
FISIOLOGIA PÓS-COLHEITA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Estudo dos processos fisiológicos de maturação e senescência de produtos vegetais. Fatores ambientais e fisiológicos que afetam a qualidade pós-colheita. Distúrbios fisiológicos e fatores bióticos que afetam a qualidade dos produtos vegetais na pós- colheita e no armazenamento. Princípios físicos, processos e métodos empregados no armazenamento de produtos vegetais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Estudar as principais modificações que ocorrem nas características físicas e composição química de frutos e hortaliças. Principais problemas relacionados à colheita, manipulação e transporte. Aspectos relacionados às perdas, amadurecimento, embalagem e conservação dos produtos destinados a comercialização. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-colheita de frutos e hortaliças. Lavras: Fundação de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão, 1990. 543 p. CORTEZ, L. A. B.; HONÓRIO, S. L.; MORETTI, C. L. Resfriamento de frutas e hortaliças. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2002. 425 p. GOODWIN, T. W.; MERCER, E. I. Introduction to plant biochemistry. 2. ed. New York: Oxford, 1983. 677 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
KADER, A. A. et al. Modified atmospheres: an indexed reference list with emphasis on horticultural commodities. California: Univ. Calif., 1997. 67 p. LUENGO, R. A.; CALBO, A. G. Armazenamento de hortaliças. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2001. 242 p. SARANTÓPOULOS, C. I. G. L. et al. Embalagens plásticas flexíveis: principais polímeros e avaliação de propriedades. Campinas: CETEA/ITAL, 2002. 267 p. STOECKER, W. F.; JABARDO, J. M. S. Refrigeração industrial. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher LTDA, 2002. THOMPSON, A. K. Controlled Atmosphere Storage of fruits and Vegetables. Wallingford: CAB International, 1998. 278 p. THOMPSON, J. F. et al. Commercial cooling of fruits, vegetables, and flowers. California: University of California, Division of agriculture and natural science, 1998. 61 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA315 |
FLORICULTURA E PAISAGISMO |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução ao estudo do paisagismo. Espécies vegetais de valor ornamental, cultura das principais flores de corte, viveiros e casa de vegetação; árvores, arbustos, trepadeiras, palmeiras e forrações; arborização; elaboração de projetos paisagísticos, tópicos atuais em floricultura e paisagismo. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer, utilizar, produzir e difundir as principais culturas anuais e perenes de flores, árvores, arbustos, trepadeiras, palmeiras e forrações. Utilizar técnicas de arborização urbana e rural. Reconhecer e operacionalizar viveiros e casas de vegetação, além de elaborar projetos paisagísticos. Organizar a ocupação de espaços abertos com jardinamento. Identificar as principais técnicas de produção de plantas ornamentais para jardins, vasos e corte. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
KAMPF, Atelene Normann. Manutenção de Plantas Ornamentais para Interiores. 2. ed. Rígel, 2001. 107 p. LORENZI, H. Árvores Brasileiras. 4. ed. Instituto Plantarum, 2002. v. 1. 352 p. LORENZI, H. Árvores Exóticas no Brasil: Madeireiras, Ornamentais e Aromáticas. Instituto Plantarum, 2003. 384 p. LORENZI, H. As Plantas Tropicais de R. Burle Marx. Instituto Plantarum, 2001. 488 p. LORENZI, H. Plantas Ornamentais No Brasil. Arbustivas, Herbáceas e Trepadeiras. 4. ed. Instituto Plantarum, 2001. 1120 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ARAUJO, R. Manual natureza de paisagismo: regras básicas para implantar um belo jardim. São Paulo: Editora Europa, 2009. 154 p. PAIVA, P. de O. D. Paisagismo. Conceitos e Aplicações. Lavras: Editora UFLA, 2008. 608 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA134 |
PLANTAS MEDICINAIS |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Histórico do uso das plantas medicinais; importância deste uso na atualidade; conhe- cimento científico e identificação correta das plantas medicinais; metabólitos secundá- rios de interesse; influência de fatores abióticos e bióticos na produção do princípio ativo; cultivo de plantas medicinais (plantio, tratos culturais, colheita, outros); seca- gem e armazenagem; utilização de plantas medicinais (dose, toxicidade, modo de pre- paro); tópicos atuais em plantas medicinais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Preservar e resgatar os conhecimentos populares sobre o uso de plantas medicinais, associando estes usos às indicações obtidas em resultados científicos. Conhecer os fa- tores bióticos e abióticos que influenciam na qualidade e quantidade dos princípios ativos. Identificar corretamente as plantas medicinais, conhecendo os seus compostos ativos e as suas aplicações. Estudar as técnicas de cultivo, colheita e armazenagem, visando à preservação dos compostos ativos das plantas. Projetar uma horta com plan- tas medicinais. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CARVALHO, A. F. Ervas e Temperos - Cultivo, Processamento e Receitas. Viçosa: Editora Aprenda Fácil, 2002. CORRÊA JÚNIOR, C.; MING, L. C.; SCHEFFER, M. C. Cultivo de plantas medi- cinais, condimentares e aromáticas. Curitiba: Emater - PR, 1991. 151 p. DUNIAU, M. C. M. Plantas medicinais: da magia à ciência. Editora: Brasport, 2003, 150 p. MATOS, J. K. A. Plantas medicinais: aspectos agronômicos. Brasília: Gutemberg, 1996. v. 1. 51 p. SILVA, A. G. et al. Plantas medicinais: do cultivo, manipulação e uso à recomenda- ção popular. Brasília: Embrapa, 2009. 264 p. SILVA, F. da; CASALI, V. W. D. Plantas Medicinais e aromáticas: Pós-Colheita e Óleos Essenciais. Viçosa-MG: UFV, DFT, 2000. 135 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CARIBÉ, J.; CAMPOS, J. M. Plantas que ajudam o homem. São Paulo: Editora Pensamentos Ltda., 1995. FURLAN, M. R. Ervas e temperos: cultivo e comercialização. Cuiabá: EBRAE/MT, 1998. 128 p. SIMÕES, C. M. O.; SCHENKEL, E. P.; GOSMANN, G.; MELLO, J. C. P.; MENTZ, L. A.; PETROVICK, P. R. Farmacognosia: da planta ao medicamento. 5. ed. Porto Alegre/Florianópolis: Editora UFRGS/Editora UFSC, 2003. p. 467-495. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEN190 |
RECURSOS NATURAIS E ENERGIAS RENOVÁVEIS |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Interações entre o homem e seu ambiente natural ou construído, principalmente o rural. Recursos naturais como energia. Fontes alternativas e renováveis de energia. Diagnósticos energéticos. Gestão energética. Energias renováveis hídricas, solares, da biomassa e eólicas. As políticas energéticas concernentes às energias renováveis no mundo e no Brasil. Assuntos atuais em recursos naturais e energias renováveis. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Discutir os diferentes aspectos que envolvem questões ambientais. Desenvolver uma atitude responsável e ética na atuação profissional em relação ao meio ambiente através do desenvolvimento da consciência ecológica. Formar uma visão crítica sobre os problemas ambientais. Analisar as tecnologias energéticas que permitem a minimização de impactos ambientais. Estudar o uso de fontes renováveis de energia, o gerenciamento do uso da energia, e as tecnologias mais eficientes. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BRAGA, B.; HESPANHOL, B.; CONEJO, J. G. L.; BARROS, M. T. L.; SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S. Introdução à Engenharia Ambiental. São Paulo: Prentice Hall, 2002. 305 p. BRASIL. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. Biomassa e Energias Renováveis na Agricultura, Pescas e Florestas. Brasília, DF, 2005. 92 p. COLLARES, M. Energias renováveis. Lisboa: SPS, 1998. ROCHA, J. C. Introdução a Química Ambiental. Porto Alegre: Editora Bookman, 2004. TRIGUEIRO, A. Meio Ambiente no Século 21. Rio de Janeiro: Editora GMT, 2003. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
COMETTA, Emilio. Energia solar: utilização e empregos práticos. São Paulo: Hemus, 2004. MANO, E. B. et al. Meio ambiente, Poluição e Reciclagem. São Paulo: Edgard Blücher, 2005. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA230 |
CONTROLE ECOLÓGICO DE PRAGAS E DOENÇAS |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Histórico, conceito e definições. Agentes de controle. Produção massal e aplicação de agentes de controle ecológico. Integração dos diversos métodos de controle. Métodos físicos e culturais (modo de ação e integração) para o controle de patógenos na agroecologia. Princípios gerais de controle. Preparo e uso de caldas e extratos. Controles alternativos. Pós de rocha, biocompostos, biofertilizantes. Assuntos atuais em manejo ecológico. Métodos de controle ecológico de pragas e doenças. Homeopatia vegetal. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender as vantagens – tanto econômicas e ambientais quanto aquelas ligadas à segurança alimentar – de técnicas de controle ecológico de pragas e doenças, tornando-se agente difusor desta ciência. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALTIERI, M. A.; SILVA, E. N.; NICHOLLS, C. I. O papel da biodiversidade no Manejo de Pragas. Ribeirão Preto: Editora Holos, 2003. 65 p. BURG, I. C.; MAYER, P. H. Alternativas ecológicas para prevenção e controle de pragas e doenças. Francisco Beltrão: GRAFIT, 2009. CAMPANHOLA, C.; BETTIOL, W.; EMBRAPA. Métodos alternativos de controle fitossanitário. Jaguariúna, SP: EMBRAPA Meio Ambiente, 2003. 279 p. MELO, I. S.; AZEVEDO, J. L. Controle Biológico. Jaguariúna: EMBRAPA Meio Ambiente, 2000. v. 1, 2 e 3. STADNIK, M. J.; TALAMINI, V. (Ed.). Manejo ecológico de doenças de plantas, Florianópolis: CCA-UFSC, 2004. 293 p. ZAMBOLIM, L. Manejo Integrado de pragas e doença. Viçosa: UFV, 1999. 146 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CARNEIRO, Solange Monteiro de Toledo Piza Gomes (Ed.). Homeopatia: princípios e aplicações na agroecologia. Londrina: UFRA, 2011. 234 p. CORREÊA-FERREIRA, B. S.; BENTO, J. M. Controle Biológico no Brasil. São Paulo: Editora Manole, 2002. 635 p. GALLO, D. et al. Entomologia Agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. 919 p. GARCIA, F. R. M. Zoologia agrícola: manejo ecológico de pragas. 3. ed. ampl. Porto Alegre: Rigel, 2008. 256 p. VENZON, M.; PAULA JÚNIOR, T. J.; PALLINI, A. (Ed.). Controle alternativo de pragas e doenças na agricultura orgânica. Viçosa: EPAMIG, 2010. Cap. 3, p. 33- 54. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEN211 |
MODELAGEM EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
A modelagem na abordagem sistêmica da agricultura. Tipos de modelos. Ferramentas matemáticas para a elaboração de modelos. Modelos de programação matemática. A modelagem de unidades de produção e de seus componentes. Modelos deterministas. Modelagem da incerteza. Modelos de apoio à decisão de agricultores baseados na programação matemática. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Utilizar ferramentas formais para a análise e o planejamento de atividades agropecuárias, a partir de uma abordagem sistêmica da agricultura. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ANDRADE, L. E. de. Introdução à Pesquisa Operacional. Rio de Janeiro: LTC, 1990. PUCCINI, A. de; PIZZOLATO, N. D. Programação Linear. Rio de Janeiro: LTC, 1987. SILVA NETO, B.; OLIVEIRA, A. de. Modelagem e Planejamento de Sistemas de Produção Agropecuária. Ijuí: Ed. UNIJUI, 2008. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BERTALANFFY, L. Teoria Geral dos Sistemas. Fundamentos, desenvolvimento e aplicações. Petrópolis: Ed. Vozes, 2008. DUFUMIER, M. Projetos de desenvolvimento agrícola. Manual para especialistas. Salvador: EDUFBA, 2007. MOTTA, D. M. da; SCHMITZ, H.; VASCONCELOS, H. E. (Org.). Agricultura familiar e abordagem sistêmica. Aracaju: Sociedade Brasileira de Sistemas de Produção, 2005. PRIGOGINE, I.; STENGERS, I. A nova aliança: metamorfose da ciência. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1997. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA297 |
AVALIAÇÕES E PERÍCIAS RURAIS |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Perícias no âmbito da Agronomia. Ações judiciais no âmbito da Agronomia. Instrumentos do perito. Procedimento pericial. Avaliação de bens rurais. Elaboração de laudo pericial. Metodologia de perícia ambiental. Impactos ambientais por atividades agrícolas e florestais. Tópicos especiais em avaliações e perícias rurais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Tornar-se capacitado para atuar na área de Avaliações e Perícias de Imóveis Rurais, emitindo laudos de avaliação e vistorias e tratando de questões como registro de imóveis, avaliações para fins de garantias e partilhas, divisões de áreas, avaliações de benfeitorias, máquinas, equipamentos e culturas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALMEIDA, J. R. Perícia ambiental, judicial e securitária: impacto, dano e passivo ambiental. 1. ed. 2. reimp. Rio de Janeiro: Thex, 2008. CUNHA, S. B.; GUERRA, A. J. T. Avaliação e perícia ambiental. 9. ed. Rio de Janeiro: Bertand Brasil, 2009. DAUDT, C. D. L. Metodologia dos diferenciais agronômicos na vistoria e avaliação do imóvel rural. Porto Alegre: CREA/RS, 1996. MAIA NETO, F. Roteiro prático de avaliações e perícias judiciais. Belo Horizonte: Del Rei, 1997. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 8799: avaliação de Imóveis Rurais. São Paulo, 1985. SALDANHA, M. S.; ARANTES, C. A. Avaliação de imóveis rurais. São Paulo: Leud, 2009. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA298 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM MECANIZAÇÃO E MÁQUINAS AGRÍCOLAS |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Análise técnica e econômica das operações com máquinas agrícolas, desempenho e controle operacional, técnicas e processos de seleção de máquinas agrícolas, planejamento da mecanização agrícola. Tópicos especiais em mecanização e máquinas agrícolas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Realizar seleção da maquinaria agrícola com bases técnicas e econômicas, para que o produtor familiar possa utilizar racionalmente suas máquinas. Planejar as operações agrícolas, calcular os custos de operação e determinar as capacidades e eficiências operacionais das máquinas e operações agrícolas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas. São Paulo: Manole, 1990. GALETI, P. A. Mecanização agrícola: preparo do solo. Campinas: Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1981. MACHADO, A. L. T. et al. Máquinas para Preparo do Solo, Semeadura, Adubação e Tratamentos Culturais. Pelotas: Universitária - UFPel, 1996. 229 p. MIALHE, L. G. Manual de mecanização agrícola. São Paulo: Agronômica Ceres, 1974. MIALHE, L. G. Máquinas motoras na agricultura. São Paulo: EPU, 1980. REIS, A. V. et al. Motores, Tratores, Combustíveis e Lubrificantes. Pelotas: Universitária - UFPel, 1999. 315 p. SAAD, O. Seleção do equipamento agrícola. 3. ed. São Paulo: Nobel, 1981. SILVEIRA, Gastão Moraes da. O preparo do solo: implementos corretos. 3. ed. São Paulo: Globo, 1988. 243 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BARGER, E. L. et al. Tratores e seus motores. Rio de Janeiro: Aliança para o Progresso, 1986. 398 p. BARROSO, Eduardo; FERREIRA, Flavio; REIS, Osmar Goeden. Equipamentos agrícolas apropriados ao pequeno produtor rural. Brasília: Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico, Coordenação Editorial, 1983. 62 p. ORTIZ-CANAVATE, J. Técnica de la mecanización agraria: tractores y aperos de labranza y de cultivo. Madrid: Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, 1985. 324 p. ORTIZ-CANAVATE, Jaime. Las maquinas agrícolas y su aplicación. Madrid: Mundi-Prensa, 1980. 490 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA324 |
TÓPICOS EM PÓS-COLHEITA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Principais fungos de pós-colheita e micotoxinas, roedores, padrões de qualidade, técnicas de aeração, fatores de acidente em unidades armazenadoras, projeto de unidade de armazenagem familiar para grãos e sementes. Princípios físicos, processos e métodos empregados no armazenamento de frutas e hortaliças. Aulas práticas e visitas técnicas à unidades de produção familiar. Tópicos atuais. |
|||
|
OBJETIVOS |
|||
|
Conhecer os principais fungos de armazenagem, fatores que favorecem a ocorrência, importância, métodos de minimizar o desenvolvimento e a importância das micotoxinas produzidas no contexto da armazenagem familiar. Estudar os principais roedores e seus métodos de controle na armazenagem de grãos e sementes. Verificar os principais padrões de qualidades dos produtos armazenados. Conhecer as principais técnicas de aeração de grãos e sementes. Desenvolver um projeto para construção de uma unidade de armazenagem de grãos e sementes para a agricultura familiar. Identificar processos e métodos a serem empregados no armazenamento de frutas e hortaliças. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ANAD, M. Fisiologia pós-colheita de frutos. São Paulo: Nobel, 1993. CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A. B. Pós-Colheita de Frutas e Hortaliças: Fisiologia e Manuseio. 2. ed. rev. e ampl. Lavras: Editora UFLA, 2005. 785 p. CORTEZ, L. A. B.; HONÓRIO, S. L.; MORETTI, C. L. Resfriamento de frutas e hortaliças. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2002. 425 p. LOECK, A. E. Pragas de produtos armazenados. Pelotas: EGUFPel, 2002. 113 p. LORINI, I.; MIIKE, L. H.; SCUSSEL, V. M. Armazenagem de grãos. Campinas: IBG, 2002. 1000 p. LUENGO, R. A.; CALBO, A. G. Armazenamento de hortaliças. Brasília: Embrapa Hortaliças, 2001. 242 p. MILMAN, M. J. Equipamentos para pré-processamento de grãos. Pelotas: EGUFPel, 2002. 206 p. NEVES, L. C. Manual pós-colheita da fruticultura brasileira. Londrina: EDUEL - Editora da Universidade Estadual de Londrina, 2009. 494 p. SCUSSEL, V. M. Atualidades em micotoxinas e armazenagem de grãos. Florianópolis: VMS, 2000. 382 p. SILVA, J. S. Secagem e armazenagem de produtos agrícolas. Viçosa: Editora Aprenda Fácil, 2000. 502 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|
MARTINS, R. R. Secagem intermitente com fluxo cruzado e altas temperaturas e sua influência na qualidade do trigo duro. Porto Alegre: Emater-RS, 1998. 52 p. MARTINS, R. R.; FRANCO, J. B. da R.; OLIVEIRA, P. A. V. Tecnologia de secagem de grãos. Passo Fundo: EmbrapaTrigo/Emater-RS, 1999. 90 p. PORTELLA, J. A.; EICHELBERGER, L. Secagem de grãos. Passo Fundo: EmbrapaTrigo, 2001. 194 p. ROVERI JOSÉ, S. C. B.; PINHO, E. V. R. V.; FRANCO DA ROSA, S. D. V. Secagem de sementes: processo, métodos e influência na qualidade fisiológica. Lavras: UFLA, 2002. 86 p. SARANTÓPOULOS, C. I. G. L. et al. Embalagens plásticas flexíveis: principais polímeros e avaliação de propriedades. Campinas: CETEA/ITAL, 2002. 267 p. STOECKER, W. F.; JABARDO, J. M. S. Refrigeração industrial. 2. ed. São Paulo: Edgard Blücher LTDA, 2002. |
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA325 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM FRUTICULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Culturas frutíferas de importância econômica para a agricultura familiar. Novas espécies frutíferas. Aspectos gerais e específicos de instalação e manejo do pomar agroecológico. Sistemas de classificação e embalagem; Associações e certificação para produtos agroecológicos. Frutíferas com ênfase ao maracujazeiro, abacaxizeiro, kiwizeiro, caquizeiro, pequenos frutos (moranguinho, framboesa, mirtilo, amora), goiabeira e mirtáceas nativas. Tópicos atuais em fruticultura. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Aprofundar a discussão sobre tópicos especiais em fruticultura voltada para a produção sustentável, buscando principalmente implantar novas espécies de frutíferas para a agricultura familiar. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FABICHAK, I. O pomar caseiro. São Paulo: Nobel, 1986. 83 p. FACHINELLO, J. C.; HERTER, F. G. Normas para produção integrada de frutas de caroço (PIFC). Pelotas: Ed. EMBRAPA - Clima Temperado, 2001. 46 p. FACHINELLO, J. C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J. C. et al. Propagação de plantas frutíferas de clima temperado. Pelotas: Editora e Gráfica da UFPel, 1994. 179 p. FACHINELLO, J. C.; NACHTIGAL, J. C.; KERSTEN, E. Fruticultura - fundamentos e práticas. Pelotas: Editora Universitária (Ufpel), 1996. 311 p. GIACOMELLI, E. J.; PY, C. O abacaxi no Brasil. Campinas: CARGILL, 1981. 101 p. ITAL. Maracujá. Campinas-SP: ITAL, 1994. 267 p. LORENZI, H. et al. Frutas brasileiras e exóticas cultivadas: (para consumo in natura). São Paulo: Instituto Plantarum de Estudo da Flora, 2006. MANICA, I. et al. Fruticultura tropical 6. Goiaba. Porto Alegre: Ed. Cinco Continentes, 2000. 374 p. MARTINS, F. P.; PEREIRA, F. M. A cultura do caquizeiro. Jaboticabal: FUNEP/UNESP, 1989. 71 p. PEREIRA, F. M. A cultura da figueira. Piracicaba: Livroceres, 1981. 73 p. REBELO, J. A.; BALARDIN, R. S. A cultura do morangueiro. Florianópolis: EMPASC, 1989. RUGGIERO, C. Cultura do Maracujazeiro. Ribeirão Preto: Ed. Legis Summa, 1987. 250 p. SIMÃO, S. Tratado de Fruticultura. Piracicaba: FEALQ, 1998. 760 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ALVES, E. J. A cultura da Banana: aspectos técnicos, sócio-econômicos e agroindustriais. 2. ed. rev. Brasília: Embrapa-SPI/Cruz das Almas, Embrapa-CNPMF, 1999. KOLLER, O. C. Abacaticultura. Porto Alegre: Ed. Universidade/UFRGS, 1984. 138 p. MANICA, I. Fruticultura em pomar doméstico: planejamento, formação e cuidados. Porto Alegre: Rigel, 1993. 143 p. PROTAS, J. F. S.; SANHUEZA, R. M. V. Produção Integrada de Frutas: O Caso da Maçã no Brasil. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2003. 129 p. RASEIRA, M. C. B.; RASEIRA, A. Contribuição ao estudo do araçazeiro. Pelotas: EM- BRAPA CNPACT, 1996. 95 p. RUGGIERO, C. Mamão. Jaboticabal: FUNEP/UNESP, 1988. 428 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA317 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM OLERICULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Olericultura e importância econômica para a agricultura familiar. Novas espécies em olericultura. Aspectos gerais e específicos de instalação e manejo de hortas agroecológicas; Sistemas de classificação e embalagem. Associações e certificação para produtos agroecológicos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Adquirir conhecimento para a elaboração e condução de projetos e técnicas olerícolas economicamente viáveis, podendo representar uma excelente fonte de renda, principalmente para pequenas propriedades rurais. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CERQUEIRA, J. M. C. Hortofloricultura. Lisboa: Popular Franciscol Franco, 1986. FILGUEIRA, F. A. R. ABC da olericultura: guia da pequena horta. São Paulo: Agronomica Ceres, 1987. 164 p. FILGUEIRA, F. A. R. Manual de olericultura: cultura e comercialização de hortaliças. 2. ed. ampl. e rev. São Paulo: Agronômica Ceres, 1981. FILGUEIRA, Fernando Antonio Reis. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na produção e comercialização de hortaliças. 2. ed. rev. e ampl. Viçosa: Ed. UFV, 2003. 412 p. ISBN 8572690654. FONTES, Paulo Cezar Rezende. Olericultura: teoria e prática. Viçosa: Ed. UFV, 2005. 486 p. ISBN 8572690654. SILVA, A. C. F.; DELLA, B. E. Cultive uma horta e um pomar orgânico: sementes e mudas para preservar a biodiversidade. Florianópolis: Epagri, 2009. 319 p. VILLALOBOS, J. U. G. Agricultura e assentamentos. Maringá: UEM, 2000. 165 p. ISBN 8587884077. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
FRANCISCO, N. J. Manual de horticultura ecológica: auto-suficiência em pequenos espaços. São Paulo: Nobel, 1995. 141 p. ISBN 8521308256. LOPES, C. A.; EMBRAPA HORTALIÇAS. A Cultura da batata. Brasília, DF: EMBRAPA, 1999. 187 p. LORENZI, Harri; SOUZA, Hermes Moreira de. Plantas ornamentais no Brasil: arbustivas, herbáceas e trepadeiras. 3. ed. Nova Odessa-SP: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2001. ISBN 8586714127. VAUGHAN, J. G.; GEISSLER, Catherine Alison. The Oxford book of food plants. Oxford: Oxford Universiry Press, 1997. 239 p. ISBN 0198548257. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA301 |
PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Recursos hídricos e seus aspectos físicos. Uso e gestão dos recursos hídricos no Brasil e em outros países: Instrumento de gestão, gestão participativa, valoração da água e estruturação de seus mercados. Legislação brasileira de águas. Delimitação e contextualização dos problemas de alocação. Identificação de fontes de ineficiências alocativas num contexto interdisciplinar. Aplicação de modelos estáticos e dinâmicos de alocação da água. Caracterização socioeconômica, balanço de recursos hídricos e política de desenvolvimento socioeconômico. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Capacitar os alunos no gerenciamento de microbacias e bacias hidrográficas. Incitar a preservação dos recursos hídricos. Estudar a utilização consciente das águas e o impacto das atividades agropecuárias sobre as mesmas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FELICIDADE, Norma; MARTINS, Rodrigo Constante; LEME, Alessandro Andre. Uso e gestão dos recursos hídricos no Brasil: velhos e novos desafios para a cidadania. 2. ed. São Carlos: Rima, 2006. 238 p. ISBN 8586552488. FREITAS, Marcos Aurélio Vasconcelos. A gestão dos recursos hídricos e a mineração. Brasília: ANA, IBRAM, 2006. 334 p. ISBN 858962918X. PARANÁ. Legislação paranaense de recursos hídricos: lei estadual n. 12.726/99 e decretos que estruturam a gestão de recursos hídricos no Estado do Paraná. São Paulo: Astúrias, 2002. 169 p. MACHADO, Carlos José Saldanha. Gestão de águas doces. Rio de Janeiro: Interciência, 2004. ISBN 8571930872. SARAIVA, Maria da Graça Amaral Neto. O rio como paisagem: gestão de corredores fluviais no quadro do ordenamento do território. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. 512 p. ISBN 9723108315. VALENTE, Osvaldo Ferreira; GOMES, Marcos Antônio. Conservação de nascentes: hidrologia e manejo de bacias hidrográficas de cabeceiras. Viçosa-MG: Aprenda Fácil, 2005. 210 p. ISBN 8576300125. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ANDREOLI, C. V.; CARNEIRO, C. Gestão integrada de mananciais de abastecimmento eutrofizados. Curitiba: SANEPAR; FINEP, 2005. 500 p VIEIRA, Paulo Freire; WEBER, Jacques. Gestão de recursos naturais renováveis de desenvolvimento: novos desafios para a pesquisa ambiental. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002. 500 p. ISBN 85.249-0633-2. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX133 |
QUÍMICA ORGÂNICA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Princípios gerais da Química Orgânica. Características estruturais dos compostos orgânicos. Alcenos, aldeídos, esteres, cetonas e ácidos carboxílicos. Hidratos de carbono. Funções nitrogenadas: aminas, amidas, aminoácidos, proteínas. Grupos aromáticos. Polímeros e outros compostos de interesse biológico e tecnológico. Mecanismos de reação. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Apresentar aos alunos de Agronomia os fundamentos de química orgânica relacionados à estrutura, propriedades físicas e químicas, reatividade e mecanismos das principais reações das classes de compostos de interesse, para que possam ter conhecimento de síntese orgânica e dos processos biológicos. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALLINGER, N.; CAVA, M. P.; JONGH, D. C. Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 1976. BRUICE, P. Y. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2006. 2 v. MCMURRY, J. Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC Editora, 1997. SILVERSTEIN, R. M. Identificação espectrométrica de compostos orgânicos. 7. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2006. SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. Química Orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 2005. VOLHARDT, K. P. C. Química Orgânica: Estrutura e função. Porto Alegre: Bookman, 2004. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ATKINS, P. W.; JONES, L. Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman, 2006. CAMPOS, M. M. Fundamentos de Química Orgânica. São Paulo: Edgard Blücher, 1997. COSTA, P. R. R.; FERREIRA, V. F.; ESTEVES, P. M. Ácidos e bases em Química Orgânica. Porto Alegre: Bookman, 2005. MORRINSON, R.; BOYD, R. Química Orgânica. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1995. RUSSEL, J. B. Química Geral. São Paulo: Pearson Makron Books, 1994. v. 1 e 2. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GLA045 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (Libras) |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
1. Visão contemporânea da inclusão e da educação especial na área da surdez. 2. Cultura e identidade da pessoa surda. 3. Tecnologias voltadas para a surdez. 4. História da linguagem de movimentos e gestos. 4. Breve introdução aos aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. 5. Características básicas da fonologia de Libras: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não-manuais. 5. O alfabeto: expressões manuais e não manuais. 6. Sistematização e operacionalização do léxico. 7. Morfologia, sintaxe, semântica e pragmática da Libras; 8. Diálogo e conversação. 9. Didática para o ensino de Libras. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Dominar a língua brasileira de sinais e elaborar estratégias para seu ensino, reconhecendo-a como um sistema de representação essencial para o desenvolvimento do pensamento da pessoa surda. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BRASIL. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP/MEC, 1998. BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. COUTINHO, Denise. LIBRAS e Língua Portuguesa: Semelhanças e diferenças. João Pessoa: Arpoador, 2000. FELIPE, Tanya; MONTEIRO, Myrna. LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro do Professor. 4. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS Editora Gráfica, 2005. QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. SACKS, Oliver W. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BRASIL. Decreto 5.626/05. Regulamenta a Lei n.10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, 2005. CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe – LIBRAS. São Paulo: EDUSP/Imprensa Oficial, 2001. LABORIT, Emmauelle. O Vôo da Gaivota. Paris: Editora Best Seller, 1994. LODI, Ana Cláudia Balieiro et al. Letramento e Minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. MOURA, Maria Cecília de. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Ed. Revinter, 2000. . Língua de Sinais e Educação do Surdo. Série neuropsicológica. São Paulo: TEC ART, 1993. v. 3. PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de LIBRAS 1. 1. ed. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2006. QUADROS, Ronice Muller. Educação de surdos. A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre: Editora Artmed, 1997. SACKS, Oliver. Vendo Vozes – Uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Cia. das Letras, 1998. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA318 |
OVINOCULTURA E CAPRINOCULTURA |
03 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Situação atual e perspectivas da caprinocultura e ovinocultura no Brasil e no mundo. Principais raças de ovinos e caprinos. Sistemas de produção. Instalações. Manejos re- produtivo, nutricional e sanitário do rebanho. Melhoramento genético de ovinos e ca- prinos. Bem estar animal nas criações de ovinos e caprinos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Adquirir conhecimento teórico e prático para os diferentes sistemas de produção adotados na ovinocultura e caprinocultura, bem como, os diferentes produtos da criação. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ANDRIGUETTO, J. M. Nutrição Animal. São Paulo: Nobel, 2002. 387 p. v.1 ANDRIGUETTO, J. M. Nutrição Animal. São Paulo: Nobel, 2002. 426 p. v. 2. BOFILL, F. J. A raça ovina ideal: na Austrália e no Rio Grande do Sul. Guaíba: Agropecuária, 1997. 276 p. COIMBRA FILHO, A. Técnicas de criação de ovinos. 2. ed. Guaíba: Agropecuária, 1985. 102 p. MEDEIROS, L. P.; GIRÃO, R. N.; GIRÃO, E. S.; PIMENTEL, J. C. M. Caprinos princípios básicos para sua exploração. Embrapa, 1994. 177 p. PUGH, D. C. Clínica de ovinos e caprinos. São Paulo: Editora Roca, 2005. 513 p. RIBEIRO, S. D. A. Caprinocultura – criação racional de caprinos. São Paulo: Nobel, 1997. 318 p. SILVA SOBRINHO, A. G. Criação de Ovinos. 3. ed. Jaboticabal: Funep, 2006. 302 p. SILVA SOBRINHO, A. G. Nutrição de Ovinos. Jaboticabal: Funep, 1996. 258 p. SILVA SOBRINHO, A. G. Produção de Ovinos. Jaboticabal: Funep, 1990. 210 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BERCHIELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de ruminantes. Jaboticabal: Funep, 2006. 583 p. BOFILL, F. J. A reestruturação da ovinocultura Gaúcha. Guaíba: Agropecuária, 1996. 137 p. LANA, R. P. Nutrição e alimentação animal (mitos e realidades). Viçosa: UFV, 2005. 344 p. PEREIRA, J. C. C. Fundamentos de bioclimatologia aplicados à produção animal. Belo Horizonte: FEP-MVZ, 2010. 195 p. RIBEIRO, L. A. O. Medicina de Ovinos. Porto Alegre: Pacartes, 2011. 195 p. SOLAIMAN, S. G. Goat science and production. Wiley-Blackwell, 2010. 425 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA290 |
TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceito, classificação e nomenclatura dos agrotóxicos. Fundamentos da Tecnologia de aplicação de agrotóxicos. Agrotóxicos, formulações, toxicidade e descarte de embalagens. Segurança na aplicação e impacto ambiental na aplicação de agrotóxicos. Dinâmica de gotas de pulverização. Bicos de pulverização. Deriva e deposição de gotas e alvo biológico. Pulverização terrestre - equipamentos, volume de aplicação, calibração, cuidados. Equipamentos para experimentação. Aviação agrícola. Legislação, atividade aéroagrícola e do Engenheiro Agrônomo. Equipamentos, calibração, procedimentos, operacionais. Emprego da eletrônica na tecnologia de aplicação. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Fornecer informações sobre a tecnologia de aplicação de agrotóxicos para aplicações terrestres ou com aeronaves agrícolas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FUNDAÇÃO ABC. Tecnologia de aplicação de defensivos. Ponta Grossa-PR: Fundação ABC, 1996. 36 p. GUEDES, J. V. C.; DORNELLES, S. H. B. Tecnologia e segurança na aplicação deagrotóxicos. Santa Maria-RS: Sociedade de Agronomia de Santa Maria, 1998. 139 p. SILVA, A. A.; SILVA, J. F. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa: Ed. UFV, 2007. 367 p. ZAMBOLIM, L. et al. Produtos Fitossanitários (fungicidas, inseticidas, acaricidas e herbicidas). Viçosa: Ed. UFV/DFP, 2008. 652 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
RODRIGUES, B. N.; ALMEIDA, F. R. Guia de herbicidas. 5. ed. Londrina: Edição dos Autores, 2011. 697 p. SCHRÖDER, E. P. Avaliação de deriva e deposição de pulverizações aeroagrícolas na região sul do Rio Grande do Sul. Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 1996. 68 p. (Dissertação de Mestrado). |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA331 |
IMPACTO AMBIENTAL DE AGROTÓXICOS |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Estudar a situação de uso de agrotóxicos no Brasil, Culturas que mais empregam agrotóxicos, Mercado de agrotóxicos, Principais grupos químicos de agrotóxicos, Comportamento ambiental dos agrotóxicos, Biodegradação de Agrotóxicos, Resíduos de agrotóxicos nos alimentos, Embalagens vazias de agrotóxicos, Legislação de agrotóxicos com enfoque Ambiental e Métodos alternativos de controle fitossanitário. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Fornecer informações aos acadêmicos sobre os efeitos que os agrotóxicos podem ocasionar sobre o ambiente e também nas cadeias produtivas das culturas de interesse agrícola. Busca-se ainda com a disciplina minimizar o uso de agrotóxicos e avaliar seus efeitos sobre o homem e ambiente. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AGOSTINETTO, D.; VARGAS, L. Resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil. Passo Fundo-RS: Gráfica Berthier, 2009. 352 p. BARBOSA, L. C. A. Os pesticidas o homem e o meio ambiente. Viçosa-MG: UFV, 2004. 215 p. RODRIGUES, B. N.; ALMEIDA, F. R. Guia de herbicidas. 5. ed. Londrina: Edição dos Autores, 2011. 697 p. SILVA, A. A.; SILVA, J. F. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa-MG: UFV, 2007. 367 p. ZAMBOLIM, L. et al. Produtos Fitossanitários (fungicidas, inseticidas, acaricidas e herbicidas). Viçosa: Ed. UFV/DFP, 2008. 652 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
MONTEIRO, R. T. R. et al. Lixiviação e contaminação das águas do rio Corumbataí por herbicidas. In: KARAM, D.; MASCARENHAS, M. H.; SILVA, J. B. A ciência das plantas daninhas na sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Sete Lagoas- MG: SBCPD-Embrapa Milho e Sorgo, 2008. p.181-192. SANTOS, J. B. et al. Fitorremediação de solos com residual de herbicidas. In: KARAM, D.; MASCARENHAS, M. H.; SILVA, J. B. A ciência das plantas daninhas na sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Sete Lagoas-MG: SBCPD- Embrapa Milho e Sorgo, 2008. p. 193-200. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA288 |
ZOOLOGIA APLICADA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceitos e definições sobre zoologia.Níveis de organização dos animais.Protozoa - Características gerais. Principais doenças. Platyhelminthes – Características gerais. Classes trematoda e cestoda. Classe Nematoda: características gerais e sistemática. Principais espécies parasitas e de interesse humano e agro-florestal. Filo Anellida - Características gerais e sistemática. Classe Oligochaeta.Filo Arthropoda - Características gerais e sistemática.Classe arachnida e classe insecta.Filo Chordata: Peixes e Tetrápodes.Ofidismo. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Dar ao aluno conhecimento sobre os principais filos animais de interesse agronômico. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
HICKMAN JR., C. P.; ROBERTS, L. S.; LARSON, A. Princípios integrados de zoologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2004. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
RUPERT; FOX; BARNES. Zoologia dos Invertebrados. Uma Abordagem Funcional Evolutiva. 7. ed. Editora Roca, 2005. 1145 p. POUGH, F. Harvey; JANIS, CHRISTINE M.; HEISER, JOHN B. A vida dos vertebrados. 3. ed. Atheneu editora, 2003. 699 p. ORR, Robert T. Biologia dos vertebrados. 5. ed. Editora Roca, 1986. 508 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA334 |
LEGISLAÇÃO E RECEITUÁRIO AGRONÔMICO |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
A disciplina visa preparar os acadêmicos através de noções de Comércio Internacional e de Legislação Fitossanitária Internacional; Princípios gerais de quarentena vegetal; Definições e procedimentos técnicos de análise de risco de PQNR e diretivas para o reconhecimento de áreas livres de pragas; Instrução Normativa Conjunta Nº 1, de 15 de Abril de 2008 - Emergências Fitossanitárias; Legislação sobre descarte de embalagens de agrotóxicos e afins Controle Integrado de Pragas: Avaliação dos Níveis de Danos; Adequação de Medidas de Controle: Métodos, Sistemas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Fornecer informações sobre a legislação e receituário agronômico, adequando o aluno às exigências legais na área fitossanitária . |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BERGAMIN FILHO, A.; KIMATI, H.; AMORIM, L. (Ed.). Manual de Fitopatologia: Doenças das plantas cultivadas. São Paulo: Agronômica Ceres, 2005. v. 2. 663 p. BERGAMIN FILHO, A.; KIMATI, H.; AMORIM, L. (Ed.). Manual de Fitopatologia: Princípios e Conceitos. São Paulo: Agronômica Ceres, 1995. v. 1. 919 p. GALLO, Domingos et al. Entomologia agrícola. Piracicaba, SP: FEALQ, 2002. 920 p. PIAZZA, Gilberto. Fundamentos de ética e exercício profissional em Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Porto Alegre: CREA-RS, 2000. 194 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA335 |
TÓPICOS ESPECIAIS EM PLANTAS DANINHAS |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Avaliar os prejuízos diretos e indiretos ocasionados pelas plantas daninhas em culturas de verão, culturas de inverno, pastagens, hortaliças e em pomares de frutas. Estudar ainda o manejo e controle de plantas daninhas em áreas agrícolas e não agrícolas. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Fornecer ao aluno informações sobre o controle e manejo de plantas daninhas em áreas agrícolas e não agrícolas. Possibilitar ao acadêmico o uso de diferentes métodos de controle de plantas daninhas infestantes de diferentes ambientes. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
OLIVEIRA JR., R. S.; CONSTANTIN, J.; INOUE, M. H. Biologia e manejo de plantas daninhas. Curitiba-PR: Omnipax, 2011. 348 p. RODRIGUES, B. N.; ALMEIDA, F. R. Guia de herbicidas. 5. ed. Londrina: Edição dos Autores, 2011. 697 p. ROMAN, E. S.; VARGAS, L. Manual de manejo e controle de plantas daninhas. Bento Gonçalves: Embrapa Uva e Vinho, 2008. 779 p. SILVA, A. A.; SILVA, J. F. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa: Ed. UFV, 2007. 367 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
AGOSTINETTO, D.; VARGAS, L. Resistência de plantas daninhas a herbicidas no Brasil. Passo Fundo-RS: Gráfica Berthier, 2009. 352 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA336 |
VISTORIA, AVALIAÇÃO E PERÍCIAS RURAIS |
02 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Vistoria. Perícia. Avaliação. Monitoramento. Laudo. Parecer técnico. Auditoria. Arbi- tragem. Métodos: avaliação de terra, benfeitorias de culturas, de máquinas e de imple- mentos, avaliação de semoventes. Análise de mercado imobiliário e do valor encon- trado. Periciais ambientais. Técnicas de geoprocessamento e cartografia digital aplica- do aos trabalhos de perícias e avaliações de imóveis rurais. Elaboração de Laudo peri- cial. Legislação profissional. Registro de imóveis. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Proporcionar conhecimentos ao acadêmico para sua futura atuação profissional na área de vistorias, avaliações e perícias no âmbito da agronomia. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 14653-3. Avaliação de bens: Imóveis rurais. São Paulo, 2004. DAUDT, C. D. L. Metodologia dos diferenciais agronômicos na vistoria e avaliação do imóvel rural. Porto Alegre: CREA/RS, 1996. DAUDT, C. D. L. Curso de avaliações e perícias judiciais (Vistoria e Avaliação de Imóveis Rurais). Porto Alegre: CREA/RS, [199-]. DEMÉTRIO, V. A. (Coord.). Simpósio sobre Engenharia de Avaliações e Perícias. Anais. Piracicaba: FEALQ, 1995. DEMÉTRIO, V. A. Novas diretrizes para avaliação de imóveis rurais. Congresso de Avaliações e Perícias – IBAPE. Águas de São Pedro, 1991. FIKER, J. Manual de Redação de Laudos. São Paulo: Eed. PINI, 1989. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
CUNHA, S. B da; GUERRA, A. J. T. (Org.). Avaliação e Perícia Ambiental. Rio de Janeiro: ed. Bertrand Brasil, 1999. FILLINGER, V. C. Engenharia de Avaliações (Avaliação de Máquinas, Equipamentos, Instalações Industriais e Indústrias). São Paulo: Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia - Ed. PINI, 1985. KOZMA, M. C. F. da S. Engenharia de Avaliações (Avaliação de Propriedades Rurais). São Paulo: Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia; ed. PINI, 1984. LEPSCH, I. F. (Coord.). Manual para Levantamento Utilitário do Meio Físico e Clas- sificação de Terras no Sistema de Capacidade de Uso. Campinas: Sociedade Brasileira da Ciência do Solo, 1983. MAGOSSI, A. J. Avaliações para Garantias (Avaliação de Imóveis Rurais). São Paulo: [s.n], {199-]. VEGNI-NERI, G. B. dei. Avaliação de Imóveis Urbanos e Rurais. 4. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1979. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA337 |
SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Noções de BPF, higiene e legislação. Controle de qualidade. Agroindústrias alimentícias. Embalagens. Tecnologia das fermentações. Equipamentos para o processamento de alimentos. Tipos e funcionamento de agroindústrias. Tecnologias de transformação e conservação de produtos de origem vegetal e animal. Introdução a Gestão Agroindustrial. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer os princípios e métodos de controle de qualidade em agroindústrias. Apresentar novas tecnologias utilizadas no mercado in natura e industrial relacionados com a conservação e o processamento dos alimentos. Capacitar os alunos a discutirem as novas práticas industriais e seus reflexos no aspecto nutricional e da qualidade dos alimentos. Conhecer conceitos e metodologias utilizadas na gestão agroindustrial. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BATALHA, Mário Otávio (Coord.). Gestão Agro-industrial. São Paulo: Atlas, 2001. FELLOW, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. FRANCO, B. D. G. M.; LANDGRAF, M. Microbiologia de alimentos. São Paulo: Atheneu, 1996. GAVA, A. J. Tecnologia de Alimentos – Princípios e Aplicações. 8. ed. São Paulo: Nobel, 2008. ORDOÑES, J. A. et al. Tecnologia dos alimentos: alimentos de origem animal. Porto Alegre: Artmed, 2005. v. 2. ORDOÑES, J. A. et al. Tecnologia dos alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005. v. 1. REGULY, J. C. Biotecnologia dos processos fermentativos: fundamentos, matérias- primas agrícolas, produtos e processos. Pelotas: Ed. UFPEL, 1996. v. 1. ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. (Org.). Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 2000. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ANDRADE, N. Higienização na indústria de alimentos. São Paulo: Varela, 2008. 412 p. GIORDANO, J. C.; GALHARDI, G. Controle integrado de pragas. Campinas: SBCTA, 2003. 149 p. (Manuais técnicos SBCTA). JAY, J. M. Microbiologia de alimentos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 711 p. SILVA, J. A. Tópicos da Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Varela, 2000. 227 p. TRONCO, V. M. Manual para inspeção de qualidade do leite. Santa Maria: Ed. UFSM, 1997. Legislação brasileira de processamento de produtos animais e vegetais. |
|||
9.1 Perfil do Coordenador
O coordenador de curso tem suas atribuições regulamentadas pela PORTARIA Nº 1058/GR/UFFS/2012, de 29 de outubro de 2012, que trata também da carga horária para esta função.
9.2 Reuniões pedagógicas e de colegiado
Definido o colegiado do curso em questão, antes do início do semestre letivo, conforme portaria n° 263/GR/UFFS/2010 ou qualquer outra que venha a substituí-la , o coordenador de curso agendará reuniões ordinárias, com objetivos específicos, de acordo com os referenciais abaixo descritos. Já o NDE tem suas funções regulamentadas, no âmbito da UFFS, pela Resolução N° 001/2011/CONSUNI/CGRA ou qualquer outra que venha a substituí-la, sendo as reuniões ordinárias agendadas pelo coordenador do curso ao início do semestre letivo. Em relação as reuniões extraordinárias, tanto do colegiado do curso como do NDE, serão agendadas em função de necessidades urgentes.
9.2.1 Reunião de planejamento
A reunião de planejamento ocorre antes do início do período letivo, onde o coordenador de curso apresentará aos docentes as disciplinas que serão ofertadas, momento que será acordado quais a(s) disciplina(s) que cada docente irá ministrar no corrente semestre, respeitando sua habilitação. Os docentes deverão planejar cada uma das disciplinas, considerando as particularidades do calendário acadêmico do período letivo, a programação de trabalhos ou projetos e da realização de avaliações pontuais. Esta é uma oportunidade dos docentes terem uma visão geral de como as outras disciplinas deverão transcorrer, evitando-se a sobreposição de conteúdo e possibilitando o inter-relacionamento entre as mesmas.
9.2.2 Reunião de acompanhamento
Esta reunião tem como objetivo verificar o desempenho parcial dos estudantes após as primeiras avaliações. Trata-se de uma oportunidade para os docentes analisarem eventuais problemas associados às suas disciplinas. Nesta ocasião pode-se ter uma idéia de quais estudantes não estão tendo um aproveitamento satisfatório, que poderão ser chamados para apresentarem as causas do baixo desempenho acadêmico e receberem orientações adicionais. Este processo possibilitará a adoção de medidas pró-ativas, por parte dos docentes como por parte dos estudantes, devendo ser acompanhado pelo coordenador de curso.
9.2.3 Reunião de avaliação final
Esta reunião tem o objetivo de avaliar o semestre letivo, devendo ser realizada logo após as últimas provas. É uma oportunidade de trocas de experiências entre o representante discente e corpo docente a respeito de fatos positivos e negativos, permitindo a correção de problemas para os próximos períodos. Deve-se destacar que os aspectos positivos e negativos são determinados a partir dos relatos efetuados pelos docentes e representante discente, que deve expressar a opinião dos acadêmicos.
9.2.4 Reuniões extraordinárias
Reuniões extraordinárias podem ser agendadas, quando algum fato significativo surgir e cuja urgência justifique uma reunião não programada, podendo ser convocada pelo coordenador ou, pelo menos um terço dos membros do colegiado no respectivo semestre.
9.3 Formas de participação discente
Nos órgãos deliberativos a representação discente também possui seu espaço. Esses espaços são preenchidos por alunos que buscam participar das decisões que afetam a vida político-acadêmica da universidade. São esses alunos que defendem e fazem valer os interesses de todos os estudantes, cuja representatividade lhes foi confiada.
Os discentes terão direito a uma vaga no colegiado de curso, com suplente, eleitos entre seus pares em processo definido pela entidade que os representa na instituição (C.A., D.A. ou DCE). Assim, um representante dos alunos participará das
reuniões do colegiado, com direito a voz e voto e, posteriormente repassará aos demais discentes.
A cada período letivo, os estudantes deverão formalizar junto ao coordenador de curso os nomes dos representantes no colegiado, titular e suplente. Somente poderão ser representantes, acadêmicos regularmente matriculados no curso de Agronomia.
No caso de criação de outras instâncias relacionadas ao curso, o colegiado poderá decidir novas formas de participação dos discentes.
10 AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO
O Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) estabelece três instrumentos de avaliação para as IES: a avaliação institucional (podendo ser interna ou externa, a primeira por iniciativa própria, a segunda através de um organismo externo de regulação e controle), a avaliação de cursos, e o Enade (Exame Nacional de Desempenho do Estudante). Com o objetivo de criar espaços institucionais baseados na cultura da avaliação e da autoavaliação, estes mecanismos devem ser pensados como processos participativos, formativos e formadores, que procuram identificar as dificuldades da IES em uma visão de conjunto, para melhor elaborar e implementar medidas corretivas e aperfeiçoar a qualidade da instituição e as ações de todos os atores envolvidos.
A autoavaliação do curso se ocupa das condições e os problemas de:
- Organização didático-pedagógica
- Corpo docente, discente e técnico-administrativo
- Instalações físicas.
Assim o Programa de autoavaliação do curso de Agronomia da UFFS deverá ser realizado semestralmente e deverá:
- Ser contínua e organizada;
- Contar com a participação ampla da comunidade acadêmica em todas as etapas da avaliação, desde a concepção do processo e execução dos instrumentos de avaliação até a análise crítica dos resultados obtidos;
- Focalizar o processo de autoavaliação nas diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional;
- Ter foco nos processos coletivos, e não na avaliação do indivíduo;
- Utilizar, com o maior grau de integração possível, métodos qualitativos e quantitativos de avaliação;
- Ser constituída de métodos de simples entendimento e administração;
- Criar uma cultura de avaliação em toda a instituição, focalizada na constante melhoria e renovação de suas atividades.
- Fornecer à gestão institucional, ao poder público e à sociedade uma análise crítica e contínua da eficiência, eficácia e efetividade acadêmica da universidade.
A autoavaliação será responsabilidade do Colegiado do Curso, mas sempre entendida como processo coletivo e participativo e como fonte privilegiada de informações que permitem aperfeiçoar o curso permanentemente.
A elaboração coletiva destes instrumentos de avaliação é o momento participativo por excelência, mas esta dimensão não está excluída de outros momentos, como análise de dados, divulgação de dados, e elaboração de relatórios finais.
Finalmente, a autoavaliação sistemática deve chegar a um documento final elaborado pela Comissão de autoavaliação do curso de Agronomia, sendo composto por relatório que organize os resultados obtidos, disponibilizando-o à comunidade acadêmica, e de um Plano de Ação para resolução dos problemas detectados.
11 ARTICULAÇÃO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO
O convívio com a realidade no espaço rural deverá ser a ferramenta pedagógica que articulará o ensino, a pesquisa e a extensão do curso de agronomia na perspectiva da construção de uma agricultura de base ecológica e sustentável nas diversas dimensões possíveis.
A interdisciplinaridade deverá ser uma prática dialógica universitária, permeando o ensino, a pesquisa e extensão. Num sentido mais amplo o curso de agronomia buscará construir para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, constituindo-se numa afirmação positiva de que a universidade deverá produzir conhecimentos acessíveis à formação de profissionais comprometidos com a vida social e meio ambiente.
O ensino, além de priorizar a base de conhecimento já produzido pela humanidade, deverá avançar, buscando problematizar a realidade local, discutindo e encontrando soluções para o cotidiano do espaço rural.
A pesquisa deverá estar intimamente articulada com e extensão, priorizando buscar a resolução dos problemas socioeconômicos, ambientais e culturais que afligem a sociedade em geral.
A extensão deverá ser prática socioeducativa presente em todos os semestres do curso de agronomia e nas disciplinas cursadas, alimentando o debate educativo e propondo soluções.
O curso de Agronomia tem como elementos norteadores da ação:
11.1 Ensino
- Buscar Aplicar a interdisciplinaridade nos processos formativos (ensino, pesquisa e extensão).
- Romper com a ideia convencional de que o ensino ocorre somente no espaço da sala de aula, criando de forma pedagógica vários momentos e espaços;
- Buscar um ensino inserido nos processos histórico-sociais brasileiros e regionais, com suas múltiplas determinações, interagindo com a realidade que se quer transformar;
11.2 Pesquisa
- Buscar construir um leque diversificado de articulações entre pesquisa e sociedade;
- Considerar sempre a possibilidade de conhecimento na interface universidade- comunidade, de tal forma que os projetos pesquisa estejam, quando possível, articulados com os projetos de extensão e vice-versa;
- Necessidade de priorizar metodologias participativas, sempre que possível, e de acordo com os objetivos e métodos de pesquisa;
- Visar a recriação de conhecimentos possibilitadores de transformação social;
- Ter sempre claro o que deve ser pesquisado, para quais fins e quais os interesses envolvidos na busca de novos conhecimentos.
11.3 Extensão
- Buscar a formação do indivíduo enquanto profissional cidadão;
- Priorizar ações junto às comunidades de baixo poder aquisitivo e que requerem, portanto, potencializar sua organização política e fortalecer sua organização associativa de caráter cultural, econômico e social;
- Promover ações em parceria com lideranças e instituições das comunidades e dos movimentos sociais;
- Promover a identificação de oportunidades, demandas, necessidades e problemas comuns visando o processo de integração e de autonomia das comunidades, não se caracterizando como uma ação assistencialista;
- Estimular a construção com todos os parceiros de projetos e atividades, permitindo a imediata legitimidade das prioridades demandadas, absorvendo valores culturais próprios das comunidades;
- Proporcionar um diálogo aberto entre universidade e comunidade ao articular o saber popular e as práticas sociais com o saber acadêmico e a prática social da vida universitária;
- Promover parcerias no âmbito do poder público e da sociedade civil.
O Colegiado do Curso de Agronomia deve buscar assegurar a cada ano, em seu plano de gestão, o estabelecimento de metas e objetivos a serem alcançados em vista da consecução destes objetivos.
No processo de construção de um curso de graduação, os docentes são peça importante, sendo necessário que sejam comprometidos com o que está proposto tanto no projeto institucional quanto do curso. É necessário que o docente conheça e se aproprie destes projetos político-pedagógicos, uma vez que as competências e o perfil do egresso desejado serão alcançados com a presença das diretrizes e metodologias do PPC nas disciplinas e atividades ofertadas aos alunos.
Assim, torna-se desejável que o docente seja comprometido com:
- O processo de ensino-aprendizagem, organizado como um processo dialético de interlocução, considerando as particularidades e individualidades dos estudantes, de modo que possa selecionar métodos e práticas pedagógicas apropriadas, além de ser coerente com suas práticas docentes e as avaliações aplicadas. Que se priorize a orientação, o incentivo e a possibilidade dos alunos desenvolverem a sua criatividade, permitindo que estes tenham iniciativa em identificar e resolver problemas e, com isso, também desenvolvam competências e habilidades para o empreendedorismo e o compromisso social, sendo agentes de transformação. Ainda, compreender que o espaço de ensino-aprendizagem não é somente a sala de aula, o laboratório, mas que atividades como projetos de ensino/pesquisa/extensão, eventos, participação em política estudantil, a participação em movimentos e ações sociais, atividades interdisciplinares também são necessárias e devem ser incentivados e viabilizados;
- a interdisciplinaridade, procurando romper com o isolamento de disciplinas, assumindo que o conhecimento é produzido dinamicamente. Assim, o planejamento, a integração e a execução de conteúdos e atividades interdisciplinares evitam a fragmentação do conhecimento e da formação, possibilitando ao acadêmico uma visão sistêmica e integralizada das disciplinas cursadas;
- o ensino, a pesquisa, a extensão e o processo de integração destes, com a inclusão do estudante em ambientes cuja dinâmica da produção do conhecimento seja interdisciplinar, teórica e prática;
- o desenvolvimento dos conhecimentos específicos ligados ao curso. Que conheça os fundamentos e o processo histórico de produção destes conhecimentos de sua área. Também comprometido com a atualização constante dos conhecimentos, inserindo-se no debate contemporâneo da área;
- a produção de conhecimentos, métodos, práticas e instrumentos que visem a sustentabilidade, com a aplicação da inovação para a mudança, buscando a quebra do atual paradigma de produção – com a possível substituição de processos produtivos ineficazes e ineficientes; o desenvolvimento de tecnologias com a capacidade de reduzir impactos; a geração de novos padrões de consumo de recursos naturais.
- a leitura das realidades locais e regionais, para que possa se apropriar de objetos e situações que possivelmente façam parte do cotidiano ou realidade dos acadêmicos, uma vez que a instituição tem como objetivo principal o desenvolvimento local e regional. A compreensão dessas realidades influenciará a prática docente, seja no ensino, pesquisa ou extensão.
- o desenvolvimento científico, cultural e tecnológico para a melhoria da qualidade de vida, com relevância tecnológica, econômica, social e/ou ambiental.
- a vida acadêmica da UFFS, envolvendo-se ativamente do processo de desenvolvimento institucional, prezando sempre o respeito.
Quanto à formação docente, esta deverá ser sempre incentivada, uma vez que a atualização dos conhecimentos de sua área é algo desejável. A RESOLUÇÃO n° 003/2011 – CONSUNI/CGRAD institui o Núcleo de Apoio Pedagógico (NAP). Assim, os docentes serão incentivados a:
- formação continuada;
- participar de cursos e palestras, oferecidos pela UFFS ou outra instituição, não só ligados a sua área, mas também que estejam inter-relacionadas com o curso e outras disciplinas;
- participar e organizar seminários e congressos, com a apresentação de trabalhos resultantes de sua prática docente;
- participação em grupos de estudos e de pesquisa, não apenas no âmbito da UFFS, mas também grupos interinstitucionais.
13 QUADRO DE PESSOAL DOCENTE
|
Primeira fase |
|
|
Componente curricular |
Professor |
|
Leitura e produção textual I |
Alessandra Ávila Martins |
|
Introdução à informática |
Gismael Francisco Perin |
|
Matemática instrumental |
Denise Knorst da Silva |
|
História da fronteira sul |
Émerson Neves da Silva |
|
Química geral |
Liérson Borges de Castro |
|
Direitos e cidadania |
Douglas Santos Alves |
|
História da agricultura |
Ulisses Pereira de Mello |
|
Introdução à agronomia |
Lauri Lourenço Radünz |
|
Introdução a ecologia |
Paulo Afonso Hartmann |
|
Segunda fase |
|
|
Introdução ao pensamento social |
Paulo Ricardo Müller |
|
Física geral |
Anderson André Genro Alves Ribeiro |
|
Leitura e produção textual II |
Alessandra Ávila Martins |
|
Desenho técnico |
Andréia Saugo |
|
Cálculo I |
Adriana Richit |
|
Histologia e embriologia vegetal |
Altemir José Mossi |
|
Estatística básica |
Lauri Lourenço Radünz |
|
Optativo I (Química orgânica) |
Gean Delise Leal Pasquali Vargas |
|
Terceira fase |
|
|
Agroclimatologia |
Fábio de Oliveira Sanches |
|
Realidade do campo brasileiro |
Ulisses Pereira de Mello |
|
Bioquímica |
Denise Cargnelutti |
|
Organografia e sistemática de espermatófitos |
Denise Cargnelutti |
|
Genética e evolução |
Altemir José Mossi |
|
Experimentação agrícola |
Lauri Lourenço Radünz |
|
Ecologia agrícola |
Paulo Afonso Hartmann |
|
Microbiologia |
Helen Treichel |
|
Geomorfologia e pedologia |
Alfredo Castamann |
|
Quarta fase |
|
|
Fundamentos da crítica social |
Jerzy André Brzozowski |
|
Fundamentos de zootecnia |
Fernando Reimann Skonieski |
|
Nutrição vegetal |
Alfredo Castamann ou concurso |
|
Agroecologia I |
Altemir José Mossi |
|
Bromatologia |
Fernando Reimann Skonieski |
|
Biotecnologia |
Altemir José Mossi |
|
Fisiologia vegetal |
Denise Cargnelutti |
|
Topografia Básica |
Gismael Francisco Perin |
|
Levantamento e classificação de solos |
Alfredo Castamann |
|
Optativo II (Zoologia aplicada) |
Marilia Teresinha Hartmann |
|
Quinta fase |
|
|
Entomologia agrícola |
Tarita Cira Deboni |
|
Fisiologia e nutrição animal |
Fernando Reimann Skonieski |
|
Melhoramento vegetal |
Altemir José Mossi |
|
Saúde de plantas |
Leandro Galon |
|
Química e Fertilidade do solo |
Alfredo Castamann |
|
Mecanização e máquinas agrícolas |
Gismael Francisco Perin |
|
Ecofisiologia agrícola |
Leandro Galon |
|
Forragicultura |
Fernando Reimann Skonieski |
|
Optativo III |
A definir |
|
Sexta fase |
|
|
Economia rural |
Tomé Coletti ou a contratar |
|
Biologia e ecologia do solo |
Alfredo Castamann |
|
Hidráulica aplicada |
A contratar |
|
Culturas de verão |
Leandro Galon |
|
Manejo de plantas espontâneas |
Leandro Galon |
|
Suinocultura |
Fernando Reimann Skonieski |
|
Propagação de plantas |
Tarita Cira Deboni ou concurso |
|
Optativo IV |
|
|
Avicultura |
Fernando Reimann Skonieski |
|
Geodésia e Sensoriamento remoto |
Gismael Francisco Perin |
|
Katia Kellem da Rosa |
|
|
Juçara Spinelli |
|
|
Sétima fase |
|
|
Bovinocultura de leite |
Fernando Reimann Skonieski |
|
Elaboração, análise e gestão de projetos |
A contratar |
|
Culturas de inverno |
Leandro Galon |
|
Responsabilidade socioambiental |
Ulisses Pereira de Mello |
|
Manejo e conservação de solo e da água |
Alfredo Castamann |
|
Fruticultura |
Alfredo Castamann |
|
Irrigação e drenagem |
A contratar |
|
Construções rurais e infraestrutura |
A contratar |
|
Teoria cooperativista I |
Ulisses Pereira de Mello |
|
Optativo V (Floricultura e Paisagismo) |
A contratar |
|
Oitava fase |
|
|
Meio ambiente, economia e sociedade |
Marilia Teresinha Hartmann |
|
Gestão de unidades de produção e vida familiar |
Ulisses Pereira de Mello |
|
Optativo VI (Sistemas Agroindustriais) |
Helen Treichel |
|
Agroecologia II |
Altemir José Mossi |
|
Olericultura |
Tarita Cira Deboni |
|
Pós-colheita de Grãos |
Lauri Lourenço Radünz |
|
TCC I |
A definir |
|
Iniciação a prática científica |
Lauri Lourenço Radünz |
|
Optativo VII (Gestão de recursos hídricos) |
A contratar |
|
Nona fase |
|
|
Processamento de produtos de origem animal e vegetal |
Iloir Gaio |
|
Sistemas agroflorestais |
Ulisses Pereira de Mello |
|
Soberania e segurança alimentar e nutricional |
A contratar |
|
Extensão rural |
Ulisses Pereira de Mello |
|
Produção e Tecnologias de Sementes |
Lauri Lourenço Radünz |
|
Leandro Galon |
|
|
Enfoque sistêmico na agricultura |
A contratar |
|
TCC II |
A definir |
|
Optativo VIII (receituário agr., ética e Leg.) |
A contratar |
|
Optativo IX (Avaliação e perícias) |
A contratar |
|
Décima fase |
|
|
Estágio Curricular Supervisionado |
Todos docentes |
|
COMPONENTES CURRICULARESOPTATIVOS |
|
|
Correntes da agricultura |
Ulisses Pereira de Mello |
|
Projeto e construção de estradas |
A contratar |
|
Apicultura |
Iloir Gaio |
|
Permacultura |
Ulisses Pereira de Mello |
|
Fisiologia pós colheita |
contratar |
|
Plantas medicinais |
Tarita Cira Deboni |
|
Recursos naturais e energias renováveis |
Helen Treichel |
|
Roberto Valmir da Silva |
|
|
Controle ecológico de pragas e doenças |
Tarita Cira Deboni |
|
|
Ulisses Pereira de Mello |
|
Modelagem em sistemas de produção |
contratar |
|
Tópicos especiais em mecanização e máquinas agrícolas |
Gismael Francisco Perin |
|
Tópicos em Pós-colheita |
Lauri Lourenço Radünz |
|
Tópicos especiais fruticultura |
A contratar |
|
Tópicos especiais em olericultura |
A contratar |
|
Língua Brasileira de sinais (Libras) |
A contratar |
|
Tecnologia de aplicação de agrotóxicos |
Leandro Galon |
|
Gismael Francisco Perin |
|
|
Impacto ambiental de agrotóxicos |
Leandro Galon |
|
Gestão ambiental |
Roberto Valmir da Silva |
|
Poluição do solo |
A contratar |
|
Zoologia Aplicada |
Marilia Teresinha Hartmann |
|
Agricultura de Precisão |
Gismael Francisco Perin |
|
Receituário Agronômico |
A contratar |
|
Ética e Legislação |
A contratar |
|
Sistemas agroindustriais |
Helen Treichel |
|
Tópicos especiais em plantas daninhas |
Leandro Galon |
14 INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA AO CURSO
Para atingir os objetivos propostos o curso contará com a seguinte infraestrutura de laboratórios: Informática; Softwares aplicados; Hidroclimatologia; Desenho; Topografia, geoprocessamento e geotecnologia; Biotecnologia, melhoramento e fisiologia; Microscopia; Fitopatologia e entomologia; Sementes e grãos; Bromatologia e processamento de produtos de origem vegetal e animal; Química; Microbiologia; Geologia, geomorfologia e física dos solos; Química dos solos. Na infraestrutura de campo, o curso deverá ter disponíveis os seguintes espaços/instalações: galpão de máquinas; área experimental de culturas de inverno e verão; depósito de agrotóxicos; área de produção animal; área de fruticultura; área de olericultura; área para casas de vegetação, dentre outros. Cabe considerar que existe convênios firmados com o Instituto Federal Rio Grande do Sul (IFRS) - Campus Sertão e com o Colégio Agrícola Ângelo Emílio Grando – Erechim, para utilização da infraestrutura destas instituições quando necessário.
Abaixo seguem breves especificações sobre a estrutura física necessária:
a) Laboratório de informática
O laboratório de informática deverá constituir um ambiente climatizado e amplo, estar equipado com computadores de mesa com atualização regular, nos quais esteja disponibilizado o acesso à internet, programas de edição de texto e demais softwares utilizados na área agronômica.
a) Laboratório de softwares aplicados
O laboratório de informática de softwares aplicado deverá constituir um ambiente climatizado e amplo e estar equipado com computares próprios para instalação de programas específicos para a área de agronomia, como por exemplo, programas estatísticos, para desenho, Gestão e planejamento, topografia, entre outros.
b) Laboratório de hidroclimatologia
O laboratório de hidroclimatogia deverá possuir instrumentos meteorológicos convencionais e digitais. Também, será utilizado para conhecimento para a execução de
projetos de irrigação e atividades relacionadas à obtenção, uso de dados e técnicas hidrológicas objetivando o dimensionamento e operação de obras hidráulicas. Os seguintes equipamentos são necessários: computador, impressora laser, alicate amperímetro, manômetro digital portátil, tacômetro ótico com mira a laser, paquímetro digital, medidor de vazão para líquidos Calha Parshall 9 e 12”, hidrômetro, medidor eletrônico de vazão ultrassônico, sensores de umidade, balanças, estufas extratores de umidade, sensores de estresse hídrico na planta.
c) Laboratório de desenho
O laboratório de desenho deverá constituir um ambiente climatizado e amplo, dotado de cadeiras e mesas para desenho, servindo para aulas práticas em disciplinas que possuem conteúdos de desenho na ementa.
d) Laboratório de topografia, geoprocessamento e geotecnologia
O laboratório servirá para capacitar os discentes na realização de projetos e levantamentos topográficos e geodésicos através de aulas práticas. Os principais equipamentos são: estação total, GPS topográfico, teodolitos, trenas comum, trenas laser, balizas, nível de precisão, bússolas, planímetros, réguas estadimétrica, Computadores, Mesa digitalizadora, Scanner.
e) Laboratório de biotecnologia, melhoramento e fisiologia
O laboratório contará com sala climatizada para crescimento das culturas, contendo sala para análises microscópicas, sala de preparo de meios de cultura, sala de inoculação, entre outras. Os equipamentos existentes são aqueles necessários para os trabalhos em andamento incluindo biorreatores, centrífugas, aparatos de eletroforese, sequenciador MegaBace, termociclador, espectrofotômetro Vis, espectrofotômetro UV/Vis, banho-maria, máquina de gelo, microscopia de fluorescência, aparatos de captura de imagens em microscópio ocular, invertido e estereomicroscópio, DNA counter, focalizador isoelétrico, speed vac, scanner de alta resolução entre outros.
f) Laboratório de microscopia
O laboratório de microscopia deverá estar dotado de bancadas, microscópios estereoscópio (sendo 1 deles acoplado a um vídeo), microscópio ótico, lupas, estufa, bandejas e seringas, lâminas e lamínulas, vidrarias, pinças e tesouras cirúrgicas.
g) Laboratório de fitopatologia e entomologia
O laboratório deverá apresentar bancadas e os seguintes equipamentos: geladeira, freezer, estufa para esterilização de materiais, autoclave vertical, armário para reagentes químicos, capela, câmaras incubadoras (BOD), câmaras de crescimento(Luz, temperatura e umidade), balança analítica (± 0,0001 g), Balança (± 10 g), microscópio de luz, microscópio estereoscópio, purificador de água por osmose reversa, reservatório para água purificada, centrífuga de mesa (4000 RPM), centrífuga refrigerada (15000 rpm), liquidificador, homogeneizador, espectrofotômetro UV/VIS, leitora automática de microplacas, banho maria, Incubadora agitadora com controle de temperatura, bomba de vácuo, pHmetro, condutivímetro, agitador de tubos, mesa agitadora, agitador magnético, forno de microondas, dessecador, termociclador, cuba de eletroforese, transiluminador UV, armazenador de dados com sensor de temperatura e umidade, suporte de filtro em vidro (47mm), câmara de fluxo laminar e câmara de luz ultravioleta próximo (NUV) e vidrarias
h) Laboratório de sementes e grãos
O laboratório será destinado a aulas práticas quem envolvam sementes e grãos. Os equipamentos disponíveis são: Amostrador de sementes (calador), Balança para peso hectolítrico, Balança semi-analítica, Balança de prato, Câmaras de germinação tipo BOD, Condutivímetro digital, Dessecador, Destilador de água, Deionizador de água, Determinador de proteína, Extrator de gorduras (soxhlet), mufla; extrator de óleos essenciais, Desumificador de ar, Determinadores de umidade (universal e digital), Diafanoscópio, Estufa de secagem e esterilização, Geladeira, Freezer, Germinadores, Lupa de Mesa, Lupas estereoscópica, Soprador de sementes.
i) Laboratório de bromatologia e processamento de produtos de origem vegetal e animal
Neste laboratório serão efetuadas as análises físico-químicas e determinação da composição centesimal em alimentos. Os equipamentos disponíveis são: Destilador Kjeldhal para proteínas; Bloco Digestor Kjeldhal; Destilador de fibras; bancadas com pia e sistema de gás; capelas de exaustão; estufa de secagem; mufla; Aquecedores tipo mantas; Aquecedores tipo placas; banho-maria; dessecadores; Destilador de água; Deionizador de água; Medidores de pH; Condutívimetro; Bomba de vácuo; balança analítica de precisão de 0,001 mg; balança analítica de precisão de 0,1 mg; bicos de Bunsen; estantes metálicas para tubos de ensaio; Conjuntos de extratores Soxhlet; Refratômetro; Espectrofotômetro UV visível, evaporador rotativo, moinho de facas, forno mufla, agitadores magnéticos, centrífuga, liquidificadores.
j) Laboratório de química
Neste laboratório serão realizadas aulas práticas de diversas disciplinas ofertadas no curso. Estes laboratórios estão equipados com capelas com sistema de exaustão, banhos-maria, balanças analíticas e semi-analíticas, pHmetros, condutivímetros, placas de aquecimento e agitação magnética, destiladores por arraste a vapor, destiladores simples, destiladores fracionada e destiladores a pressão reduzida, cromatógrafo a gás acoplado espectrômetro de massas, cromatógrafo líquido de alta eficiência acoplado espectrômetro de massas, espectrofotômetro uv/vis, reagentes, vidrarias, estantes, entre outros equipamentos.
k) Laboratório de microbiologia
Este laboratório conterá os seguintes equipamentos básicos: bancadas, pias, refrigeradores, freezers, autoclave vertical, capela de fluxo laminar, estufas para incubação, balanças, microscópios ópticos, microscópios estereoscópios, contadores de colônias, incubadora agitadora com controle de temperatura, pHmetro, incubadoras com agitação, agitador de tubos, agitador magnético, forno de micro-ondas, lamparinas, bico de Bunsen, suporte para secar vidrarias e estufa de secagem.
l) Laboratório de geologia, geomorfologia e física dos solos
Esse laboratório será utilizado para estudo de rochas, minerais, formação e classificação de solos, devendo conter os seguintes equipamentos: caixas de madeira com tampa de vidro, microscópio, lupa, régua, martelo, enxadão, trado pedológico, entre outros. Também servirá para ministrar aulas práticas sobre propriedades físicas do solo, possuindo os seguintes equipamentos: penetrômetro de campo e laboratório, medidor de umidade, latas de umidade, cilindro, extrator de cilindro, câmaras de Richards com placas, mesa de tensão, extrator de proctor, estufas, balanças, provetas, pipetas, agitadores,
peneiras, agitador para estabilidade de agregados e reagentes.
m) Laboratório de química dos solos
Esse laboratório será utilizado para o estudo das propriedades químicas do solo, corretivos, fertilizantes e tecido vegetal com o objetivo de avaliar o estado nutricional de plantas, a qualidade de corretivos e fertilizantes e a disponibilidade de nutrientes para as plantas no solo. Equipamentos necessários: Estufa para secagem de amostras de solo e tecido vegetal, estufa para esterilização e secagem de vidrarias, moinho de solos, mesa agitadora para homogeneização de conjuntos de amostras de solo, bomba de vácuo, medidor de pH, fotômetro de chama, espectrofotômetro de absorção atômica, Espectrofotômetro UV/VIS, bureta digital, capela para exaustão de gases, bloco digestor, destilador de água, destilador de nitrogênio, deionizador de água
n) Galpão de máquinas
Tem como objetivo desenvolver competências e habilidades dos discentes na área de Máquinas e Mecanização Agrícola através de aulas práticas. Além disso, o laboratório atua também como oficina para serviços, reparos e manutenção leves, dando suporte à utilização das máquinas e implementos agrícolas do câmpus. O mesmo deve ser composto por: Trator com potencia mínima de 75 CV 4x2 TODA e equipamentos compatíveis com a potência do trator, sendo estes, um arado, grade pesada, grade leve, roçadeira, rolo-faca, pulverizador, semeadora de fluxo contínuo, semeadora de precisão, carreta tanque para transporte de água, com bomba hidráulica de acionamento pelo trator, debulhador de cereais, carreta agrícola, caçamba para engate no sistema de 3 pontos, envaletadeira e plaina. Ferramentas de uso geral, como chave combinada, chaves Philips e de fenda, jogo de soquetes, morsa, macaco hidráulico, aparelho de solda, engraxadeira, compressor, moto-
esmeril, motosserra, furadeira, policorte, pulverizador costal, bancadas, balança, pia para lavagem de peças e equipamentos e mesa para teste de pontas de pulverização.
o) Área experimental de culturas de inverno e verão
Contará com áreas destinadas ao cultivo de culturas de inverno e verão, servindo para as aulas práticas de diversas disciplinas.
p) Depósito de agrotóxicos
Tem como objetivo o armazenamento de agrotóxicos que serão utilizados em aulas práticas, experimentos e/ou para manejo de pragas no âmbito do câmpus. A construção deve seguir os critérios definidos pela ABNT/NBR 9843/2004 e as instruções da FEPAM/RS e da NR 31/MTE aprovada pela portaria nº 86 de 03/03/2005.
q) Área experimental de fruticultura
Local destinado à instalação de diversas espécies frutíferas, para que sejam ministradas aulas implantação, condução, poda, manutenção e colheita em espécies frutíferas.
r) Área experimental de olericultura
Local destinado à implantação da horta didática, necessário para as aulas de olericultura, pois neste espaço serão realizadas as aulas práticas de cultivo de diversas espécies de plantas de interesse agronômico.
s) Casa de vegetação
Local destinado ao cultivo para cultivo e manutenção de plantas em ambiente controlado, tanto de culturas de inverno e verão e olerícolas, bem como para a produção de mudas de frutíferas.
.
t) Estação meteorológica
Estação Meteorológica didática, equipada com instrumentos meteorológicos convencionais e digitais e computadores.
u) Área de produção animal
Instalações de apoio às áreas zootécnicas em avicultura de corte e postura, suinocultura; bovinocultura de corte e leite, para viabilizar trabalhos nas diversas áreas de conhecimento relacionadas à produção animal. Infraestrutura para manejo de água, sistema de irrigação, biodigestores, estábulo, aviário, pocilga e fábrica de rações.
v) Biblioteca
A UFFS possui uma Diretoria de Gestão da Informação a qual está vinculada uma Divisão de Bibliotecas que tem por objetivo coordenar, orientar e supervisionar as Bibliotecas da instituição, visando articular a atuação sistêmica, a promoção e uso de padrões de qualidade na prestação de serviços; além de otimizar recursos de atendimento para que os usuários utilizem o acervo e os serviços com autonomia e eficácia; propor novos projetos, programas, produtos e recursos informacionais que tenham a finalidade de otimizar os serviços das Bibliotecas.
Espaço físico
Atualmente UFFS dispõe de 1065,36m² de espaço destinados para Biblioteca nos cinco campi existentes.
Horário de funcionamento
Padrão
De Segunda a sexta-feira: das 7:30 às 22:30 horas Excepcionalmente aos sábados em algumas bibliotecas.
Serviços oferecidos:
- Consulta ao acervo;
- Empréstimo, reserva, renovação, e devolução;
- Empréstimo entre bibliotecas;
- Empréstimo de notebooks;
- Tele-atendimento;
- Acesso internet wireless;
- Acesso internet laboratório;
- Serviço de referência online;
- Comutação bibliográfica;
- Orientação normalização de trabalhos;
- Catalogação na Fonte;
- Serviço de Alerta;
- Visita Guiada;
- Serviço de Disseminação Seletiva da Informação;
- Divulgação de novas aquisições e serviços;
- Assessoria Editorial;
- Capacitação no uso dos recursos de informação.
Em implantação
- Gestão portal periódicos;
- Gestão do repositório institucional;
- Portal de Eventos da UFFS.
Formas de atualização e cronograma de expansão do acervo
Visando qualificar os acervos, nesta fase de implantação da Universidade e consolidação de seus cursos os materiais bibliográficos em todos os suportes são adquiridos com base nos Projetos Político Pedagógicos dos Curso de Graduação e Programas de Pós- graduação, em número de exemplares baseados no número de alunos que cursam cada uma das disciplinas, mediante a abertura de processos licitatórios semestrais na modalidade pregão eletrônico, que determinam e fixam datas de entregas, visando atender as necessidades dos cursos a cada semestre.
Os materiais recebem tratamento técnico conforme os padrões internacionais que permitem a interoperabilidade entre sistemas e os acervos são compartilhados entre as bibliotecas através do serviço de empréstimo entre bibliotecas utilizando serviço de malote entre os campi.
Ao mesmo tempo vem ocorrendo a aquisição de livros eletrônicos e outras bases de dados para atender as demandas dos cursos existentes:
Editora Springer: 3494 títulos (livros estrangeiros);
Editora Zahar: 136 títulos de história, geografia, filosofia, psicologia, ciências sociais (em português)
Editora Atheneu: 61 títulos na área de enfermagem (em português)
Biblioteca Virtual Universitária 1718 títulos das editoras Artmed, Atica, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Manole, Papirus, Pearson e Scipione, contemplando diferentes áreas do conhecimento (em português) em fase de estudo do contrato.
Abaixo a tabela do total do acervo atual da UFFS.
|
Denominação da Área |
Títulos |
Exemplares |
|
Ciência da computação, informação, obras gerais |
394 |
3169 |
|
Filosofia e Psicologia |
664 |
4523 |
|
Religião |
53 |
190 |
|
Ciências sociais |
3211 |
17642 |
|
Linguagem e Línguas |
547 |
2406 |
|
Ciências naturais |
1279 |
13103 |
|
Teconologia (Ciências aplicadas) |
1642 |
7532 |
|
Artes |
173 |
646 |
|
Literatura e Retórica |
1069 |
2139 |
|
Geografia e História |
737 |
4078 |
|
Total |
9769 |
55428 |
Fonte: Sistema de Gestão Pergamum - Agosto/2012
NORMAS PARA O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA - BACHARELADO DA UFFS CAMPUS ERECHIM
CAPÍTULO I
Do Objetivo
Art. 1º O objetivo do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é integrar e consolidar os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, demonstrados através de pesquisas científicas, estudos de caso, revisão de literatura que revele o domínio do tema e a capacidade de síntese, sistematização e aplicação de conhecimentos adquiridos no curso de graduação. Com a finalidade de obter o grau de Bacharel em Agronomia, o acadêmico deverá realizar, individualmente, um TCC voltado ao estudo de uma área específica da Agronomia.
Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso refere-se ao conjunto de três Componentes Curriculares (CCR):
I – Módulo Elaboração de Projetos conduzido de forma orientativa quanto a elaboração do Projeto de Pesquisa;
II - Módulo TCC conduzido de forma orientativa quanto a elaboração da monografia/artigo científico e defesa;
III - Atividade de orientação individual de TCC que se refere a construção do projeto de pesquisa, desenvolvimento e defesa do TCC sob orientação de docente do curso.
Art. 3º O acadêmico deve adotar os seguintes procedimentos para o módulo de Elaboração de Projetos:
I – Realizar a matrícula do módulo;
II – realizar as atividades previstas no plano de curso do módulo;
III – preparar e entregar o Projeto do TCC para avaliação, conforme procedimentos determinados pelo professor da disciplina de Elaboração de Projetos.
Art. 4º O acadêmico aprovado no módulo de Elaboração de Projetos, deve adotar os seguintes procedimentos para o módulo de TCC:
I – Realizar a matrícula no módulo de TCC;
II – realizar as atividades previstas no plano de curso do módulo.
Art. 5º O acadêmico deve adotar os seguintes procedimentos para o desenvolvimento das atividades de orientação individual de TCC:
I – Procurar um orientador que aceite a responsabilidade de sua orientação, de acordo com a área e o tema do trabalho;
II – providenciar o termo de aceite de orientação (Apêndice A);
III – providenciar o termo de uso de laboratórios e de área experimental, caso necessário;
IV – elaborar, em comum acordo com o Orientador, o Projeto do TCC, que seja viável em termos acadêmicos, éticos, de recursos e de tempo;
V – desenvolver o trabalho experimental conforme previsto no projeto de pesquisa;
VI – Preparar e entregar em formato digital o TCC remetido aos membros da banca examinadora;
VII – defender o TCC em sessão pública perante a banca examinadora;
VIII – após a defesa entregar a versão final do texto, em formato estabelecido pelo Setor de Biblioteca da UFFS, com a incorporação, a critério do orientador, de correções e sugestões da banca examinadora;
IX – Providenciar e assinar o termo de cessão de direitos autorais total ou parcial do conteúdo do TCC, conforme estabelecido pela biblioteca.
CAPÍTULO II
Dos Prazos
Art. 6º As matrículas em Elaboração de Projetos e TCC devem ser feitas de acordo com o Calendário Acadêmico da Universidade Federal da Fronteira Sul.
Art. 7º O termo de aceite de orientação, assinado pelo Orientador e pelo acadêmico deve ser entregue ao professor responsável pela disciplina de Elaboração de Projetos, até um mês após o início do semestre letivo.
Art. 8º O Projeto de TCC deve ser entregue ao professor responsável pelo módulo de Elaboração de Projetos até 05 (cinco) dias úteis, antes da realização da defesa do Projeto de TCC.
Art. 9º A monografia/artigo científico do TCC, após ser redigido pelo acadêmico com a orientação do professor Orientador, deve ser entregue aos membros da banca examinadora, até 05 (cinco) dias úteis, antes da realização da defesa da monografia/artigo científico.
Art. 10 As definições da data de defesa e da banca examinadora serão feitas pelos orientadores em conjunto com os demais integrantes da banca.
CAPÍTULO III
Dos Professores Responsáveis pelos módulos de Elaboração de Projetos e TCC Art. 11 Compete ao professor responsável pelo módulo de Elaboração de Projetos:
I – acompanhar a organização e operacionalização das diversas atividades de desenvolvimento e avaliação de Elaboração de Projetos;
II – solicitar a confecção de atestados de orientação em andamento.
III – Ao final do semestre letivo, encaminhar ao professor responsável pelo módulo de TCC os termos de aceite de orientação.
Art. 12 Compete ao professor responsável pelo módulo de TCC:
I – orientar os estudantes quanto ao desenvolvimento das atividades do módulo de TCC;
II – elaborar o calendário das apresentações e efetuar a divulgação das defesas de monografia e/ou artigo científico;
III – solicitar a confecção de atestados de orientação concluída.
IV – solicitar a confecção de atestados de participação da banca examinadora da monografia/ artigo científico;
V- Avaliar...
CAPÍTULO IV
Do Orientador e Coorientador
Art. 13 O Orientador da atividade de orientação individual de TCC será necessariamente um professor em exercício da UFFS.
Art. 14 As orientações de TCC que não estão diretamente vinculadas ao curso de Agronomia, deverão ser apreciadas e aprovadas pelo colegiado do curso.
Art. 15 São deveres do orientador:
I – supervisionar os seus orientados nas atividades acadêmicas relacionadas ao TCC;
II – zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos;
III – corrigir o Projeto de TCC e a Monografia/Artigo Científico;
IV – Marcar a sessão de Defesa da Monografia/Artigo Científico, indicando a banca examinadora;
V – Participar da defesa da Monografia/Artigo científico ou avisar o co-orientador, caso exista, sobre a necessidade da participação do mesmo nesta avaliação em caso de ausência justificada;
VI – capacitar o discente em caso de utilização de laboratórios didáticos utilizados no TCC.
VII - Atribuir os conceitos obtidos pelos seus orientados no sistema de gestão acadêmica considerando a aquilo que foi deliberado pela banca examinadora na ocasião da defesa de TCC.
Art. 16 Quando for conveniente, o acadêmico poderá contar com um co-orientador para o TCC.
- 1ºO TCC que for desenvolvido externamente à UFFS –Campus Erechim deverá formalizar como coorientador o responsável pelo seu acompanhamento no local de realização.
- 2ºO TCC que for desenvolvido com auxílio de um pesquisador, profissional especializado, mentor ou assemelhado externo UFFS –Campus Erechim, deverá formalizá-lo como coorientador.
Art. 17 Podem ser coorientadores:
I – professores da UFFS em efetivo, de qualquer Campus;
II – professores e pesquisadores de outras instituições;
III – mestrandos ou doutorandos regularmente matriculados em cursos de Pós- Graduação reconhecidos pela CAPES;
Art. 18 São deveres do coorientador:
I – supervisionar os seus orientados nas atividades acadêmicas relacionadas ao TCC;
II – zelar pelo cumprimento dos prazos estabelecidos;
III – auxiliar o Orientador nas atividades de avaliação;
IV – substituir o Orientador nos casos de impedimento deste.
Art. 19 – O aluno poderá solicitar ao colegiado de curso a substituição do orientador e/ou do projeto de TCC mediante apresentação de formulário específico (Apêndice B).
CAPÍTULO V
Das Responsabilidades do acadêmico
Art. 20 São deveres do acadêmico na atividade de orientação individual de TCC:
I – agendar com o Orientador as datas e horários para o acompanhamento da elaboração do projeto de pesquisa e da condução das atividades previstas para o TCC;
II – tomar conhecimento integral do conteúdo das Normas do TCC;
III – participar das atividades propostas pelos professores responsáveis pelos módulos de Elaboração de Projetos e TCC;
VI – elaborar e entregar nos devidos prazos e formas o Projeto de TCC;
V – elaborar e entregar nos devidos prazos a Monografia/Artigo Científico para defesa;
VI – defender o TCC perante banca examinadora em sessão pública, salvo em situações que exijam sigilo;
VII – entregar texto final da Monografia/Artigo Científico em formato estabelecido pelo setor de Biblioteca do Campus Erechim;
CAPÍTULO VI
Do Formato da Monografia
Art. 21 A quantidade de páginas e formatação do TCC será definida de acordo com a modalidade escolhida pelo/a orientador/a, respeitados os seguintes limites:
- 1ºA redação do Projeto de TCC deve conter os elementos pré-textuais e textuais seguindo as normas estabelecidas no manual de trabalhos acadêmicos da UFFS.
- 2ºA redação da Monografia deve conter os elementos pré-textuais e textuais seguindo as normas estabelecidas no manual de trabalhos acadêmicos da UFFS.
- 3ºPara redação do Artigo Científico deve-se seguir as normas de edição da Revista Científicaescolhida pelo aluno e seu orientador. O modelo de formatação dos elementos pré-textuais do artigo científico deverá seguir as normas estabelecidas no manual de trabalhos acadêmicos da UFFS.
Art. 22 Caso o TCC apresentado esteja em formato de artigo científico, as normas da revista devem constar como anexo no final do TCC.
CAPÍTULO VII
Da Banca Examinadora
Art. 23 A Banca Examinadora será composta por três membros, o Orientador e dois avaliadores convidados, sem suplentes, não sendo necessário a participação obrigatória do professor responsável pelo módulo de TCC na Banca.
Art. 24 O Orientador presidirá a banca examinadora.
Art. 25 O primeiro avaliador convidado deve atender pelo menos uma das condições:
I – ser professor do ensino superior com título de mestre e/ou doutor;
II – ser pesquisador vinculado à instituto de pesquisa, com título de mestre e/ou doutor.
Art. 26 O segundo avaliador convidado deve apresentar pelo menos uma das condições a seguir:
I – possuir o título de mestre e/ou doutor na área de ciências agrárias ou correlatas;
II – ser mestrando ou doutorando regularmente matriculado em cursos de Pós- Graduação reconhecidos pela CAPES.
Art. 27 O coorientador pode participar da Defesa, realizar parte da Arguição e atribuir conceito, nestes casos a banca poderá ter quatro membros.
Art. 28 Em caso de impedimento do orientador, o coorientador o substitui na presidência da Banca.
- 1ºNão havendo coorientador ou estando este impedido, o presidente da banca será o professor responsável pelo módulo de TCC.
Art. 29 A banca examinadora deverá atribuir conceito APROVADO ou REPROVADO, considerando o trabalho escrito apresentado, a apresentação e arguição.
- 1ºO conceito atribuído deverá ser indicado em ata assinada pelos membros da banca e discente, sendo obrigatória a justificativa em caso de reprovação (Apêndice C).
- 2ºNão haverá possibilidade de recuperação caso o TCC seja considerado reprovado pela banca examinadora.
CAPÍTULO VIII
Das Disposições Finais
Art. 30 Casos omissos nessa Norma são resolvidos pelo Colegiado de Curso.
Art. 31 Revogar a RESOLUÇÃO Nº 3/CCA-ER/UFFS/2021e demais disposições em contrário.
Art. 32 Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, tendo em vista o disposto no parágrafo único do Art. 4º do Decreto nº 10.139/2019.
APÊNDICE A
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA DE TCC E ACEITE DE ORIENTAÇÃO
Aluno: Matrícula: Fase: Professor(a) Orientador(a): Coorientador(a) (opcional):
Tipo de produção: Investigação / Científica Estudo de Caso Revisão de Literatura
Qual o Tema do Projeto?
Classificação do projeto conforme Lista do CNPq)
Utilize a lista disponível em http://lattes.cnpq.br/documents/11871/24930/TabeladeAreasdoConhecimento.pdf para enquadrar o tema da pesquisa.
Grande Área do conhecimento (Ex. 5.00.00.00-4 Ciências Agrárias)
Área do conhecimento (Ex. 5.01.00.00-9 Agronomia)
Subárea do conhecimento (Ex. 5.01.03.00-8 Fitotecnia)
Especialidade (Ex. 5.01.03.01-6 Manejo e Tratos Culturais):
Onde o trabalho será realizado?
Qual o período de realização?
De onde virão os recursos para realização do trabalho?
( ) UFFS ( ) Próprios ( ) Agência de fomento (CNPq, Fapergs) ( )Iniciativa privada £( ) Outros
A pesquisa envolve: £( ) Manejo de animais ( ) Interação com pessoas ( ) OGM
Projetos que envolvam seres humanos deverão ser submetidos para análise Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) ou com animais Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) ou no caso de manipulação de organismos geneticamente modificados (OGM) Comissão Interna de Biossegurança (CIBio)
Serão necessários laboratórios? Quais?
* O uso dos laboratórios para fins acadêmicos, fica condicionado as normas estabelecidas para uso dos mesmos, desta forma, o acadêmico e orientador são responsáveis em preencher os formulários necessários para acesso aos laboratórios.
( ) Informática;
( ) Hidroclimatologia;
( ) Topografia, geoprocessamento e geotecnologia;
( ) Agroecologia; ( ) Microscopia; ( ) Fitopatologia
( ) Entomologia e Bioquímica; ( ) MASSA;
( ) Bromatologia e nutrição animal; ( ) Química;
( ) Microbiologia;
( ) Laboratório de Geologia, Geomorfologia, Física e Química dos Solos;
( ) Química dos solos ( ) Central Analítica
( ) Área Experimental
Assinatura do Aluno(a) Assinatura do Orientador(a)
Assinatura do Coorientador(a)
Erechim-RS, de de 20
APÊNDICE B
FORMULÁRIO PARA ALTERAÇÃO DE PROJETO DE PESQUISA OU ORIENTADOR DE TCC
Eu, , acadêmico(a) do curso de Agronomia da Universidade Federal da Fronteira Sul campus Erechim, número de matrícula , solicito ao colegiado do curso a substituição do:
( ) PROJETO
( ) ORIENTADOR
Título do projeto inscrito
“
”
, sob orientação do
Professor(a) .
Alteração:
Título:
Orientador(a):
*Anexar a este formulário, texto com justificativa da alteração
* A substituição do projeto de pesquisa implicará na obrigação do acadêmico em entregar o novo projeto de pesquisa ao professor responsável pelo modulo de TCC
Erechim, RS. / / 20
Assinatura do Aluno(a)
Assinatura do Orientador(a) inicialmente inscrito
Assinatura do Orientador(a) final
APÊNDICE C
ATA DE DEFESA PÚBLICA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Data da defesa: / / ; Horário da defesa: :
Aluno(a): Título do
TCC:
A Banca Examinadora, constituída pelo professor(a) presidente da banca
,
pelos membros: ,
.
Emitiu o seguinte parecer:
( ) APROVADO ( ) REPROVADO
Justificativa em caso de reprovação:
|
Membro |
Nome |
Assinatura |
|
Presidente: |
|
|
|
Membro 1: |
|
|
|
Membro 2: |
|
|
|
Membro 3: |
|
|
|
Discente: |
|
|
Normas do TCC estabelecidas pela RESOLUÇÃO Nº 14/CCA-ER/UFFS/2024
Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Erechim
Curso de Agronomia
ATA DE DEFESA PÚBLICA DO RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM AGRONOMIA II
Aos dias do mês de de 201 , às horas, foi realizado, na sala , a defesa pública do relatório de Estagio Supervisionado em Agronomia II de
, intitulado
A Banca Examinadora, constituída pelo (a) professor(a) orientador (a)
e pelos professor e
, emitiu o seguinte parecer:
( ) Aprovado com nota:
( ) Aprovado com restrições (deverá entregar a versão corrigida nos prazos estabelecidos)
( ) Reprovado
Obs.:
Eu, , orientador (a) do aluno (a), lavrei a presente Ata que segue por mim assinada e pelos demais membros da Banca Examinadora.
Prof(a).Orientador(a)
1º Examinador
2º Examinador
Obs: O aluno deverá encaminhar, no prazo de 15 dias a contar da data da defesa, os exemplares definitivos do relatório, para arquivamento, conforme normas definidas pela coordenação de estágio da UFFS, Campus Erechim, Curso de Agronomia. O não cumprimento desta implicara na reprovação.
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL - UFFS PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA
Ficha de avaliação do Estágio Curricular Supervisionado em Agronomia*
|
Desempenho na apresentação e no estágio – 0 a 10 - pontos (peso 4) |
Nota |
|
Coerência entre o objetivo proposto e a apresentação |
|
|
Domínio e nível do conteúdo abordado na apresentação |
|
|
Uso da linguagem científica e dos recursos na apresentação |
|
|
Qualidade dos recursos utilizados na apresentação |
|
|
Adequação ao tempo |
|
|
Espontaneidade e entusiasmo |
|
|
Movimentação e auto controle |
|
|
Clareza da exposição e explicações |
|
|
Uso de recursos motivadores |
|
|
Respostas as arguições da banca |
|
|
Nota do desempenho do apresentador |
|
|
|
|
|
Relatório escrito - 0 a 10 pontos - (peso 3) |
|
|
Qualidade do texto elaborado |
|
|
Uso da linguagem científica no texto elaborado |
|
|
Relatório condizente com o plano de estágio |
|
|
Nota do relatório |
|
|
|
|
|
Avaliação Prática - 0 a 10 pontos - (peso 3) |
|
|
Supervisor de estágio |
|
|
Nota do supervisor de estágio |
|
|
|
|
|
Avaliação geral do estágio Soma total das notas |
|
* O tempo para a apresentação deverá ser de 20 a 30 minutos.
NOTA FINAL: (Desempenho do apresentador + Relatório + Avaliação prática)
|
Aluno: |
|
Nome do Avaliador: |
|
Assinatura do Avaliador: |
*Alterado pelo Ato Deliberativo N° 2/CCA-ER/UFFS/2017
Data do ato: Erechim-RS, 01 de outubro de 2012.
Data de publicação: 18 de outubro de 2016.
Gismael Francisco Perin
Coordenador do Curso de Graduação em Agronomia do Campus Erechim