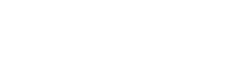RESOLUÇÃO Nº 6/CG AGRB CH/UFFS/2025
A Coordenação do Curso de Graduação em Agronomia - Bacharelado - Câmpus Chapecó, da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, no uso de suas atribuições legais, e considerando a deliberação da 1ª sessão de Colegiado, no dia 28 de março de 2025,
RESOLVE:
Art. 1º Incluir no rol de optativos do PPC 2010 do curso de Agronomia – Bacharelado do Campus Chapecó os componentes curriculares GLA192 Língua Brasileira de Sinais – Libras e GLA108 Língua Brasileira de Sinais – Libras.
Parágrafo único: Os componentes curriculares elencados no caput possuem o seguinte quadro de ementário:
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GLA192 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Visão contemporânea da inclusão e da educação especial na área da surdez. Cultura e identidade da pessoa surda. Tecnologias voltadas para a surdez. História da linguagem de movimentos e gestos. Breve introdução aos aspectos clínicos, educacionais e sócio antropológicos da surdez. Características básicas da fonologia de Libras: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não-manuais. O alfabeto: expressões manuais e não manuais. Sistematização e operacionalização do léxico. Morfologia, sintaxe, semântica e pragmática de Libras. Diálogo e conversação. Didática para o ensino de Libras. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Dominar a língua brasileira de sinais e elaborar estratégias para seu ensino, reconhecendo-a como um sistema de representação essencial para o desenvolvimento do pensamento da pessoa surda. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BRASIL. Ministério da Educação. Língua brasileira de sinais. Brasília: SEESP/MEC, 1998. BRITO, L.F. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. COUTINHO, D. LIBRAS e língua portuguesa: semelhanças e diferenças. João Pessoa: Arpoador, 2000. FELIPE, T.; MONTEIRO, M. LIBRAS em contexto: curso básico: livro do professor. 4.ed. Rio de Janeiro: LIBRAS, 2005. QUADROS, R.M. Língua de sinais brasileira: estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. SACKS, O.W. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES. |
|||
|
BRASIL. Decreto 5.626/05. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, 2005. CAPOVILLA, F.C.; RAPHAEL, W.D. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue: LIBRAS. São Paulo: EDUSP, 2001. LABORIT, E.O vôo da gaivota. Paris: Best Seller, 1994. LODI, A.C.B. et al Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. MOURA, M.C. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. ______. Língua de sinais e educação do surdo. São Paulo: TEC ART, 1993. v. 3. Série neuropsicológica. PIMENTA, N.; QUADROS, R.M. Curso de LIBRAS 1. 1.ed. Rio de Janeiro: LSB, 2006. QUADROS, R.M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artmed, 1997. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GLA108 |
Língua brasileira de sinais – Libras
|
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
1. Visão contemporânea da inclusão e da educação especial na área da surdez. 2. Cultura e identidade da pessoa surda. 3. Tecnologias voltadas para a surdez. 4. História da linguagem de movimentos e gestos. 4. Breve introdução aos aspectos clínicos, educacionais e sócio-antropológicos da surdez. 5. Características básicas da fonologia de Libras: configurações de mão, movimento, locação, orientação da mão, expressões não-manuais. 5. O alfabeto: expressões manuais e não manuais. 6. Sistematização e operacionalização do léxico. 7. Morfologia, sintaxe, semântica e pragmática da Libras; 8. Diálogo e conversação. 9. Didática para o ensino de Libras. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Dominar a língua brasileira de sinais e elaborar estratégias para seu ensino, reconhecendo-a como um sistema de representação essencial para o desenvolvimento do pensamento da pessoa surda. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BRASIL. Língua Brasileira de Sinais. Brasília: SEESP/MEC, 1998. BRITO, L. F. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. COUTINHO, D. LIBRAS e Língua Portuguesa: Semelhanças e diferenças. João Pessoa: Arpoador, 2000. FELIPE, T.; MONTEIRO, M. LIBRAS em Contexto: Curso Básico: Livro do Professor. 4. ed. Rio de Janeiro: LIBRAS Editora Gráfica, 2005. QUADROS, R. M. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. SACKS, O. W. Vendo Vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BRASIL. Decreto 5.626/05. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, 2005. CAPOVILLA, F. C.; RAPHAEL, W. D. Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngüe – LIBRAS. São Paulo: EDUSP / Imprensa Oficial, 2001. LABORIT, E. O Vôo da Gaivota. Paris: Editora Best Seller, 1994. LODI, A. C. B. et al. Letramento e Minorias. Porto Alegre: Mediação, 2002. MOURA, M. C. de. O surdo: caminhos para uma nova identidade. Rio de Janeiro: Ed. Revinter, 2000. ______. Língua de Sinais e Educação do Surdo. Série neuropsicológica. São Paulo: TEC ART, 1993. v. 3. PIMENTA, Nelson; QUADROS, Ronice Muller de. Curso de LIBRAS 1. 1. ed. Rio de Janeiro: LSB Vídeo, 2006. QUADROS, Ronice Muller. Educação de surdos. A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre: Editora Artmed, 1997 SACKS, Oliver. Vendo Vozes – Uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Cia. das Letras, 1998. WILCOX, Sherman. Aprender a ver. Rio de Janeiro: editora Arara Azul, 2005. |
|||
Art. 2º Incluir no rol de optativos do PPC 2023 do curso de Agronomia – Bacharelado do Campus Chapecó os componentes curriculares GCA428 Tópicos em Agronomia III, GEX431 Química Analítica; GCH002 História da Agricultura; GCA675 Ecofisiologia da Produção de Sementes; GCA312 Apicultura.
Parágrafo único: Os componentes curriculares elencados no caput possuem o seguinte quadro de ementário:
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA428 |
Tópicos em Agronomia III |
4 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Ementa a ser definida pelo colegiado do curso, antes da oferta. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
|
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
|
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GEX431 |
QUÍMICA ANALÍTICA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução à química analítica. Equilíbrio ácido-base. Análise volumétrica. Titulações ácido-base. Equilíbrio de precipitação. Titulações de precipitação. Análise gravimétrica. Equilíbrio de formação de complexos. Titulação de complexação. Equilíbrio de oxidação-redução. Titulações de oxidação-redução. Introdução aos métodos espectrométricos. Introdução aos métodos cromatográficos: cromatografia líquida e cromatografia gasosa. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Apresentar os principais fundamentos de química analítica, com ênfase em equilíbrios químicos e discutir aplicações em métodos clássicos e instrumentais. Desenvolver uma visão crítica e abrangente sobre a química analítica, visando fundamentar a tomada de decisões sobre métodos e técnicas analíticas adequadas para a solução de problemas analíticos na área de ciências agrárias. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. Química Analítica Quantitativa Elementar. 3. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2001. HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. MENDHAM, J. et al. Vogel: análise química quantitativa. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2002. SKOOG, D. A. et al. Fundamentos de Química Analítica. São Paulo: Thomson Learning, 2006. SKOOG, D. A.; HOLLER, F. J.; NIEMAN, T. A. Princípios de Análise Instrumental. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BaccanN; Godinho, O. E. S.; Aleixo, L. M.; Stein, E. Introdução à Semimicroanálise Qualitativa. Editora da Unicamp, 1990. Jeffrery, G. H.; Basset, J.; Mendham, J.; Denney, R. C. Vogel: Análise Química Quantitativa. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara koogan, 1992. OHLWEILER, O. A. Química Analítica Quantitativa. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982. VOGEL, A. I. Química analítica qualitativa. 5. ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCH002 |
HISTÓRIA DA AGRICULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Discussão das dimensões sociais e econômicas do sistema agrário. A agricultura em diferentes regiões do mundo. Revolução agrícola e suas variáveis. Modernização e suas conseqüências ambientais e sociais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Analisar crítica e conscientemente os processos históricos de transformações, desafios e tendências da agricultura nos seus diferentes contextos, com ênfase na evolução das técnicas agrícolas e suas consequências. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
GOODMAN, David; SORJ, Bernardo; WILKINSON, John. Da lavoura às biotecnologias: Agricultura e indústria no sistema internacional. Rio de Janeiro: Editora CAMPUS, 1990. MAZOYER, M.; ROUDART, L. História das agriculturas do mundo: do neolítico à crise contemporânea. Lisboa: Instituto Piaget, 2001. PLOEG, Jan Douwe Van Der. Camponeses e Impérios Agroalimentares: lutas por autonomia e sustentabilidade na era da globalização. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2008. PONS, Miguel A. História da Agricultura. Porto Alegre: Editora Maneco, 1998. ROMEIRO, Ademar Ribeiro. Meio Ambiente e dinâmica de inovações na agricultura. São Paulo: ANNABLUME/FAPESP, 1998. SZMRECSANYI, Tamás. Pequena História da agricultura no Brasil. São Paulo: Contexto, 1998. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
ABRAMOVAY, Ricardo. Paradigmas do Capitalismo agrário em questão. Campinas: Editora Hucitec/Unicamp, 1992. BULGARELLI, Waldirio. O Kibutz e as cooperativas integrais: Ejidos - Kolkhozes. São Paulo: Pioneira, 1966. CAMARGO, Aspásia. A questão agrária: crise de poder e reforma de base (1930-1964). In: FAUSTO, Boris. HGCB. 2. ed. São Paulo: Difel, 1983. Tomo 3. v. 3. FURTADO, Celso. Pequena introdução ao desenvolvimento. Enfoque interdisciplinar. São Paulo: Editora Nacional, 1980. GRAZIANO DA SILVA, José. Progresso técnico e relações de trabalho na agricultura. São Paulo: Hucitec, 1981. HOLSTON, James. Legalizando o ilegal: propriedade e usurpação no Brasil. Revista Brasileira de Ciências Sociais, n. 21, fev. 1993. p. 68-89. LINHARES, Maria Yedda; SILVA, Francisco Carlos Teixeira de. História da Agricultura no Brasil. Debates e Controvérsias. São Paulo: Brasiliense, 1981. LOURENÇO, Fernando. Agricultura Ilustrada. Liberalismo e escravidão nas origens da questão agrária brasileira. Campinas: Editora da Unicamp, 2001. MALTHUS, Thomas Robert. Princípios de economia política e considerações sobre sua aplicação prática. São Paulo: Nova Cultural, 1996. MARTINS, José de Souza. Reforma agrária: o impossível diálogo. São Paulo: EDUSP, 2000. MOTTA, Márcia (Org.). Dicionário da Terra. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005. SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Produzir para viver: os caminhos da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA675 |
Ecofisiologia da produção de sementes |
03 |
45h |
|
EMENTA |
|||
|
Definições e conceitos gerais sobre agroclimatologia, fisiologia e ecofisiologia; Aspectos gerais do cultivo de plantas para produção de sementes; Interações e respostas fisiológicas de plantas produtoras de sementes em relação aos fatores e elementos climáticos; o efeito das adversidades climáticas na produção de sementes; relação do ambiente de cultivo com a pós-colheita de sementes e o desempenho das sementes. Semente, plantabilidade, ecofisiologia do estabelecimento e desenvolvimento; Qualidade de sementes e deterioração em relação ao ambiente. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Apresentar aos acadêmicos as relações entre as variáveis ambientais e a produção de sementes, observando as interações e respostas fisiológicas de plantas produtoras de sementes em relação aos fatores e elementos climáticos. Bem como, relacionar fatores adversos climáticos à qualidade na produção de sementes. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AYOADE, I. Introdução à climatologia para os trópicos. Rio de Janeiro: Bertrand, Brasil, 1998. CASTRO, P. R. C.; KLUGE, R. A. Ecofisiologia de cultivos anuais. Nobel, 1999. 126 p. FLOSS, E. Fisiologia das Plantas Cultivadas. Passo Fundo: Editora da UPF, 2011. TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia Vegetal. Porto Alegre: Artmed. 5a ed. 2013. 820p. PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. Agrometeorologia - fundamentos e aplicações práticas. Livraria e Editora Agropecuária, 2002. 478 p. BERGAMASCHI, H.; BERGONCI, J. I.. As Plantas e o Clima: Princípios e Aplicações. 352p. 2017. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
PEREIRA, A. R.; ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C. Meteorologia Agrícola (LCE 306) – Apostila Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”. Universidade de São Paulo. Piracicaba, 2000. MONTEIRO, J.E.B.. Agrometeorologia dos cultivos: O fator meteorológico na produção agrícola. 530. 2009. MARIN, F.R.. Microclimatologia agrícola: introdução biofísica da relação planta-atmosfera. 263p. 2021. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA312 |
APICULTURA |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Biologia e ecologia das abelhas. Implementos e indumentárias agrícolas. Localização e instalação do apiário. Manipulação das colmeias. Criação e introdução de rainhas. Alimentação das abelhas. Produção e extração do mel. Produtos e subprodutos das abelhas. Manejo de abelhas silvestres. Abelhas e a legislação ambiental. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender os aspectos relacionados a produção apícola. Identificar os benefícios diretos ou indiretos da atividade apícola. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
COSTA, Paulo Sérgio Cavalcanti; OLIVEIRA, Marcos Orlando de. Apicultura migratória: produção intensiva de mel. Viçosa-MG: CPT, 2006. 148 p. ISBN 8576010259. PEGORARO, Adhemar. Técnicas para boas práticas apícolas. Curitiba: Layer Graf, 2007. 127 p. ISBN 9788590752608. VENTURIERI, Giorgini Augusto. Caracterização, colheita, conservação e embalagem de méis de abelhas indígenas sem ferrão. Belém: EMBRAPA Amazônia Oriental, 2007. 51 p. ISBN 9788587690715. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BOAVENTURA, Marcelino C.; DOS SANTOS, Guaracy Telles. Produção de abelha Rainha por Enxertia. 1. ed. Editora LK, 2006. 140 p. ISBN 858789014X. CAMARGO, R. C. R.; PEREIRA, J. O. Manual prático de criação de abelhas. Viçosa: Ed. Aprenda Fácil, 2005. 424 p. COSTA, Paulo Sérgio Cavalcanti; OLIVEIRA, Juliana Silva. Manual prático de criação de abelhas. Viçosa-MG: Aprenda Fácil, 2005. 424 p. ISBN 857630015X. EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL DE SANTA CATARINA. Curso profissionalizante de apicultura. Florianópolis: Epagri, 2005. 137 p. SILVA, Paulo Airton Macedo; INSTITUTO CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO (FORTALEZA-CE). Apicultura. 2. ed. rev. Fortaleza: Edições Demócrito Rocha, CENTEC, 2004. 56 p. ISBN 8575292811. WIESE, Helmut. Apicultura – Novos tempos. 2. ed. Florianópolis: Agro Livros, 2005. 378 p. ISBN 8598934011. WINSTON, M. L. A Biologia da Abelha (The Biology of Bee). 1. ed. 2003. 276 p. ISBN 8585275111 |
|||
Art. 3º Inserir o Art. 2º no Anexo IV – Regulamento de Aproveitamento por Equivalência de Componente Curricular no PPC 2010 do curso de Agronomia – Bacharelado do Campus Chapecó, com a seguinte redação:
Art. 2º Confere equivalência entre os componentes curriculares da Estrutura curricular 2010 do Curso de Agronomia – Bacharelado, com outros componentes ofertados na UFFS:
|
CCR da Estrutura Curricular 2010 – Curso de Agronomia |
Componentes curriculares ofertados na UFFS |
|||||
|
Código |
Componente Curricular |
Horas |
Código |
Componente Curricular |
Horas |
Curso |
|
GEX001 |
Matemática Instrumental |
60 |
GEX213 |
Matemática C |
60 |
Engenharia Ambiental |
|
GEX002 |
Introdução à informática |
60 |
GEX208 |
Informática Básica |
60 |
Filosofia |
|
GCS005 |
Desenho Técnico |
45 |
GCS225 |
Desenho Técnico |
60 |
Engenharia Ambiental |
|
GCH012 |
Fundamentos da Crítica Social |
60 |
GCH293 |
Introdução à Filosofia |
60 |
Administração |
Art. 4º Esta Resolução entra em vigência em 02 de maio de 2025.
Data do ato: Chapecó-SC, 03 de abril de 2025.
Data de publicação: 08 de abril de 2025.
Marco Aurelio Tramontin da Silva
Coordenador do Curso de Graduação em Agronomia do Campus Chapecó