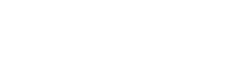RESOLUÇÃO Nº 10/CG EAQB LS/UFFS/2024
A Coordenação do Curso de Graduação em Engenha de Aquicultura - Bacharelado do Campus Laranjeiras do Sul , da Universidade Federal da Fronteira Sul – UFFS, no uso de suas atribuições legais, considerando a decisão do colegiado do curso, registrada ATA da 9a Reunião do Colegiado em Conjunto com a 5a Reunião de NDE de 05 de Dezembro de 2024,
RESOLVE:
Art. 1º Incluir Componente(s) Curricular(es) no item 8.2 Componentes curriculares optativos do PPC 2010 do Curso de Graduação em Engenharia de Aquicultura - Bacharelado, conforme quadro abaixo:
|
Curso de graduação em Engenharia de Aquicultura – Bacharelado - Campus Laranjeiras do Sul/PR |
Total de Horas |
||
|
Nº |
Código |
Componente Curricular |
|
|
95 |
GCS0749 |
Inovação e empreendedorismo |
30 |
|
96 |
GEN0373 |
Engenharia ambiental |
45 |
|
97 |
GCA0798 |
Tecnologia de frutas e hortaliças |
45 |
|
98 |
GCA015 |
Embalagem de alimentos |
45 |
|
99 |
GCB057 |
Ecologia agrícola |
45 |
|
100 |
GCA618 |
Agrotoxicologia |
45 |
|
101 |
GCA632 |
Fundamentos de zootecnia |
45 |
|
102 |
GCB337 |
Invertebrados I |
60 |
|
103 |
GCB421 |
Algas e fungos |
60 |
|
104 |
GCB450 |
Ecologia de comunidades e ecossistemas |
60 |
|
105 |
GCB433 |
Evolução |
30 |
|
106 |
GCH1633 |
Estudos de gênero |
60 |
|
107 |
GLA210 |
Língua brasileira de sinais (Libras) |
60 |
|
108 |
GCS655 |
Estudos pós-coloniais e decoloniais |
30 |
|
109 |
GCH1639 |
Sociologia do trabalho |
30 |
|
110 |
GCH1640 |
Cultura comunicação e sociedade |
30 |
Art. 2º Os Componentes Curriculares elencados no Art 1º possuem os seguintes quadros de ementários:
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Horas |
|
|
GEN0373 |
ENGENHARIA AMBIENTAL |
45 |
|
|
EMENTA |
|||
|
Noções de direitos humanos e meio ambiente. Ecologia. Classificação de águas e rios. Legislação ambiental no Brasil e no mundo. Caracterização de águas residuárias da indústria de alimentos. Tratamento de efluentes. Tratamento de resíduos sólidos. Análises, limites e controles de poluentes atmosféricos. Reuso, redução, reciclagem de materiais. Noções de gestão ambiental. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Desenvolver o conhecimento sobre as consequências ambientais ocasionadas pela indústria de alimentos, e como diminuir os impactos negativos e aumentar os impactos positivos sobre o meio ambiente e a sociedade. Fornecer ao aluno um conhecimento básico de gestão e legislação ambiental. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ANDREOLI, Cleverson Vitório; SPERLING, Marcos von; FERNANDES, Fernando (ed.). Lodo de esgotos: tratamento e disposição final. 2. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2014. (Princípios do tratamento biológico de águas residuárias; 6). BRAGA, Benedito et al. Introdução à engenharia ambiental. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos. Reatores anaeróbios. 2. ed. ampl. e atual. Belo Horizonte: UFMG, 2010. (Princípios do tratamento biológico de águas residuárias; 5). CURI, Denise. Gestão ambiental. São Paulo: Pearson, 2011. DEZOTTI, Márcia. Processos e técnicas para o controle ambiental de efluentes líquidos. Rio de Janeiro: E-papers, 2008. VON SPERLING, Marcos. Lagoas de estabilização. 3. ed. ampl. Belo Horizonte: UFMG, 2017. (Princípios do tratamento biológico de águas residuárias; 3). |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BRASIL. Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Brasíla, DF: Presidência da República, 2010. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 19 jul. 2023. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 518 de 25 de março de 2004. Brasília, DF: Editora do Ministério da Saúde, 2005. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/portaria_518_2004.pdf. Acesso em: 19 jul. 2023. BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras providências. Disponível em: https://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/ccr4/dados-da-atuacao/projetos/qualidade-da-agua/legislacao/resolucoes/resolucao-conama-no-357-de-17-de-marco-de-2005/view#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20classifica%C3%A7%C3%A3o%20dos,efluentes%2C%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias. Acesso em: 19 jul. 2023. GRIFFIN, Roger D. Principles of air quality management. Boca Raton: CRC, c2007. MANO, Eloisa Biasotto,; PACHECO, Élen B. A. V.; BONELLI, Cláudia M. C. Meio ambiente, poluição e reciclagem. 2. ed. São Paulo: Blücher, 2010. MATTOS NETO, A. J. de. Direitos humanos e democracia inclusiva. São Paulo, SP: Saraiva, 2012. TELLES, Dirceu D'Alkmin. Resíduos sólidos: gestão responsável e sustentável. São Paulo, SP: Blucher, c2022. |
|||
|
Número de unidades de avaliação |
2 |
||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Horas |
|
|
GCA0798 |
TECNOLOGIA DE FRUTAS E HORTALIÇAS |
45 |
|
|
EMENTA |
|||
|
Aspectos da natureza, composição e recepção de matéria-prima, limpeza e seleção. Conservação e geração de produtos, visando à qualidade nutricional e a maximização na utilização de frutas e hortaliças. Armazenagem desde as matérias primas in natura até produto final. Controle da qualidade. Produtos industrializados. Equipamentos e tecnologias para o processamento mínimo, aumento da vida útil e desenvolvimento de novos produtos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer e executar os processos de obtenção de matéria-prima higiênica, conservação e industrialização de frutas e hortaliças. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
EVANGELISTA, José. Tecnologia de alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 2008. FELLOWS, P. J. Tecnologia do processamento de alimentos: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. GAVA, Altanir Jaime; SILVA, Carlos Alberto Bento da; FRIAS, Jenifer Ribeiro Gava. Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações. São Paulo: Nobel, 2009. OETTERER, Marília; REGITANO-D'ARCE, Marisa Aparecida Bismara; SPOTO, Marta Helena Fillet. Fundamentos de ciência e tecnologia de alimentos. Barueri: Manole, 2006. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
VENTURINI FILHO, Waldemar Gastoni (coord.). Bebidas alcoólicas: ciência e tecnologia. São Paulo, SP: Blucher, 2010. (Bebidas; 1). VENTURINI FILHO, Waldemar Gastoni (coord.). Bebidas não alcoólicas: ciência e tecnologia: São Paulo, SP: Blucher, 2010. (Bebidas; 2). |
|||
|
Número de unidades de avaliação |
2 |
||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB057 |
ECOLOGIA AGRÍCOLA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceitos de ecologia agrícola. Diferenças entre ecossistemas naturais e agroecossistemas. Interações entre o ambiente e os organismos do sistema de produção. Zoneamento e adaptação de organismos em sistemas de produção. Conceito de produtividade. Ecologia de populações em sistemas de produção. Ecologia aplicada a produção agropecuária. Fatores limitantes bióticos e abióticos em agroecossistemas. Introdução aos efeitos das mudanças climáticas nos sistemas produtivos. Introdução ao controle biológico. Repercussão ecológica e agronômica dos manejos do agroecossistema. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Aplicar o conhecimento construído na disciplina de Introdução à Ecologia para agroecossistemas. Compreender as técnicas agrícolas desenvolvidas a partir de conceitos ecológicos. Conhecer os fundamentos de ecologia que permitem a construção de sistemas de produção sustentáveis. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALTIERI, M. A. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 5. ed. Porto Alegre: UFRGS, 1998. 117 p. ALTIERI, M. A. Agroecologia: as bases científicas da agricultura sustentável. Rio de Janeiro: ASPTA, 1989. 240 p. CONNOR, D. J.; LOOMIS, R. S.; CASSMAN, K. G. Cropecology. 2. ed. New York: Cambridge University Press, 2011. 556 p. GLIESSSMAN, S. R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre: UFRGS, 2000. LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos: Rima, 2000. 529 p. ODUM, E. P.; BARRET, G. Fundamentos de ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage, 2011. 611 p. VANDERMEER, J. H. The ecology of agroecosystems. Sudburry: Jones and Bartley Publishers, 2011. 386 p. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES. |
|||
|
ALTIERI, M. A.; SILVA, E. N.; NICHOLLS, C. I. O papel da biodiversidade no manejo de pragas. Ribeirão Preto: Holos, 2003. 226 p. BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo. 6. ed. São Paulo: Ícone, 2008. 335 p. BOSCH, R.; MESSENGER, P. S.; GUTIERREZ, A. P. An introduction to biological control. New York: Plenum Press, 1985. 247 p. FRANCISCO NETO, J. Manual de horticultura ecológica. São Paulo: Nobel, 2002. 141 p. CASTRO, P. R.; KLUGE, R. K. Ecofisiologia de cultivos anuais: trigo, milho, soja, arroz e mandioca. São Paulo: Nobel, 1999. 126 p. GLIESSMAN, S. R. Field and laboratory investigations in agroecology. 2. edição. Boca Raton: CRC Press, 2007. 302 p. MILLER JR, G. T. Ciência ambiental. 11. ed. São Paulo: Cengage, 2012. 501 p. MONEGAT, C. Plantas de cobertura do solo: características e manejo em pequenas propriedades. Chapecó: Edição do autor, 1991. MOREIRA, F. M.; SIQUEIRA, J. O. Microbiologia e bioquímica do solo. 2. ed. Lavras: UFLA, 2006. 729 p. NEWTON, P. C.; CARRAN, R. A.; EDWARDS, G.; NIKLAUS, P. A. Agroecosystems in a changing climate. Boca Raton: CRC Press, 2007. 364 p. PRIMAVESI. A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. São Paulo: Nobel, 2010. 549 p. STADNIK, M. J.; TALAMINI, V. Manejo ecológico de doenças de plantas. Florianópolis: UFSC 2004. 293 p. VIDAL, R. Interações positivas entre plantas que aumentam a produtividade agrícola. Porto Alegre: Evangraf, 2014. 174 p. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA618 |
AGROTOXICOLOGIA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceitos gerais de toxicologia. Princípios de Toxicocinética e toxicodinâmica (animais e vegetais). Reações de biotransformação (fases I e II) em animais. Avaliação toxicológica. Classes dos agentes tóxicos e mecanismos de ação. Toxicologia ambiental: bioconcentração e biomagnificação. Toxicologia dos agrotóxicos. Aspectos toxicológicos de animais peçonhentos e plantas tóxicas |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Entender os principais mecanismos da toxicidade provocados por metais, produtos químicos ou misturas de substâncias antropogênicas; por animais peçonhentos e plantas tóxicas.. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
AZEVEDO, F. A de; CHASIN, A. A. da M. As bases toxicológicas da ecotoxicologia. São Carlos, SP: RiMa, 2006. 340p. ESPÍNDOLA, E. L. G. et al. Ecotoxicologia – Perspectivas para o século XXI. São Carlos: RiMa, 2001. 564 p. SILVA, C. M. M. de S.; FAY, E. F. (Ed.). Agrotóxicos e ambiente. Jaguariúna: Embrapa Meio ambiente; Brasília-DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 400p. OGA, S.; CAMARGO, M. M. A.; BATISTUZZO, J. A. O. Fundamentos de Toxicologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu 2014. 704p. MAN, M. C. Fundamentals of ecotoxicology: The Science of pollution. CRC Press, quarta edição, 2014. ISBN-10: 1466582294 |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES. |
|||
|
ALMEIDA, P. J. Intoxicação por agrotóxicos. São Paulo: Andrei, 2002. 165p. CARNEIRO, F. F. et al. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre os impactos dos agrotóxicos na saúde. 2015. KRIEGER, R. Handbook of pesticide toxicology. 3 ed. Academic Press, 2010. 2000 p. vol.2. SILVA JÚNIOR, D. F. Legislação federal: agrotóxicos e afins. São Paulo: INDAX, 2003. 392p. KAREN, S.; BROWN, T. M. Principles of toxicology. 2. ed. CRC Press, , 2006. ISBN: 9780849328565 KLAASSEN, C. D.; WATKINS III, I. B. Fundamentos em toxicologia. Porto Alegre: AMGH, 2012. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCA632 |
FUNDAMENTOS DE ZOOTECNIA |
3 |
45 |
|
EMENTA |
|||
|
Introdução à zootecnia. Origem e domesticação das espécies de interesse zootécnico. Taxonomia zootécnica. Funções econômicas das espécies zootécnicas. Exterior dos animais domésticos (Ezoognósia). Cronometria dentária. Noções de bioclimatologia. Princípios de melhoramento animal. Princípios do bem-estar animal. Anatomia e fisiologia do sistema reprodutivo dos animais domésticos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer a zootecnia como campo científico. Debater os elementos que compõem os sistemas de produção animal, permitindo o entendimento e a relação das áreas zootécnicas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
CUNNIGHAM, J.G. Tratado de fisiologia veterinária. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. DUKES, H. H.; REECE, W. O. Fisiologia dos animais domésticos. 12. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. PEREIRA, J. C. C. Fundamentos de bioclimatologia aplicados à produção animal. Belo Horizonte: FEP-MVZ, 2010. 195 p. PEREIRA, J. C. C. Melhoramento Genético Aplicado à Produção Animal. 6.ed. Belo Horizonte: FEP-MVZ, 2012. REECE, W. O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. 3. ed. São Paulo: Roca, 2008. SISSON, S.; GROSSMAN, J.D.; GETTY, R. Anatomia animais domésticos. 5. ed. Guanabara Koogan, 2008. v. 1 e 2. TORRES, A. P.; JARDIM, W. R.; JARDIM, F. L. Manual de Zootecnia – Raças que interessam ao Brasil. São Paulo: Agronômica Ceres, 1982. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES. |
|||
|
FERREIRA, R. A. Maior produção com melhor ambiente. Para Aves, Suínos e Bovinos. Viçosa-SP: Aprenda Fácil, 2005. 377 p. MULLER, P. B. Bioclimatologia Aplicada aos Animais Domésticos. Porto Alegre: Sulina, 2001. TORRES, G. C. V. Bases para o estudo da Zootecnia. Salvador: Centro Editorial e Didático da UFBA; Pelotas-RS: UFPel, 2002. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB337 |
INVERTEBRADOS I |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Estudo morfofisiológico e sistemático de protozoários, parazoários (esponjas), mesozoários (cnidários e ctenóforos) e metazoários (vermes e moluscos). Introdução à filogenia animal, evolução e autoecologia dos principais representantes de cada Filo. Importância ecológica, econômica e sanitária. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos a respeito da diversidade morfológica/adaptativa, fisiologia e comportamento dos invertebrados conhecidos como protozoários, esponjas, cnidários, ctenóforos; vermes e moluscos, destacando sua importância ecológica, econômica e sanitária. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BRUSCA; R. C; BRUSCA, G. J. Invertebrados. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. NEVES, D. P. Parasitologia humana. 11. ed. São Paulo: Atheneu, 2005. RUPPERT, E. E.; FOX, R. S.; BARNES, R. D. Zoologia dos invertebrados: uma abordagem funcional evolutiva. 7. ed. São Paulo: Roca, 2003. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
FRANSOZO, A.; NEGREIROS-FRANSOZO, M. L. Zoologia dos Invertebrados. São Paulo: Roca, 2016. HICKMAN Jr. et al. Princípios integrados de zoologia. 16. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016. PAPAVERO, N. Fundamentos práticos de taxonomia zoológica. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 2004. STORER, T. I. et al. Zoologia geral. 6. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2000. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB421 |
ALGAS E FUNGOS |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Morfologia, taxonomia, fisiologia e aspectos ecológicos, econômicos e evolutivos de algas e fungos. Espécies com importância ecológica e/ ou econômica. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Desenvolver a capacidade de identificar as características morfológicas distintivas de algas e fungos. Conhecer as transformações evolutivas nas estruturas desses organismos e permitir o entendimento da evolução do sistema reprodutivo, dos ciclos de vida e da morfologia. Reconhecer os principais táxons destes grupos através de seus atributos morfológicos. Reconhecer a importância ecológica e econômica dos diferentes grupos e utilizar chaves dicotômicas para determinação dos principais táxons de interesse ecológico e/ou econômico no Brasil. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ALFENAS, A. C.; MAFIA, G. Métodos em fitopatologia. Viçosa, MG: UFV, 2007. BICUDO, C. E. M.; MENEZES, M. Gênero de algas de águas continentais do Brasil: chave para identificação e descrição. 2. ed. São Carlos, SP: Rima, 2006. ESPOSITO, E.; AZEVEDO, J. L. Fungos: uma introdução à biologia, bioquímica e biotecnologia. 2. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2010. FRANCESCHINI, I. M. Algas: uma abordagem filogenética, taxonômica e ecológica. Porto Alegre: Artmed, 2010. GRAHAM, L. E; WILCOX, L. W; GRAHAM, J. M. Algae. 2. ed. San Francisco: Pearson/Benjamin Cummings, 2009. JUDD, W. S. et al. Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. 3. ed. Porto Alegre, RS: Artmed, 2009. RIBEIRO, M. C.; STELATO, M. M. Microbiologia prática: aplicações de aprendizagem de microbiologia básica - bactérias, fungos e vírus. 2. ed. São Paulo, SP: Atheneu, 2011. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
BICUDO, C. E. M.; MENEZES, M. Gêneros de Algas de Águas Continentais no Brasil. Editora RIMA, 2018.NEVES, M. A. et al. Guide to the common fungi of the semiarid region of Brazil. Florianópolis: TECC, 2013. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB450 |
ECOLOGIA DE COMUNIDADES E ECOSSISTEMAS |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Conceito de ecossistema e comunidade. Principais biomas e ecossistemas. Componentes estruturais e funcionais. Nicho ecológico. Fluxo de energia. Produtividade nos ecossistemas e ciclos biogeoquímicos. Descrição de comunidades. Sucessão ecológica. Influência da competição, predação e perturbação na estrutura de comunidades. Complexidade e estabilidade de comunidades. Padrões de diversidade. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer os principais biomas e ecossistemas, com destaque às formações existentes no território nacional, a fim de compreender a estrutura de comunidades com ênfase na ciclagem de nutriente e o fluxo de energia, bem como as interações entre as espécies em um ecossistema. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BEGON, M.; HARPER, J. L.; TOWNSEND, C. R. Ecology: Individuals, populations and communities. 3. ed. Oxford: Blackwell Science Ltd., 1996. BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de Indivíduos à Ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. ODUM, E. P. Ecologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Ed. Interamericana, 2009. RICKLEFS, R. E. A economia da natureza. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010. TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em Ecologia. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
COLINVAUX, P. Ecology. New York: John Wiley, 1989. MARGALEF, R. 6. ed. Ecología. Barcelona: Ed. Omega, 1989. PIANKA, E. R. Evolutionary ecology. 4. ed. New York: Harper & Row, 1988. RICKLEFS, R. E.; SCHLUTER, D. Species diversity in ecological communities. Chicago: The University of Chicago Press, 1993. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCB433 |
EVOLUÇÃO |
02 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
História do pensamento evolutivo e Neodarwinismo; Mecanismos evolutivos: mutação, migração e panmixia; Deriva genética, fluxo gênico e seleção natural; Processos evolutivos: adaptação, extinção e especiação; Biogeografia, isolamento geográfico e reprodutivo; Equilíbrio de Hardy-Weinberg; Coevolução e interação entre espécies; Evidências de evolução; Evolução humana. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender a origem da vida, a diversificação dos seres vivos e as principais teorias evolutivas. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
FREEMAN, S; HERRON, J. C. Análise Evolutiva. 4. ed. Porto Alegre: Editora ARTMED, 2009. FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. 3. ed. São Paulo: FUNPEC, 2009. RIDLEY, M. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Editora ARTMED, 2006. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
LEWIN, R. Evolução Humana. São Paulo: Editora Atheneu. 1999. STEARNS, S. C.; HOEKSTRA, R. F. Evolução: uma Introdução. São Paulo: Editora Atheneu. 2003. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCH1633 |
ESTUDOS DE GÊNERO |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Teorias feministas e relações de gênero. Gênero como categoria de análise política. A construção social de gênero. Imbricações entre espaço público e privado na perspectiva feminista. Igualdade e diferença na construção da cidadania. Gênero, cidadania e democracia radical. Políticas públicas e direitos humanos. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Compreender o gênero como elemento constitutivo do poder, a partir do entendimento da construção do espaço público. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ADELMAN, Miriam. A voz e a escuta: encontros e desencontros entre a teoria feminista e a sociologia contemporânea. São Paulo: Blucher, 2009. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1977. v. 1 LOURO, Guacira Lopes. Gênero, sexualidade e educação: uma perspectiva pós-estruturalista. [15. ed.]. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013. NEVES, Delma Pessanha; MEDEIROS, Leonilde (Org.). Mulheres camponesas: trabalho produtivo e engajamentos políticos. Niterói, RJ: Alternativa, 2013. POLI, Maria Cristina. Feminino/masculino: a diferença sexual em psicanálise. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES. |
|||
|
BOFF, Salete Oro, (Org.). Gênero: discriminações e reconhecimento. Passo Fundo, RS: IMED, 2011. FAISTING, André Luiz; FARIAS, Marisa de Fátima Lomba de, (Org.). Direitos humanos, diversidade e movimentos sociais: um diálogo necessário. Dourados, MS: Ed. UFGD, 2011. JORGE, Marco Antonio Coutinho. Freud, criador da psicanálise. 2. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. LOPES, Adriana L.; ZARZAR, Andrea Butto (Org.). Mulheres na reforma agrária: a experiência recente no Brasil. Brasília: MDA, 2008. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GLA210 |
LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS) |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Visão contemporânea da inclusão na área da surdez e legislação brasileira. Cultura e identidade da pessoa surda. Tecnologias voltadas para a surdez. História da Língua Brasileira de Sinais. Breve introdução aos aspectos clínicos e socioantropológicos da surdez. Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais. Diálogo e conversação. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer a Língua brasileira de sinais (Libras) a fim de instrumentalizar para atuação profissional inclusiva. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
BRASIL. Decreto 5.626/05. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Brasília, 2005. QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: Artmed, 2004. QUADROS, Ronice Muller de. Educação de surdos. A Aquisição da Linguagem. Porto Alegre: Editora Artmed, 1997. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES. |
|||
|
BRASIL. Lei nº 12.319, de 1º de setembro de 2010 – regulamenta a profissão de tradutor e intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Brasília, 2010. BRITO, Lucinda Ferreira. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1995. CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte; MAURICIO, Aline Cristina (Ed). Novo Deit-Libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da língua de sinais brasileira baseado em Linguística e Neurociências cognitivas. São Paulo: EDUSP: Inep, CNPq, CAPES, 2012. FERNANDES, Sueli. Avaliação em língua portuguesa para alunos surdos: algumas considerações. Curitiba: SEED/SUED/DEE, 2007. FERNANDES, Sueli. Educação de Surdos. Curitiba: Editora InterSaberes, 1ª edição, 2013. GESSER, Audrei. LIBRAS, Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola Editorial, 2009. LACERDA, Cristina. Broglia Feitosa; SANTOS, Lara Ferreira (Org) Tenho um aluno surdo, e agora? Introdução à Libras e educação de surdos. São Carlos: EdUFSCar, 2013. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCS655 |
ESTUDOS PÓS-COLONIAIS E DECOLONIAIS |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
As perspectivas pós-coloniais e decoloniais na Antropologia. Antropologias do Sul. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Apresentar o debate pós-colonial e decolonial no campo antropológico e discutir as antropologias produzidas a partir de outros lugares de poder teórico. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
SAID, E. W. Orientalismo - O Oriente como Invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. HALL, Stuart. Da Diáspora. Identidades e Mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2011. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES. |
|||
|
BALLESTRIN, Luciana. América Latina e o giro decolonial. Rev. Bras. Ciênc. Polít. [online]. 2013, n.11, pp.89-117. Disponível em http://periodicos.unb.br/index.php/rbcp/article/view/2069. Acesso 04/10/2019. MIGLIEVICH-RIBEIRO, Adélia. Por uma razão decolonial. Desafio ético-político-epistemológicos à cosmovisão moderna. Dossiê: Diálogos do Sul. Civitas, Porto Alegre, v. 14, n. 1, p. 66-80, jan.-abr. 2014. Disponível em http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/view/16181. Acesso em 04/10/2019. ABU-LUGHOD, Lila. “As mulheres muçulmanas precisam realmente de salvação?” Reflexões antropológicas sobre relativismo cultural e seus Outros”. Revista de Estudos Feministas 20(2). Disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2012000200006. Acesso em 04/10/2019. SMITH, Andrea Cherokee. A violência sexual como uma ferramenta de genocídio. Espaço Ameríndio, Porto Alegre, v. 8, n. 1, p. 195-230, jan./jun. 2014. Disponível em https://seer.ufrgs.br/EspacoAmerindio/article/view/47357. Acesso em 04/10/2019. RIBEIRO, Gustavo Lins. 2006. Antropologias Mundiais: para um novo cenário global na antropologia. Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 21, n. 60, p. 147-185. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092006000100009&lng=es&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em 04/10/2019. KRENAK, Ailton. 1999. O eterno retorno do encontro. In: NOVAES, Adauto (org.) A Outra Margem do Ocidente. São Paulo: MInc-FUNARTE/Cia das Letras. STOLKE, Verena. O enigma das interseções: classe, ”raça”, sexo, sexualidade. A formação dos impérios transatlânticos do século XVI ao XIX. Estudos Feministas, Florianópolis, v. 14, n. 1, p. 15, jan. 2006. ISSN 1806-9584. Disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/ref/article/view/S0104-026X2006000100003. Acesso em 04/10/2019. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCH1639 |
SOCIOLOGIA DO TRABALHO |
2 |
30 |
|
EMENTA |
|||
|
Trabalho como categoria de análise sociológica. Sociologia clássica e a temática do trabalho. Especificidade dos conceitos de trabalho, emprego e atividade. Formas de organização do processo de trabalho: taylorismo, fordismo e toyotismo. O debate sobre os novos contornos do mercado de trabalho: informalidade, terceirização e precarização do trabalho. Trabalho na contemporaneidade: globalização, acumulação flexível e informacionalismo. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Conhecer os debates fundamentais da Sociologia do Trabalho e suas repercussões na contemporaneidade. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
ANTUNES, Ricardo L. C. Adeus ao trabalho? ensaio sobre as metamorfoses e a centralidade do mundo do trabalho. 16. ed. São Paulo: Cortez, 2015. HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 22. ed. São Paulo: Loyola, 2012. MARX, Karl. O capital: crítica da economia política : livro terceiro : o processo global de produção capitalista. 4. ed. Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 2017. SANTANA, Marco Aurélio. Sociologia do trabalho no mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Zahar, 2004. |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES. |
|||
|
ANTUNES, Ricardo L. C. O caracol e a sua concha: ensaios sobre a nova morfologia do trabalho. São Paulo, SP: Boitempo, 2005. ANTUNES, Ricardo L. C. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 2. ed. São Paulo: Boitempo, 2009. BORJAS, George J. Economia do trabalho. 5. ed. Porto Alegre, RS: McGraw-Hill: Bookman, 2012. MARX, Karl. Teorias da mais-valia: história crítica do pensamento econômico (Livro 4 de O Capital). Rio de Janeiro, RJ: Civilização Brasileira, 1980. RODRIGUES, Fabiana C.; NOVAES, Henrique T.; BATISTA, Eraldo Leme (Org.). Movimentos sociais, trabalho associado e educação para além do capital. 2. ed. São Paulo, SP: Outras Expressões, 2015. |
|||
|
Código |
COMPONENTE CURRICULAR |
Créditos |
Horas |
|
GCH1640 |
CULTURA, COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE |
04 |
60 |
|
EMENTA |
|||
|
Cultura e mercantilização. Meios de comunicação: técnica e poder midiático na história moderna. A mídia como partido político. Mídia empresarial e democracia: poder, consenso e dissenso. Expansão tecnológica digital, comunicação móvel e redes sociais. |
|||
|
OBJETIVO |
|||
|
Entender os mecanismos de poder e influência dos meios de comunicação, redes sociais e expansão tecnológica digital nos diversos campos da sociedade. |
|||
|
REFERÊNCIAS BÁSICAS |
|||
|
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. 1 Ed., Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 1997. P. 238, ISBN 85-85910-17-8. MORAES, Dênis de. Crítica da mídia & hegemonia cultural. 1. Ed., Rio de Janeiro: Editora Mauad X, Faperj, 2016, 296 p., ISBN 978-85-7478-789-3. WILLIAMS, Raymond. Televisão. Tecnologia e forma cultural. 1 ed. São Paulo: Boitempo Editorial; Belo Horizonte: PUC Minas, 2016, 190 p., ISBN: 987-85-7559-504-6 (Boitempo); 987-85-8229-039-2 (PUC-Minas) |
|||
|
REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES |
|||
|
BOURDIEU, Pierre. Sobre a televisão. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. 143 p., ISBN 978-85-7110-411-2. KITTLER, Friedrich. A verdade do mundo técnico. Ensaios sobre a genealogia da atualidade. 1 ed., Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 2017. 560 p., ISBN (978-85-78661-25-0 MORAES, Dênis de (Org.). Poder midiático e disputas ideológicas. 1. Ed., Rio de Janeiro: Editora Consequência, 2019. 136 p., ISBN 978-85-69437-58-1 MORAES, Dênis de; RAMONET, Ignacio; SERRANO, Pascoal. Mídia, poder e contrapoder: da concentração monopólica à democratização da informação. São Paulo: Boitempo Editora; Rio de Janeiro: FAPERJ, 2013, 183 p., ISBN 978-85-7559318-9 SILVA, Carla Luciana; RAUTENBERG, Edina (Orgs.). História e imprensa: estudos de hegemonia. Porto Alegre: FCM Editora, 2014, 248 p., ISBN 978.85.67542.09.6. SILVEIRA, Sérgio Amadeu da; BRAGA, Sérgio; PENTEADO, Cláudio (orgs). Cultura, política e ativismo nas redes sociais, São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2014, 342 p., ISBN 978-85-7643-213-5. |
|||
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, tendo em vista o disposto no parágrafo único do Art. 18º do Decreto no 12.002/2024.
Data do ato: Laranjeiras do Sul-PR, 05 de dezembro de 2024.
Data de publicação: 05 de agosto de 2025.
Maude Regina de Borba
Coordenador do Curso de Graduação em Engenharia de Aquicultura do Campus Laranjeiras do Sul